Relação com as águas (de córregos brasileiros a rios alemães)
 Nasci no município de Bebedouro, no estado de São Paulo. Diz o dicionário: be.be.dou.ro, substantivo masculino. 1- Lugar, recipiente, vasilha etc., em que os animais bebem água. 2- Aparelho com água encanada, munido de torneira que jorra para cima, da qual se aproxima a boca para beber. Desde cedo, alguma relação com a água. Mas trata-se de uma cidade pequena, as proporções das coisas são menores. Se grandes cidades cresceram às margens de rios longos, serpenteando por vários países, cortando continentes, a vila de Bebedouro cresceu às margens de um córrego, o antigo córrego Bebedor. Ali paravam os tropeiros e peões de boiadeiro para dar de beber ao gado, pernoitar. Ali muita capivara foi caçada. Mas isso foi há décadas, um século. Em algum momento, um esperto teve a ideia de represar o córrego, formando hoje o que nós bebedourenses todos chamamos simplesmente de “O Lago”, menos lago que açude, talvez. Onde você mora? Perto do lago. O que você vai fazer hoje? Caminhar pelo lago. O lago centra a cidade. Mas capivaras não há mais. Apenas umas garças solitárias por vezes aparecem, e, quando criança, lembro-me daquela invasão ensurdecedora de andorinhas. Esta foi uma das minhas primeiras experiências estéticas quando pequeno: ficar ali, perto da comporta que represa o córrego, vendo aquele sobrevoar louco de andorinhas pela superfície do lago. Afinal, o município já foi a vila de São João Batista da Bela Vista de Bebedor. O Batista, o das águas. A primeira catástrofe natural que presenciei foi a grande enchente de 1983. Grande, para nossas proporções de gente pequena. As comportas foram abertas, a região do lago ficou intransponível, o museu de carros e aviões antigos da família Matarazzo, danificado, acabou fechado por anos.
Nasci no município de Bebedouro, no estado de São Paulo. Diz o dicionário: be.be.dou.ro, substantivo masculino. 1- Lugar, recipiente, vasilha etc., em que os animais bebem água. 2- Aparelho com água encanada, munido de torneira que jorra para cima, da qual se aproxima a boca para beber. Desde cedo, alguma relação com a água. Mas trata-se de uma cidade pequena, as proporções das coisas são menores. Se grandes cidades cresceram às margens de rios longos, serpenteando por vários países, cortando continentes, a vila de Bebedouro cresceu às margens de um córrego, o antigo córrego Bebedor. Ali paravam os tropeiros e peões de boiadeiro para dar de beber ao gado, pernoitar. Ali muita capivara foi caçada. Mas isso foi há décadas, um século. Em algum momento, um esperto teve a ideia de represar o córrego, formando hoje o que nós bebedourenses todos chamamos simplesmente de “O Lago”, menos lago que açude, talvez. Onde você mora? Perto do lago. O que você vai fazer hoje? Caminhar pelo lago. O lago centra a cidade. Mas capivaras não há mais. Apenas umas garças solitárias por vezes aparecem, e, quando criança, lembro-me daquela invasão ensurdecedora de andorinhas. Esta foi uma das minhas primeiras experiências estéticas quando pequeno: ficar ali, perto da comporta que represa o córrego, vendo aquele sobrevoar louco de andorinhas pela superfície do lago. Afinal, o município já foi a vila de São João Batista da Bela Vista de Bebedor. O Batista, o das águas. A primeira catástrofe natural que presenciei foi a grande enchente de 1983. Grande, para nossas proporções de gente pequena. As comportas foram abertas, a região do lago ficou intransponível, o museu de carros e aviões antigos da família Matarazzo, danificado, acabou fechado por anos.
Com 17 anos, fui estudar nos Estados Unidos, graças a uma bolsa de estudos. Acabei hospedado por uma família sem filhos em Shreveport, na Louisiana. Cortava a cidade o Red River of the South, o Rio Vermelho do Sul, outro desconhecido, mas que é tributário de nada menos que o Mississippi, o mítico, e ainda do Rio Atchafalaya. Mudei-me para São Paulo com 19 anos. Que águas tem São Paulo? O Tietê, pobre esgoto. O córrego Bebedor tem mais dignidade. Nem Mário de Andrade conseguiu dar ao Tietê algum lustro poético. “É noite. E tudo é noite. Debaixo do arco admirável / Da Ponte das Bandeiras o rio / Murmura num banzeiro de água pesada e oliosa,” como escreveu em seu “Meditação sobre o Tietê.” Ah, como eu queria que fosse melhor este poema. Talvez houvesse salvado o rio ao menos na memória. Não, o verdadeiro rio dos paulistanos é o Anhangabaú, aquele ribeirão canalizado. Seu vale é uma calçada. Parece-me apropriado, agora que veio o que eufemisticamente se vem chamando de “crise hídrica”, uma cidade de 20 milhões de habitantes à beira da morte por sede. Geraldo Alckmin sempre teve algo de Mad Max.
Nem carioca nem soteropolitano, nem Baía de Guanabara nem a de Todos os Santos. Não cresci às margens do mítico São Francisco (também secando), nem do Amazonas. E ao mudar-me para Berlim, fui dar às margens desse outro rio desviado, canalizado, anônimo. Pobre Spree. Que nome é esse? Gosto dele, mas não sou dos que se apinham no Parque Monbijou durante os verões berlinenses para a cerveja às suas margens de concreto. Rio alemão famoso é o Reno, claro. O grande Reno, o Rhein, símbolo do nacionalismo romântico alemão. Mítico e literário como o nosso Velho Chico. Cantado por poetas gigantesco como Heinrich Heine, “Eu não sei como explicar / Porque ando triste à beça; / Uma história de ninar / Não me sai mais da cabeça. // Dia ameno, a noite cai / Sobre o Reno devagar; / Na montanha, a luz se esvai / Faiscando pelo ar”, na tradução de André Vallias para um dos poemas mais famosos do alemão. Mas o Reno é distante das cidades alemães onde vivi. É um rio literário, para mim. Sua importância em minha mitologia pessoal é alimentar o Lago de Constança, na fronteira tríplice-germânica da Alemanha, Áustria e Suíça, o Lago de Constança, às margens do qual nasceu uma criatura que me trouxe delícia e desgosto.
Sempre achei impressionante o Elba, no norte do país, às margens do qual cresceu a cidade portuária de Hamburgo. Chega a assustar, ver aqueles navios enormes atravessando o rio, cidade adentro. Hamburgo se agarra a ele, é como se crescesse da lama do rio, se alimentasse dela. E foi o rio que fez de Hamburgo uma das cidades mais importantes e ricas da Alemanha.
Mas, aqui, ao fim deste texto, chego ao rio alemão pelo qual tenho especial carinho. Escrevo este texto enquanto da janela vejo correr o Main, aquele que chamamos de Meno em nossa língua, o rio que corta Frankfurt, onde estou, Frankfurt am Main. Ou, Francoforte no Meno. Gosto deste hábito de nomear a cidade com o rio que a corta. Como se disséssemos São Paulo do Tietê e Manaus do Amazonas, ali onde o Negro e o Solimões se encontram. Ao longo do Meno, o caminho para os andarilhos, os museus. Talvez eu goste tanto de Frankfurt apenas por ter aqui amigos especiais, como o músico alemão Markus Nikolaus, com quem colaboro. A cidade tem má fama, sendo centro comercial e financeiro do país. É cara. Engravatados por todos os lados, aqui também a “deselegância discreta de tuas meninas” e a “força da grana que ergue e destrói coisas belas”, mas talvez seja isto que também faz dos jovens aqui alguns dos mais relaxados que já conheci no país, pois resistem ao que veem em seu redor desprezando tanto a força da grana como a deselegância discreta. E é aqui, desta janela às margens do Meno, que mando aos amigos do Bebedor, do Tietê, do Amazonas, da Guanabara e do Abaeté esse texto em forma de cartão-postal. Em um poema sobre Murilo Mendes, João Cabral de Melo Neto conta uma anedota sobre o poeta de Juiz de Fora:
Murilo Mendes e os rios
Murilo Mendes, cada vez que
de carro cruzava um rio,
com a mão longa, episcopal,
e com certo sorriso ambíguo,
reverente, tirava o chapéu
e entredizia na voz surda:
Guadalete (ou que rio fosse),
o Paraibuna “te saluda”.
Nunca perguntei onde a linha
entre o de sério e de ironia
do ritual: eu ria amarelo,
como se pode rir na missa.
Explicação daquele rito,
vinte anos depois, aqui tento:
nos rios, cortejava o Rio,
o que, sem lembrar, temos dentro.
[in João Cabral de Melo Neto, Agrestes, 1985]
Adotei o hábito, sendo discípulo de Murilo Mendes como sou. Hoje, pela manhã, saí para fumar meu cigarro e carreguei a xícara de café para as margens do Main, do Meno, e lá disse: “Meno, o córrego Bebedor grüßt dich (te saúda).” Enquanto isso, São Paulo seca e o nível dos mares sobe. Talvez o verso de Murilo Mendes passe de convite a profecia: “Vamos voltar para a água.”
Natal e textos
 Chega o primeiro natal, tendo este espaço na DW Brasil, e pensei que seria interessante falar sobre um par de textos dedicados à data na literatura brasileira. Basta pensar em “natal” e “poema” para que o primeiro a vir à mente seja o famoso “Poema de natal”, de Vinicius de Moraes: “Para isso fomos feitos: / Para lembrar e ser lembrados / Para chorar e fazer chorar / Para enterrar os nossos mortos.” É um poema triste, quando pensamos que a data deveria ser a mais alegre dentro do calendário religioso cristão. O começo da esperança. A chegada da esperança. Religar. Unir deus e homens, mas pelo signo da morte. Mas é difícil pensar na manjedoura e não ver ao fim da trama a cruz. Quando criança, pensava que manjedoura fosse sinônimo de berço. Mas é o comedouro. Talvez todo berço tenha algo de manjedoura, ali deitados, à espera de ser mastigados.
Chega o primeiro natal, tendo este espaço na DW Brasil, e pensei que seria interessante falar sobre um par de textos dedicados à data na literatura brasileira. Basta pensar em “natal” e “poema” para que o primeiro a vir à mente seja o famoso “Poema de natal”, de Vinicius de Moraes: “Para isso fomos feitos: / Para lembrar e ser lembrados / Para chorar e fazer chorar / Para enterrar os nossos mortos.” É um poema triste, quando pensamos que a data deveria ser a mais alegre dentro do calendário religioso cristão. O começo da esperança. A chegada da esperança. Religar. Unir deus e homens, mas pelo signo da morte. Mas é difícil pensar na manjedoura e não ver ao fim da trama a cruz. Quando criança, pensava que manjedoura fosse sinônimo de berço. Mas é o comedouro. Talvez todo berço tenha algo de manjedoura, ali deitados, à espera de ser mastigados.
Há também aquele “Conto de Natal” de Rubem Braga, que transpõe para algum rincão do Brasil a viagem de José e Maria, “— Eu de lá ouvi os gritos. Ô Natal desgraçado! — Natal?”, que termina também de forma não menos triste, “O menino Jesus Cristo estava morto.” Pessoalmente, outro famoso conto sobre a data, “O peru de Natal” de Mario de Andrade, tem umas conexões dolorosamente familiares para mim, que perdi meu pai também há cerca de cinco meses: “O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai acontecida cinco meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade: gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas nem graves dificuldades econômicas.” Mas não vou passar este natal em família, já que a minha vive do outro lado do Charco Atlântico. Vou passar com a família postiça em Berlim.
Alguém se lembra daquele impressionante poema de Machado de Assis, o “Soneto de Natal”, que quase parece saído da produção da oficina irritada de Carlos Drummond de Andrade?
Soneto de Natal
Machado de Assis
Um homem, — era aquela noite amiga,
Noite cristã, berço do Nazareno, —
Ao relembrar os dias de pequeno,
E a viva dança, e a lépida cantiga,
Quis transportar ao verso doce e ameno
As sensações da sua idade antiga,
Naquela mesma velha noite amiga,
Noite cristã, berço do Nazareno.
Escolheu o soneto… A folha branca
Pede-lhe a inspiração; mas, frouxa e manca,
A pena não acode ao gesto seu.
E, em vão lutando contra o metro adverso,
Só lhe saiu este pequeno verso:
“Mudaria o Natal ou mudei eu?”
Mas meu poema de natal favorito, e talvez o mais lúgubre, seja o pouco conhecido “Natal 1961”, de Murilo Mendes. O poema adquire ainda mais força quando pensamos na importância do cristianismo para a obra do poeta mineiro, que um dia quis, com seu amigo Jorge de Lima, restaurar a poesia em Cristo.
Natal 1961
Murilo Mendes
Deslocados por uma operação burocrática – o recenseamento da terra – a Virgem
e o carpinteiro José aportam a Belém.
«Não há lugar para esta gente», grita o dono do hotel onde se realiza um congresso
de solidariedade.
O casal dirige-se a uma estrebaria, recebido por um boi branco e um burro cansado
do trabalho.
Os soldados de Herodes distribuem alimentos radioativos a todos os meninos de menos
de dois anos.
Uma poderosa nuvem em forma de cogumelo abre o horizonte e súbito explode.
O Menino nasce morto.
(in Poesia Completa e Prosa, Nova Aguilar, 1994)
Murilo Mendes apresenta-nos uma visão distópica da sociedade de consumo que já se formava, algo tão desmascarável em tempos de Natal como celebração do comércio. Com todas as diferenças entre eles, o poema sempre me faz pensar em Pier Paolo Pasolini, e é muito forte, para mim que os amo a ambos, saber que os dois habitavam a mesma cidade de Roma, por tantos natais. Não sei se algum dia se conheceram. Sei que nenhum dos dois viu o natal de 1975 ou os subsequentes, já que morreram ambos naquele ano, Murilo em agosto, Pier Paolo em novembro.
Chegou o Natal. Passe-o com aqueles que ama. Nunca se sabe se será o último.
Origens
Chico Buarque cantou em sua canção que seu pai era paulista; seu avô, pernambucano; seu bisavô, mineiro; seu tataravô, baiano, e que a toada havia sido soprada por seu mestre soberano, Antônio Brasileiro, o grande Tom Jobim. Tenho inveja de quem possa traçar genealogias distantes, sejam elas aristocráticas ou plebeias. Há alguns meses, comecei um texto que tomava essa toada de mote, mas cheguei apenas aos avós. Livro da genealogia de Ricardo Domeneck, filho de João, filho de João: João gerou João, João gerou Ricardo e seus irmãos, Ricardo não gerou nem gerará ninguém. A festa e o terror acabam aqui.
Família de caboclos tem árvores com galhos demais, enxertados de outros climas. A narrativa é sempre lacunar. Dizia a história da família Cardoso, a de minha mãe, que meu avô José havia imigrado para São Paulo vindo a pé do sul da Bahia. – “De onde, vó?” – “Ah, meu fio, acho que era de uma cidade chamada Salinas”. Só há dois anos, dando-me o trabalho de pesquisar, vim a descobrir que Salinas não fica no sul da Bahia, mas logo depois da fronteira, no norte de Minas Gerais. Meu avô baiano era na verdade mineiro. Iletrado, talvez sua família tenha acreditado que a cidade era na Bahia, não em Minas. Quiçá a fazenda da qual correu, aos 15 anos, era do outro lado da fronteira. Quem saberá? Os que sabem estão mortos, todos. O próprio José Cardoso, meu avô paterno, o que talvez fosse mineiro, talvez baiano, chegou a me pegar no colo, mas morreu quando eu tinha menos de um ano de idade. A história de sua andança de Salinas para Bebedouro, tristíssima até onde pude averiguar, morreu com ele em seus detalhes.
De minha avó materna, sequer sei o nome de solteira. Foi sempre a dona Rosária Cardoso, viúva do seu José. Os cabelos pretíssimos e lisos que temos vêm dela, de sua linhagem paulista, cabocla, mameluca, interiorana. É possível que sua família sem nome estivesse ali, no interior de São Paulo, há tanto tempo que um dia falaram a língua geral paulista, irmã do nheengatu. Pobretões também podem ser quatrocentões.
E quando estes caboclos misturam-se com imigrantes pobres e analfabetos da Europa latina, não há muita história literária a acrescentar, só oral, passageira. No último mês, visitei as terras dos meus avós paternos. Estive em Barcelona, Catalunha, de onde saiu Joan Domènech a caminho do interior de São Paulo, onde encontrou a italianona ruiva que foi minha avó paterna, dona Concheta Sciarra, povo da cidade de Campobasso, no Molise italiano. Escrevo este texto em Roma, onde vim fazer leituras e aproveitei a viagem para iniciar um livro sobre Pier Paolo Pasolini. Posso dizer que estou na terra de minha avó, se estou no Lácio, e ela era do Molise? Posso dizer que estou na terra do meu avô, se visito Brasília, e ele era de Salinas?
Talvez seja a idade chegando, e com ela a tentação de recompor a “merencória infância”. Talvez seja coisa de estrangeiro, brasileiro vivendo há tantos anos na Alemanha, sendo confrontado o tempo todo com questões de nacionalidade e naturalidade, estes conceitos artificiais. De onde sou? Só sei que sou de onde se diz toró, não chuva. Mas são outros os tempos e o Marquês de Pombal venceu. Ainda se diz toró. Mas é lá também que se chama todo iorgurte de danone, toda lâmina de barbear de gilete, e tenho sentimentos desencontrados quanto a isso.
25 anos da Queda do Muro
 No último final de semana, comemorou-se em Berlim o vigésimo-quinto aniversário da Queda do Muro. Milhares de pessoas foram às ruas, caminharam ao longo do muro que já não existe, visitaram pedaços remanescentes e apinharam o Portão de Brandemburgo para a festa. A cidade esteve um pouco caótica. Há dias, estavam em greve os funcionários da empresa ferroviária alemã Deutsche Bahn. A cidade provavelmente estaria ainda mais cheia, se mais turistas houvessem conseguido chegar a ela.
No último final de semana, comemorou-se em Berlim o vigésimo-quinto aniversário da Queda do Muro. Milhares de pessoas foram às ruas, caminharam ao longo do muro que já não existe, visitaram pedaços remanescentes e apinharam o Portão de Brandemburgo para a festa. A cidade esteve um pouco caótica. Há dias, estavam em greve os funcionários da empresa ferroviária alemã Deutsche Bahn. A cidade provavelmente estaria ainda mais cheia, se mais turistas houvessem conseguido chegar a ela.
Quando criança, lembro-me de minha mãe tentando me explicar que havia uma cidade na Europa com um muro no meio, e que parentes e amigos não podiam visitar uns aos outros, nem viajar. Aquilo me parecia incompreensível e horroroso. É claro que era pequeno demais para compreender os muros invisíveis que separavam meu próprio país. A Alemanha era um lugar perigoso, onde houve campos de concentração, guerras enormes e pessoas vivendo dos dois lados de um muro. Lembro também de minha mãe tentando me explicar a Shoah a partir de um filme na televisão, e eu pequeno demais para entender que o meu país também tinha o seu genocídio, ainda em andamento.
Nem sonhava que um dia viveria em Berlim. E lá se vão agora 12 anos, já. Este ano de 2014 parece ser cheio de implicações tanto para o Brasil como para a Alemanha. Comemorações e rememorações. Há 25 anos, caía o muro de Berlim. Há 25 anos, os brasileiros votavam pela primeira vez após décadas de ditadura. Uma ditadura de direita se encerrava no Brasil, uma ditadura de esquerda se encerrava na Alemanha.
As literaturas dos dois países passaram então por um período em que alguns tentavam lidar com este passado recente, outros queriam seguir em frente e abandonar as exigências de engajamento político das últimas décadas. Na Alemanha, surgem escritores como o romancista Rainald Goetz, escrevendo sobre a Berlim hedonista daqueles anos, novamente a capital dos clubes noturnos, como fora dos cabarés na década de 1920. Ou o poeta Durs Grünbein, que logo cairia em um neoclassicismo inócuo, como o que se viu em alguns poetas brasileiros da década de 90. No Brasil, ocorre um estranho divórcio entre a prosa e a poesia, que parecem dar-se as costas, diferente de outros períodos, em que as pesquisas de prosadores e poetas pareceram muito mais próximas.
Tentei celebrar ontem, e é claro que me sinto muito feliz com a Queda do Muro. É provável que nem vivesse em Berlim se isso não tivesse ocorrido, e conheço criaturas gloriosas, amigos adorados, que talvez nem tivessem nascido sem isso, fruto que são das migrações que ocorreram depois da Reunificação da Alemanha. Moro muito perto da ponte na Bornholmer Strasse, o primeiro portão que cedeu e se abriu naquela noite de 9 de novembro de 1989. Mas confesso que não consegui vencer a preguiça do frio sequer para ir e cruzar simbolicamente a ponte. Fiquei em casa, lendo alguns poetas alemães, assistindo a cenas da Queda no computador, e pensando nos anos 1990, aquela década de propaganda política irrefreável, sobre a grande vitória do Capitalismo. Como o capitalismo era bom e melhor, já que a História agora até provava isso com o colapso do Bloco Socialista. Nós vencemos! Mas… nós quem, cara pálida?
Parabéns, Berlim. Estou feliz. Afinal de contas, ick bin een Berlina.
Passagem pela Holanda
Estive esta última semana na Holanda, onde participei de dois eventos literários. Trata-se de um país com uma intensa relação histórica com o Brasil por causa das Invasões Holandesas do século 17, quando os Países Baixos ocuparam, com a Companhia das Índias Ocidentais, cidades como Salvador, Recife e Olinda, permanecendo por décadas no território e deixando fortes marcas na região. Com o pagamento de reparações por Portugal aos Países Baixos previstas na chamada Paz de Haia em 1661, encerra-se a presença oficial holandesa no território. Quem se lembra hoje de Maurício de Nassau e de que Recife já foi Mauritsstad, a capital da Nova Holanda?
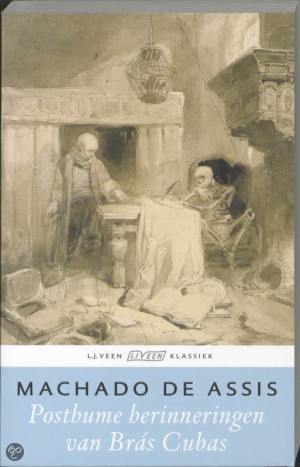 Seria de se esperar que tivéssemos uma relação um pouco mais forte com a cultura da Holanda por esta questão histórica, mas nossa identificação com os primeiros invasores europeus, os portugueses, ainda fala mais alto. Fala, especialmente, através da nossa língua comum. É, portanto, natural que nos identifiquemos com Luís de Camões (1524–1580), e não com seu contemporâneo exato Dirck Volckertszoon Coornhert (1522–1590). Nem tiveram seu impacto os escritores contemporâneos à presença holandesa no Brasil, como o poeta e dramaturgo Pieter Corneliszoon Hooft (1581–1647), a poeta lírica Tesselschade (1594–1649), o poeta satírico Constantijn Huygens (1596–1687) ou aquele que é considerado um dos poetas e dramaturgos mais importantes do século 17, Joost van den Vondel (1587–1679). A relação de caráter colonial da Holanda se dá com mais força com a Indonésia, onde permaneceram por muito mais tempo.
Seria de se esperar que tivéssemos uma relação um pouco mais forte com a cultura da Holanda por esta questão histórica, mas nossa identificação com os primeiros invasores europeus, os portugueses, ainda fala mais alto. Fala, especialmente, através da nossa língua comum. É, portanto, natural que nos identifiquemos com Luís de Camões (1524–1580), e não com seu contemporâneo exato Dirck Volckertszoon Coornhert (1522–1590). Nem tiveram seu impacto os escritores contemporâneos à presença holandesa no Brasil, como o poeta e dramaturgo Pieter Corneliszoon Hooft (1581–1647), a poeta lírica Tesselschade (1594–1649), o poeta satírico Constantijn Huygens (1596–1687) ou aquele que é considerado um dos poetas e dramaturgos mais importantes do século 17, Joost van den Vondel (1587–1679). A relação de caráter colonial da Holanda se dá com mais força com a Indonésia, onde permaneceram por muito mais tempo.
No Brasil, o período geraria a fantasia histórica de Paulo Leminski em seu romance experimental Catatau (1975), no qual imagina a vinda de René Descartes ao Brasil, já que este serviu na Holanda sob Maurício de Nassau, caso tivesse ingressado na Companhia das Índias Ocidentais.
A ignorância, obviamente, é mútua, uma vez mais pela barreira da língua e por outras barreiras de natureza e mentalidade colonialistas. O grande tradutor holandês da literatura brasileira, August Willemsen (1936–2007), fez aportar na Holanda os maiores trabalhos de Machado de Assis, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade e João Guimarães Rosa, mas tampouco logrou fazer deles nomes conhecidíssimos como outros contemporâneos nórdicos. Mas suas traduções de Drummond, por exemplo, são ainda facilmente encontráveis e estão em catálogo.
 O mesmo não se pode dizer, no Brasil, de poetas holandeses modernos, como Martinus Nijhoff (1894–1953) ou J. Slauerhoff (1898–1936). A chamada “Grande Tríade” da literatura holandesa do pós-guerra – Harry Mulisch (1927–2010), Willem Frederik Hermans (1921–1995) e Gerard Reve (1923–2006) – é bem pouco ou nada conhecida no Brasil, com a exceção de Mulisch. O jovem tradutor brasileiro Daniel Dago está trabalhando em traduções de holandeses para o português, como Louis Couperus (1863-1923) e Carry van Bruggen (1881–1932). Uma obra monumental holandesa disponível hoje no Brasil é O Outono da Idade Média (1919), de Johan Huizinga (1872–1945), em uma muito bem cuidada edição da Cosac Naify.
O mesmo não se pode dizer, no Brasil, de poetas holandeses modernos, como Martinus Nijhoff (1894–1953) ou J. Slauerhoff (1898–1936). A chamada “Grande Tríade” da literatura holandesa do pós-guerra – Harry Mulisch (1927–2010), Willem Frederik Hermans (1921–1995) e Gerard Reve (1923–2006) – é bem pouco ou nada conhecida no Brasil, com a exceção de Mulisch. O jovem tradutor brasileiro Daniel Dago está trabalhando em traduções de holandeses para o português, como Louis Couperus (1863-1923) e Carry van Bruggen (1881–1932). Uma obra monumental holandesa disponível hoje no Brasil é O Outono da Idade Média (1919), de Johan Huizinga (1872–1945), em uma muito bem cuidada edição da Cosac Naify.
Com a ajuda de meu amigo Emanuel John, jovem alemão que trabalhou em sua tese em Filosofia na Holanda, traduzi alguns poemas curtos de Gerard Reve, autor por quem desenvolvi especial admiração dentro da literatura holandesa contemporânea.
Poema para o Doutor Trimbos
Gerard Reve
“Vinho barato, masturbação e cinema,”
escreve Céline.
O vinho acabou, não há cinemas aqui.
A existência torna-se tão monocórdica.
(tradução de Ricardo Domeneck & Emanuel John)
§
Pequeno relatório de viagem
Amsterdã: cheguei à Holanda por Amsterdã, onde fiz uma leitura na livraria e editora Perdu, a convite do jovem poeta holandês Frank Keizer, diretor da coleção de poesia contemporânea da editora, que aceitou a recomendação de meu tradutor holandês, o poeta Bart Vonck, e publicará uma antologia de minha poesia em junho de 2015. Frank Keizer é um dos jovens poetas europeus mais antenados que conheço, dedicando atenção não apenas à poesia moderna e europeia, mas trazendo para as editoras em que trabalha autores contemporâneos como os americanos Ron Halpern e Chris Kraus, ou, além de minha poesia no ano que vem, também a do argentino Martín Gambarotta e a da alemã Monika Rinck. O espaço é muito bonito, e tive a oportunidade de conhecer outros jovens poetas holandeses, como Maarten van der Graaff, Hannah van Binsbergen e Samuel Vriezen. Um jovem poeta holandês com quem tenho me correspondido, mas ainda não tive a chance de conhecer, é Martijn den Ouden.
Poema
Martijn den Ouden
na escuridão sinto samambaias sob as solas dos pés
ramas
solo solto
grama
asfalto
grama
grade
grama
asfalto
solo solto
ramas
samambaias
eu jamais – olhos fechados e descalço – cruzara uma estrada
como essa
(tradução minha)
§
Maastricht: minha vinda à Holanda se deu especialmente a convite do poeta holandês Bas Belleman (n. 1978), curador das Maastricht International Poetry Nights, onde li ao lado de Ulf Karl Olof Nilsson (n. 1965), um dos mais importantes poetas contemporâneos da Suécia, de Afrizal Malna (Indonésia, 1957), de Nick Laird (n. 1975), uma das estrelas da poesia contemporânea britânica, e também da interessante poeta francófona belga Anne Penders (n. 1968), além dos importantes poetas holandeses K. Schippers (n. 1936) e Pieter Boskma (n. 1956), entre vários outros.
§
Utrecht: minha última cidade nesta passagem pela Holanda, vim a Utrecht a convite do escritor e tradutor americano Benjamin Moser, o biógrafo de Clarice Lispector, que vive na cidade há vários anos. Aqui, pude ver sua incrível coleção de primeiras edições de romances brasileiros, como a cópia de Grande Sertão: Veredas (1956) que João Guimarães Rosa dedicou a José Lins do Rego, além de cópias das primeiras edições de Os sertões (1902), de Euclides da Cunha, Macunaíma (1928), de Mário de Andrade, e Crônica da Casa Assassinada (1959), de Lúcio Cardoso, entre várias outras preciosidades.
Mas o documento que mais me impressionou e me deixou em petição de miséria foi a última carta conhecida de Clarice Lispector, datada de 20 de novembro de 1977, duas semanas antes de morrer, a uma amiga em São Luís do Maranhão, na qual discute sua visita próxima (que não aconteceria, por sua morte a 9 de dezembro), na qual comenta seus problemas de saúde mas diz poder seguir viagem logo, pois já estava “quase boa”. Quando cheguei a esta frase, tremi. Talvez aquela famosa convalescença e recuperação enganosas logo antes de morrer, aquele último ato desesperado de luta do corpo antes de entregar-se? Os pelos subiram ao ler este “estou já quase boa”, dias antes de morrer.
Lembrem-se: estamos todos já quase bons.







Feedback