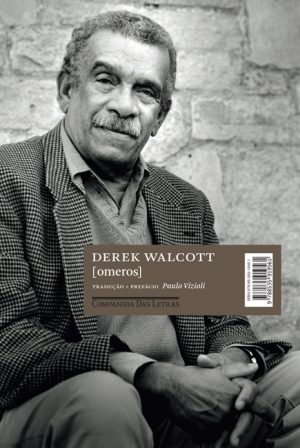Capivara exposta em museu de Amsterdã
Há uma proposição do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein que sempre me fascinou: “Wenn ein Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen” (Se um leão pudesse falar, nós não o compreenderíamos). Ao mesmo tempo, as implicações sempre me pareceram tristes: estamos presos a nossa esfera de experiência e compreensão. A isso une-se a ideia de que mesmo cada língua humana determinaria a maneira como pensamos e sentimos o mundo. Trata-se de um desafio a todo trabalho de tradução, portanto, mesmo entre humanos de línguas distintas. Para os nossos ouvidos, os sons feitos por animais também parecem todos iguais e uniformes, mas alguns pesquisadores afirmam que certos mamíferos, como as baleias, também têm dialetos distintos em cada grupo.
Há uma história a respeito disso que é bastante iluminadora sobre nós mesmos. As pesquisas mais sérias sobre a linguagem de outros mamíferos, especialmente baleias e golfinhos, só recebeu financiamento consistente quando se formulou o seguinte problema: em nossas explorações espaciais, se tivermos contato com alienígenas, como poderemos nos comunicar com eles se não conseguimos sequer nos comunicar com outras espécies do nosso próprio planeta?
Estou no momento em uma residência na Holanda, vivendo por dois meses entre um apartamento em Amsterdã e uma fazenda próxima da pequena vila de Starnmeer. Meu projeto é escrever um texto que lide com a presença colonial holandesa no território brasileiro. Mas o desafio que me impus nos traz à problemática que delineei acima, pois minha ideia é escrever esse texto a partir do ponto de vista de uma… capivara.
Antes que pensem que enlouqueci, me explico: como escrevi em uma crônica neste mesmo espaço [Aos holandeses que se esqueceram de suas invasões], visitei no ano passado uma exposição de alguns desenhos recém-descobertos de Frans Post (1612–1680) no Rijksmuseum. Eles foram feitos no Brasil durante sua passagem pela colônia com uma comitiva de artistas convidados por Maurício de Nassau (1604–1679), o “brasileiro”. Na exposição era possível também ver vários animais da fauna brasileira empalhados, e fui tomado por uma espécie de solidariedade muito estranha por uma capivara que ali estava: uma capivara do século 17 em plena Amsterdã do século 21.
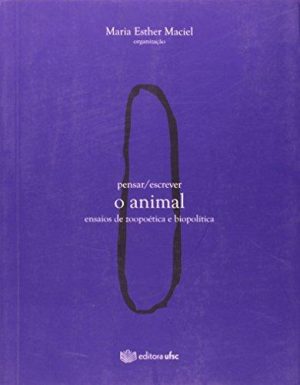
Maria Esther Maciel lançou “Pensar / escrever o animal: ensaios de zoopoética e biopolítica” em 2011
Foi aí que a ideia começou a nascer. Para isso, venho pesquisando autores do que vem sendo chamado de “zoopoética”, a escrita sobre e, principalmente, através de outras espécies. No Brasil, hoje, uma grande pesquisadora do assunto é Maria Esther Maciel, que lançou nos últimos anos os volumes Pensar / escrever o animal: ensaios de zoopoética e biopolítica (2011) e Literatura e animalidade (2016). Um dos exemplos dentro da literatura brasileira a que Maria Esther Maciel recorre com frequência é o poema Um boi vê os homens, do livro Claro Enigma (1951) de Carlos Drummond de Andrade: “Tão delicados (mais que um arbusto) e correm / e correm de um para o outro lado, sempre / esquecidos de alguma coisa”, diz o boi a nosso respeito.
Mesmo antes de pensarmos nessa prática como uma experimentação específica, já a conhecíamos de textos de Clarice Lispector, com suas galinhas e baratas, e de João Guimarães Rosa com suas vacas e onças. Uma galinha, conto do livro Laços de família (1960), de Clarice Lispector, está entre os primeiros textos literários que li em minha vida de adolescente. De João Guimarães Rosa, cita-se com frequência o longo conto “Meu tio o iaueretê”, do livro Estas estórias (1969). Mas o que me marcou primeiramente foi o lindíssimo Sequência, das Primeiras estórias (1962), no qual seguimos a consciência de um jovem vaqueiro em caça a uma vaca fujona, ao mesmo tempo em que seguimos a consciência da própria vaca.
Maria Esther Maciel discute ainda outros trabalhos de autores brasileiros como Graciliano Ramos, João Alphonsus e Wilson Bueno, e estrangeiros como Jack London, Patricia Highsmith, Jacques Roubaud, Virginia Woolf, Luigi Pirandello, Lydia Davis e J.M. Coetzee, entre outros. Para isso, recorre a vários pensadores, como Jacques Derrida, Eduardo Viveiros de Castro e Donna Haraway. É um campo fértil, que traz implicações políticas, filosóficas e literárias. Como conviver com outras espécies? Quais são os seus direitos? Seus direitos são essencialmente diferentes dos nossos?
Assim como o racismo leva humanos a acreditarem que são superiores a outros, nos últimos tempos formulou-se o conceito de “especismo”, ou seja, o ponto de vista de que uma espécie, especialmente a humana, é superior às outras e possui direitos específicos, como o de explorar, escravizar e matar as demais espécies. A diferença entre espécies levaria à atribuição de direitos diferentes entre organismos?
Mais uma vez volto à proposição de Wittgenstein: se um leão pudesse falar, nós mesmo assim não o compreenderíamos. Sua existência leônica está essencialmente vedada a nossa compreensão humana. Se os adoradores de um mesmo deus não conseguem se compreender por pertencerem a seitas distintas, estaremos nós para sempre presos a um vocabulário e a uma sintaxe intransferíveis? Espero que a tentativa de encarnar uma capivara me leve a algumas respostas possíveis.
]]>
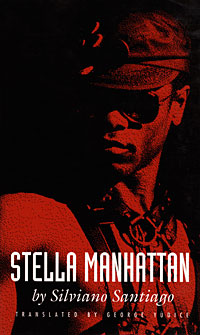
 Meu primeiro contato com o trabalho de João Gilberto Noll se deu em 1998. Ainda me lembro bem da situação. Era meu primeiro ano na Universidade de São Paulo e vivia pelas livrarias, sem dinheiro, lendo em pé diante das prateleiras. Esses primeiros anos na capital paulista foram tempos de descobertas constantes de escritores do pós-guerra que ainda não haviam sido canonizados e que circulavam menos pela grande imprensa.
Meu primeiro contato com o trabalho de João Gilberto Noll se deu em 1998. Ainda me lembro bem da situação. Era meu primeiro ano na Universidade de São Paulo e vivia pelas livrarias, sem dinheiro, lendo em pé diante das prateleiras. Esses primeiros anos na capital paulista foram tempos de descobertas constantes de escritores do pós-guerra que ainda não haviam sido canonizados e que circulavam menos pela grande imprensa.