Livros que dão febre na boca
É assim que eu descrevo o efeito que certos livros têm em mim. Uma febre na boca. Uma sensação de aquecimento entre o diafragma e o palato. Um amolecimento dos dentes. Sei que a primeira vez que senti isso foi aos 17 anos, quando terminava o colegial nos Estados Unidos, lendo o romance O Dia Em Que Ele Mesmo Enxugará Minhas Lágrimas (1972), do japonês Kenzaburō Ōe, que havia acabado de ganhar o Prêmio Nobel. Não creio que o livro tenha tradução ainda para o português. Era 1994. O que no livro gerava a sensação? Ainda não sei com certeza. Tenho apenas pistas.
Aos 19, num barco cruzando um certo mar onde dizem que os velhos deuses iam banhar-se (antes de morrerem), senti a mesma febre lendo Go Tell It On The Mountain (1953), de James Baldwin, atormentado pelo jovem deus de Constantino. Ou dois anos mais tarde, num metrô da Zona Leste de São Paulo, fui tomado pela febre em meio aos outros passageiros, um medo de estar ficando líquido, ao ler A Hora da Estrela (1977), de Clarice Lispector, a febre irradiando-se a partir dos pulmões. No ano seguinte, enquanto cursava Filosofia na Universidade de São Paulo, fui possuído por uma das ocasiões mais fortes da febre ao ler Qadós (1973), de Hilda Hilst, enquanto devia estar lendo algum filósofo inglês da epistemologia, ou algum lógico francês.
Com certeza, houve a febre com alguns capítulos de Os Detetives Selvagens (1999), de Roberto Bolaño, e especificamente durante o capítulo 32 de Rayuela (1963), de J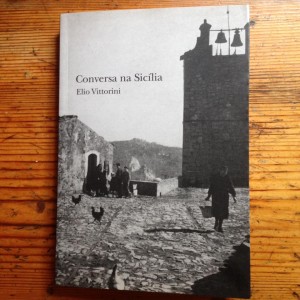 ulio Cortázar, aquela carta de La Maga a seu bebê Rocamadour: “Es así, Rocamadour: En París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a sebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Gregorovius y Wong y yo, Rocamadour, y como Perico y Ronald y Babs, todos hacemos el amor y freímos huevos y fumamos, ah, no puedes saber todo lo que fumamos, todo lo que hacemos el amor, parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando o cantando…”
ulio Cortázar, aquela carta de La Maga a seu bebê Rocamadour: “Es así, Rocamadour: En París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a sebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Gregorovius y Wong y yo, Rocamadour, y como Perico y Ronald y Babs, todos hacemos el amor y freímos huevos y fumamos, ah, no puedes saber todo lo que fumamos, todo lo que hacemos el amor, parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando o cantando…”
E em 2011, pior ano da minha vida, a febre ao ler Gravidade e Graça (1947), de Simon Weil, ou a novela Emma Enters a Sentence of Elizabeth Bishop’s, do volume Cartesian Sonata and Other Novellas (1998), de William H. Gass. A última vez que a senti foi em 2012, lendo Os Anéis de Saturno (1995), de W.G. Sebald. Agora, mais uma vez a sinto lendo a tradução brasileira do romance Conversa na Sicília (1937), de Elio Vittorini. A gente busca entre dezenas de livros justamente estes, que nos causam quase um transtorno de beleza. E nunca sabemos quais farão isso. Será que estes mesmos livros causariam em outros este transtorno de beleza? Vou voltar a isso no próximo texto.
No cemitério com Sebald
Não muito longe de onde moro em Berlim, no bairro de Prenzlauer Berg, na antiga Berlim Oriental, há um cemitério pequenininho, o Friedhofspark Pappelallee, ou, literalmente, Cemitério-Parque da Pappelallee. A palavra parque é um dos motivos pelos quais eu, por muito tempo, não percebi que se tratava de um cemitério, apesar de ter vivido naquela rua por alguns anos. O cemitério, que já não recebe novos moradores definitivos, é hoje em dia usado como um parque. No verão, vive cheio de mães e crianças, todas muito vivas. Quando finalmente percebi que era um cemitério, aquilo me causou muita estranheza.
No Brasil, quando minha mãe nos levava ao cemitério de Bebedouro para lavar o jazigo da família, naquele ritual de Dia dos Finados que já parece ter caído em desuso em São Paulo (toda tradição e todo ritual morrem primeiro em São Paulo), ao chegar em casa ela nos despia por completo, e lavava tudo, inclusive os sapatos. Nunca me esqueci da primeira vez que perguntei por quê: “não se traz morte para casa”, ela disse. É claro que havia um motivo, digamos, empírico para a coisa. Acreditando que o lugar estava cheio de micróbios, ela achava melhor lavar as crianças. Mas em mim calou fundo o sentido místico da coisa: não se traz morte para casa. Entre a ciência dos micróbios e a superstição do mórbido, antes estar seguro. Cemitérios, por toda a minha vida, ficaram marcados como lugares que, se possível, alguém deve evitar.
Há uma diferença grande entre os cemitérios brasileiros e alemães, é claro. Todos de concreto, nos quais a vida se esgueira como erva-daninha entre rachaduras, os cemitérios brasileiros são mesmo lugares lúgubres. Na Alemanha, são os lugares mais verdes e agradáveis que alguém pode encontrar, às vezes, num raio de quilômetros. Em 2012, após dizer a amigos mais uma vez que era óbvio que não, eu não queria dar uma volta no cemitério, e após terem rido de mim pela óbvia besteira supersticiosa minha, resolvi que me curaria dela na marra: estava prestes a começar a ler um livro novo e decidi que só o leria, nas próximas semanas, no cemitério. Era verão. Eu estava passando alguns meses em Kreuzberg, próximo ao complexo dos quatro cemitérios da Bergmannstrasse. O livro em questão era Os Anéis de Saturno (1995), do alemão W.G. Sebald (1944–2001). Não sei se estava preparado para o quão apropriada era a escolha do acaso destineiro.
O cemitério que passei a visitar para ler o livro era o Friedrichswerderscher Friedhof, próximo à Marheinekeplatz. É um lugar bastante calmo e bonito. Eu nem me embrenhava muito nele. A alguns metros da entrada há um banco, onde me sentava. Havia túmulos às minhas costas e à minha frente. Ali comecei a descida em espiral que é o livro de Sebald, talvez o mais celebrado autor alemão (fora da Alemanha) dos últimos 20 anos. Na Alemanha, a fortuna crítica de Sebald é estranha, como a de Celan (mas isto é assunto para outro texto).
O livro tem como subtítulo Uma peregrinação inglesa. O narrador, sem nome, que se confunde com o autor, narra sua caminhada pelo leste do país, em East Anglia (é deste povo antigo que deriva o nome Inglaterra), em Norfolk e Suffolk. O narrador descreve o que vê em sua caminhada, pausando para o que parecem digressões históricas sobre vários assuntos aparentemente desconexos: do mais famoso tradutor do alemão para o inglês, Michael Hamburger, ao naturalista inglês Thomas Browne (1605 – 1682); da introdução de bichos-da-seda à Europa e fabricação do tecido ao disco dourado que seguiu na Voyager 2 em sua viagem ao Espaço; de uma visita à Chestnut Tree Farm, onde um certo Thomas Abrams vem dedicando anos de sua vida a construir uma réplica em miniatura do Templo de Salomão, aos horrores da colonização belga no Congo.
Se no começo o leitor parece perder-se, esperando quais as ligações entre um naturalista inglês e uma espaçonave, entre bichos-da-seda e uma réplica em miniatura do Templo de Salomão, ele não tarda a ser tomado pela mão por Sebald, que vai fechando os círculos narrativos, demonstrando a ligação entre todas estas coisas, mas não de forma definitiva, para que sigamos em nossa queda em espiral pelos escombros da História. É uma lenta narrativa da decadência. Como se, enquanto o Anjo de Klee olha para trás, descrito por Walter Benjamin como encarando a tempestade da História que vem às costas, Sebald nos levasse por uma peregrinação não apenas pelo leste da Inglaterra, mas pelos escombros que se amontoam aos pés daquele anjo com torcicolo.
Curei-me do horror a cemitérios. Mas fiquei alguns dias mal, sem conseguir sair do cemitério que é a História. Um livro que se quer despretensioso, um misto de diário de caminhada e meditação, Os Anéis de Saturno é um dos livros mais fascinantes que já li. Talvez tenha sido a última vez que senti febre ao ler um livro. Mas, num cemitério ou num parque, sente febre apenas quem está vivo. E os vivos criam fronteiras entre terras e suas histórias para esquecer que os mortos do mundo estão todos de mãos dadas, à nossa espera.
Volta a Berlim em algumas artes
Quando eu morava em São Paulo na virada do milênio, não havia uma exposição, filme ou encontro que eu quisesse perder. Íamos do MAM-SP ao CineSESC, do Instituto Tomie Ohtake à Biblioteca Mário de Andrade, se possível num mesmo dia. Era aquele ritmo estonteante, jovens que queriam ver tudo, saber tudo. A idade e os compromissos com a tela do computador começam a atrapalhar mais tarde. Sempre digo a amigos mais jovens que estão escrevendo o primeiro livro: aproveite esta liberdade maravilhosa.
O ritmo em Berlim é vertiginoso também, ainda que nos últimos tempos eu mal possa acompanhar tudo. Não há uma semana em que não haja algo “imperdível” acontecendo, de concertos de grandes nomes (esta semana foram PJ Harvey e Bruce Springteen) a apresentações de amigos que estão já fazendo suas carreiras na cena local. Mas o que me interessa mais, especialmente nesta página, é poder espalhar alguns nomes que demorariam ainda algum tempo para aparecer na imprensa principal. Antes da internet, viver no Brasil e esperar notícias rápidas do que os contemporâneos e mais jovens estão fazendo em outro país era praticamente impossível. Na literatura, dependia-se de traduções, e seja nela ou na música, nas artes visuais, etc., dependia-se de publicações estrangeiras caras e especializadas. Então seguem aqui alguns nomes que eu recomendo seguir, de gente da minha geração e dos mais jovens, explodindo agora no subterrâneo, como minas.
O poeta norte-americano Frank O’Hara (1926-1966) tem um poema famoso chamado “Why I am not a painter”, que diz, nas primeiras linhas (a tradução é minha): “Eu não sou pintor, sou poeta. / Por quê? Eu acho que preferiria ser / pintor, mas não sou.” Em outro poema ele diz às vezes acreditar que “estava apaixonado por pintura”. Não sei se preferiria ser pintor, mas tenho um prazer grande em estar ao redor deles. Esta semana, visitei o estúdio do jovem pintor alemão Malte Zenses, que vem despontando na cena alemã, com exposições individuais (a última na galeria Kadel Willborn de Düsseldorf) e que acaba de passar pela feira Art Cologne.
Nascido em Solingen em 1987, ele estudou em Offenbach com o escultor alemão Wolfgang Luy, e formou com outros artistas da academia o coletivo Neue Offenbacher Schule (Nova Escola de Offenbach), ao lado de outros artistas que considero excelentes, como David Schiesser e Tom Król. O nome do coletivo joga com vários nomes oficiais, da Frankfurter Schule (de filosofia) à Leipziger Schule e Neue Leipziger Schule em artes visuais. É interessante visitar um artista de outra arte, com seus trabalhos em andamento nas paredes do estúdio. Recomendo ficar de olho nestes nom es.
es.
Outro encontro que tive esta semana foi com o músico e produtor alemão Nelson Bell, que se apresenta como Crooked Waves. Músicos talvez sejam os artistas que mais conheço em Berlim, por ter organizado vários concertos por aqui. De todos os mais jovens que conheço, entre os alemães, Nelson Bell está certamente entre os melhores e mais talentosos. Nascido em 1992 em Regensburg, na Baviera, ele teve uma infância incomum. Devido ao trabalho do pai, cresceu na Namíbia, passando mais tarde pela Irlanda e terminando seus estudos escolares em Seattle, nos Estados Unidos.
Em Berlim há três anos, onde está estudando produção musical eletrônica, ele está prestes a lançar seu EP de estreia, chamado Floating. Uma das faixas já estreou na Rede, intitulada “Little Mess” e com vocais da nipo-americana Lynn Rin Suemitsu, que se apresenta como RIN. Clique aqui para ouvir.
No sábado, consegui ver, no último dia, a exposição do fotógrafo alemão Heinz Peter Knes na galeria berlinense Silberkuppe. Nascido em Gemünden am Main em 1969, Heinz Peter Knes é da mesma geração de outros fotógrafos alemães que se tornaram famosos por seu trabalho em publicações de moda inglesas como Wolfgang Tillmans. Baseado em Berlim, Knes é menos conhecido internacionalmente, mas figura icônica especialmente do mundo queer após uma série sua na revista Butt.
Terminei o fim de semana em uma das melhores séries de leitura da cidade, a da revista artiCHOKE. Com uma performance da nova peça das britânicas Lisa Jeschke e Lucy Beynon, simplesmente excelente, e leituras de Jackqueline Frost e do também excelente poeta norte-americano Rob Halpern, autor de um dos grandes livros do nosso tempo, Music for Porn, entre outros. Alguns dos pontos do turbilhão berlinense. Mais, no próximo.
Uma semana de rememorações – e do Prêmio Camões a Raduan Nassar
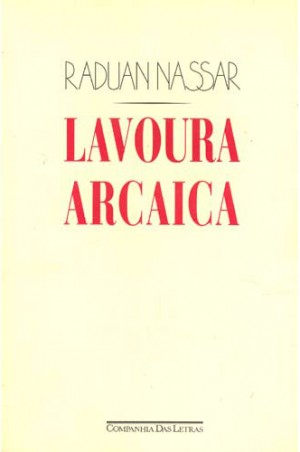 Esta foi uma semana de rememorações, de trabalho de memória coletiva. Os 40 anos do suicídio de Dora Lara Barcelos em Berlim no dia 01/06. O aniversário de Ana Cristina Cesar no dia 2, quando teria completada 64 anos, o que gerou algumas tenativas de releitura de seu legado nas redes sociais. Mas houve também um motivo de comemoração, ainda que tampouco unânime. Na segunda-feira, foi anunciado que o Prêmio Camões 2016 vai para Raduan Nassar, brasileiro de Pindorama, estado de São Paulo, nascido em 1935. Um dos autores brasileiros mais celebrados dos últimos 20 anos, seus dois principais livros (ele publicou apenas 3), Lavoura Arcaica (1975) e Um copo de cólera (1978), já foram transformados em filmes – a filmagem de Lavoura Arcaica por Luiz Fernando Carvalho, em 2001, foi amplamente premiada–, e recentemente traduzidos para o inglês e editados na coleção Modern Classics da Penguin, unindo-se por lá aos brasileiros Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade. Ancient Tillage é o título da tradução de Karen Sotelino para o primeiro livro, e A cup of rage, o da tradução de Stefan Tobler para o segundo.
Esta foi uma semana de rememorações, de trabalho de memória coletiva. Os 40 anos do suicídio de Dora Lara Barcelos em Berlim no dia 01/06. O aniversário de Ana Cristina Cesar no dia 2, quando teria completada 64 anos, o que gerou algumas tenativas de releitura de seu legado nas redes sociais. Mas houve também um motivo de comemoração, ainda que tampouco unânime. Na segunda-feira, foi anunciado que o Prêmio Camões 2016 vai para Raduan Nassar, brasileiro de Pindorama, estado de São Paulo, nascido em 1935. Um dos autores brasileiros mais celebrados dos últimos 20 anos, seus dois principais livros (ele publicou apenas 3), Lavoura Arcaica (1975) e Um copo de cólera (1978), já foram transformados em filmes – a filmagem de Lavoura Arcaica por Luiz Fernando Carvalho, em 2001, foi amplamente premiada–, e recentemente traduzidos para o inglês e editados na coleção Modern Classics da Penguin, unindo-se por lá aos brasileiros Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade. Ancient Tillage é o título da tradução de Karen Sotelino para o primeiro livro, e A cup of rage, o da tradução de Stefan Tobler para o segundo.
Criado em 1988 pelos Governos do Brasil e de Portugal, o Prêmio Camões já foi dado a autores brasileiros como João Cabral de Melo Neto (o primeiro a um brasileiro, em 1990), Jorge Amado (1994), Lygia Fagundes Telles (2005) e Dalton Trevisan (2012). Time de pesos pesados. Entre os portugueses, Miguel Torga recebeu o da primeira edição, em 1989, assim como José Saramago (1995), Maria Velho da Costa (2002) e, no ano passado, Hélia Correia. Brasileiros e portugueses foram premiados na maior parte das edições, mas o prêmio ajudou a trazer-nos notícias de alguns importantes escritores da África lusófona, como o moçambicano José Craveirinha (1991), o angolano Pepetela (1997) e o cabo-verdiano Arménio Vieira (2009).
É o prêmio mais importante da língua. O que faz a importância de um prêmio não é o valor monetário, a imprensa, ou algo que o valha. O que faz a importância de um prêmio é justamente a importância inquestionável dos que o recebem. Não é o prêmio que traz prestígio ao autor, mas o autor que traz prestígio ao prêmio. Neste aspecto, pode-se dizer, sim, que o Camões é o mais importante da língua. Desde sua criação, o prêmio tem sido consistente – se comparado aos fiascos recentes do Prêmio Jabuti no Brasil – e foi dado em vários anos a verdadeiros grandes escritores (com uma única exceção, em minha opinião, cujo nome não vem ao caso).
No entanto, é preciso dizer algo. Há pouco tempo, discutia nas redes sociais com o poeta e crítico Eduardo Sterzi como é absurdo, por exemplo, que um poeta português como Manuel António Pina (1943-2012), galardoado com o prêmio em 2011, jamais tenha sido propriamente editado no Brasil. Não sei qual é a situação editorial de Raduan Nassar em Portugal, Moçambique ou Angola. Mas, em vez de pelejarmos por nossas discórdias ortográficas, não seria muito mais efetivo para unir os lusófonos, que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) cuidasse para que ao menos os autores que ganham o Camões fossem editados e distribuídos de forma decente em todos os países de língua portuguesa?
Parabéns ao Raduan Nassar. Aquela cena final de Lavoura Arcaica e alguns dos impropérios trocados pelas personagens de Um copo de cólera jamais me deixarão.
FLIP 2016
Em 2012, a DW Brasil publicou um texto opinativo meu, discutindo o número baixíssimo de autoras naquele que se quer o maior evento literário do Brasil, a Flip [“Com poucas autoras, Flip não reflete a produção literária atual”]. Pouca coisa mudou nos anos seguintes. Em entrevista à jornalista Camila Moraes do El País Brasil, Paulo Werneck, curador pelo terceiro ano consecutivo do evento, discutiu a ausência de autores negros no evento [“Faltam negros no palco da Flip, mas também na plateia”]. Em outro artigo, a mesma jornalista afirmara que este ano a edição finalmente pertencia às mulheres.
 Vamos começar por falar sobre a presença das mulheres este ano. É verdade que a festa jamais convidara tantas autoras. Segundo a introdução à entrevista, são 17 mulheres entre 39 convidados, “quase 44%”. Até pouquíssimo tempo, a festa não era capaz de encontrar uma dezena de autoras para trazer ao país. Há aí, portanto, um avanço. É verdade que a curadoria, com frequência, não parece conseguir funcionar num raio muito maior que o do estado do Rio de Janeiro, mas este é um velho problema brasileiro, e neste ano acaba influenciado pela escolha da homenageada, Ana Cristina Cesar (1952-1983), apenas a segunda vez que uma autora é homenageada no evento, após Clarice Lispector na edição de 2005. O fato foi celebrado como o deveria ser. Ana Cristina Cesar é uma poeta importante. Então contenho o que poderiam chamar de cinismo meu, em imaginar o quanto a escolha tenha sido decidida pelo fato de que sua obra completa foi publicada há tão pouco tempo por uma grande editora como a Companhia das Letras, com a qual Werneck tem laços, digamos, históricos. Mas, viva Ana Cristina Cesar!, poeta que produziu realmente textos maravilhosos em sua vida tão curta, e espera-se que autoras como Hilda Hilst, Patrícia Galvão, Carolina Maria de Jesus e Cecília Meireles, entre outras, encontrem espaço nos anos futuros.
Vamos começar por falar sobre a presença das mulheres este ano. É verdade que a festa jamais convidara tantas autoras. Segundo a introdução à entrevista, são 17 mulheres entre 39 convidados, “quase 44%”. Até pouquíssimo tempo, a festa não era capaz de encontrar uma dezena de autoras para trazer ao país. Há aí, portanto, um avanço. É verdade que a curadoria, com frequência, não parece conseguir funcionar num raio muito maior que o do estado do Rio de Janeiro, mas este é um velho problema brasileiro, e neste ano acaba influenciado pela escolha da homenageada, Ana Cristina Cesar (1952-1983), apenas a segunda vez que uma autora é homenageada no evento, após Clarice Lispector na edição de 2005. O fato foi celebrado como o deveria ser. Ana Cristina Cesar é uma poeta importante. Então contenho o que poderiam chamar de cinismo meu, em imaginar o quanto a escolha tenha sido decidida pelo fato de que sua obra completa foi publicada há tão pouco tempo por uma grande editora como a Companhia das Letras, com a qual Werneck tem laços, digamos, históricos. Mas, viva Ana Cristina Cesar!, poeta que produziu realmente textos maravilhosos em sua vida tão curta, e espera-se que autoras como Hilda Hilst, Patrícia Galvão, Carolina Maria de Jesus e Cecília Meireles, entre outras, encontrem espaço nos anos futuros.
Já festejei no texto anterior a este, que o sírio Abud Said esteja entre os convidados deste ano, e é uma alegria ver o grande poeta brasileiro Leonardo Fróes na lista. Valeria Luiselli vem realmente aparecendo nas listas mais prestigiadas do último ano, e todos devem estar em polvorosa mais que justa com a vinda da ganhadora do Prêmio Nobel do ano passado, Svetlana Aleksiévitch.
Mas, a não ser pela presença do excelente autor sírio, não há um único autor que não seja identificado como branco em Paraty em 2016. O curador defende-se dando nomes de autores negros que teria convidado, mas que não aceitaram, como a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, o astrônomo norte-americano Neil DeGrasse Tyson, e o escritor Ta-Nehisi Coates, também dos Estados Unidos. São nomes extremamente importantes. O livro mais recente de Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me (2015), deveria ser discutido amplamente no Brasil.
São também autores festejados pelo New York Times, algo importante para os curadores da Flip, sempre jornalistas, que trazem para a curadoria literária o que chamo de “espírito do gancho”. É cinismo meu? Talvez. Mas, como afirmou o poeta brasileiro Ricardo Aleixo nas redes sociais, não é cinismo de Paulo Werneck citar estes nomes no tom de “mas eu tentei, eles recusam!”? Se houvesse realmente a preocupação política incontornável de escapar do racismo inerente de curadorias desta natureza no Brasil, não seria possível pensar em outros nomes, com todo um continente africano à disposição? Werneck elenca logo em seguida, entre os brasileiros, seus convites aos músicos Mano Brown e Elza Soares. Mano Brown e Elza Soares são nomes imprescindíveis da cultura brasileira hoje, mas o curador realmente esgota aí seu conhecimento de escritores negros no Brasil, e no mundo? Com autores como Sebastião Nunes, Miriam Alves e o próprio Ricardo Aleixo jamais tendo sido convidados?
E cá estamos falando novamente da Flip como se já não soubéssemos há tanto tempo que se trata de uma festa menos literária que editorial. Tivesse realmente preocupações políticas sérias, como o curador tenta afirmar em sua entrevista, ela já teria percebido que necessita descentrar o poder da curadoria, dividindo-a (por que não?) entre responsáveis pela literatura de cada continente, garantido uma verdadeira internationalização desta festa capengamente chamada de internacional, quando se mostra a cada ano extremamente eurocêntrica e anglófila. E, como já disse em outras ocasiões, que tal convidar grandes ESCRITORES, vindos de cada continente do globo, para o papel de CURADORES? Cá está minha contribuiçãozinha anual sobre o assunto.



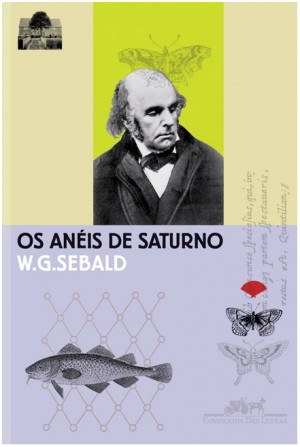






Feedback