Amantes perfeitos e aids: exposição
Está em cartaz na Fundação Suñol, de Barcelona, a exposição Amantes Perfeitos. Feita em colaboração com a organização ART AIDS, que se dedica a engajar artistas visuais na luta contra a epidemia, a exposição traz trabalhos clássicos de criadores que foram ativos e retrataram a luta contra o descaso do governo, contra a ignorância da sociedade, contra a covardia de muitos, desde a década de 80, vários deles tendo já sucumbido à síndrome.
Entre as peças bastante conhecidas está a releitura pelo coletivo General Idea de um quadro de Robert Indiana, transformando seu LOVE em AIDS, há fotografias de Peter Hujar (1934-1987), Robert Mapplethorpe (1946-1989) e Nan Goldin (n. 1953), assim como a delicada Untitled (Last Light), de Félix González-Torres (1957-1996). Na tarde em que estive na exposição, um visitante havia acabado de acidentalmente pisar em uma das lâmpadas, quebrando-a, o que, em minha opinião, acabou dando um ar de ainda maior fragilidade à peça, que já tematiza ela própria a fragilidade. A última sala traz Blue (1993), o belíssimo último filme de Derek Jarman (1942-1994), lançado apenas quatro meses antes de sua morte, também por complicações da aids. Como se sabe, o filme apresenta durante seus 75 minutos a tela completamente azul, apenas com o monólogo do pintor que, já cego por complicações advindas da síndrome, vendo apenas formas azuis oblíquas, narra sua vida e condição, em um texto que pode ser considerado um dos poemas mais assombrosos sobre o que a minha comunidade, a homossexual, chama de the plague. O catálogo traz o texto completo de Jarman, que mesmo impresso retém sua força.
 Uma descoberta para mim foi o trabalho do espanhol Pepe Espaliú (1955-1993), em especial o vídeo de sua performance Carrying (San Sebastián), de 1992, uma de suas últimas. Trata-se de uma performance, ms também de uma espécie de escultura social, coletiva, na qual Pepe Espaliú, já muito enfermo, descalço, é carregado por um grupo de pessoas que se revezam, pelas ruas de San Sebastián, em um momento no qual muita gente ainda tinha pavor de ter contato direto com pessoas vivendo (e morrendo) com o vírus. É uma performance comovente, poderosa.
Uma descoberta para mim foi o trabalho do espanhol Pepe Espaliú (1955-1993), em especial o vídeo de sua performance Carrying (San Sebastián), de 1992, uma de suas últimas. Trata-se de uma performance, ms também de uma espécie de escultura social, coletiva, na qual Pepe Espaliú, já muito enfermo, descalço, é carregado por um grupo de pessoas que se revezam, pelas ruas de San Sebastián, em um momento no qual muita gente ainda tinha pavor de ter contato direto com pessoas vivendo (e morrendo) com o vírus. É uma performance comovente, poderosa.
Seguindo o conceito da ART AIDS, a exposição traz também peças de quatro artistas contemporâneos, comissionadas para o evento: do americano Robert Gober (n. 1954), da catalã Eulàlia Valldosera (n. 1963), do holandês Willem de Rooij (n. 1969) e da israelense Keren Cytter (n. 1977), esta última, além de artista visual consagrada, também autora de poemas e romances como The Man Who Climbed the Stairs of Life and Found Out They Were Cinema Seats (2005). A exposição vale muito pela reflexão em um momento em que o número de novos casos sobe imensamente, pela oportunidade de ver peças clássicas da arte dos últimos 30 anos e pela força das peças novas, em especial a de Eulàlia Valldosera.
Em vários momentos imaginei peças do brasileiro Leonilson (1957-1993) em partes vazias da fundação, como teriam feito excelente companhia àquelas outras peças tão pungentes. Sempre me espanta que Leonilson não tenha ainda encontrado um amplo público internacional para sua obra, que certamente possui a mesma delicadeza lírica e conceitual de artistas conhecidíssimos, como González-Torres. A epidemia tirou-nos vários artistas no auge de sua criatividade, como o cenógrafo Flávio Império (1935-1985), o pintor Jorge Guinle Filho (1947-1987), o sociólogo, escritor e ativista Herbert Daniel (1946-1992), o violonista Raphael Rabello (1962-1995), o poeta e cantor Renato Russo (19960-1996), ou o prosador Caio Fernando Abreu (1948-1996).
Alguns deles nos deixaram relatos sobre a batalha, como foi o caso de Caio Fernando Abreu, nas suas Cartas para além dos muros, ou Jean-Claude Bernardet, em A doença, uma experiência (1996). Abreu voltaria à crise destrutiva em contos de Os dragões não conhecem o paraíso (1988) e Ovelha negra (1995), e Herbert Daniel foi o primeiro a trazer para a ficção uma personagem vivendo com a infecção, em Alegres e irresponsáveis abacaxis americanos (1987), como escreve o crítico Fernando Oliveira Mendes em seu seu ensaio “A Literatura encontra o vírus da aids” (Revista Itinerários, Araraquara, número 13, 1998). A epidemia faz também sua aparição em Uma história de família (1992), de Silviano Santiago, e Aberração (1993), de Bernardo Carvalho.
Com os novos tratamentos, as novas gerações parecem não perceber o horror que foi aquela época. Como disseram com palavras semelhantes duas mulheres que perderam muitos de seus amigos para a praga, a escritora Fran Lebowitz e a fotógrafa Nan Goldin, morria-se como se numa guerra. E o documentário How To Survive a Plague (2012), de David France, mostra o que foi a luta, numa guerra não apenas contra a doença, mas também contra o governo e a sociedade.
O catálogo da exposição Amantes perfeitos é dedicado a Joep Lange e Jacqueline van Tongeren, dois dos maiores especialistas na doença, que morreram na queda do voo da Malaysia Airlines sobre a Ucrânia. É possível que a organização ART AIDS esteja coberta de razão ao esperar que artistas (e escritores) tratem da praga que, por ignorância muitas vezes, segue matando mundo afora.
Sobre “Transformador”, antologia de Dirceu Villa
Eu poderia começar esse texto praguejando contra o estado dos cadernos de cultura dos grandes jornais brasileiros, pelo silêncio em torno da publicação de um livro como Transformador (São Paulo: Selo Demônio Negro, 2014), que reúne uma seleção considerável de 15 anos do trabalho poético de Dirceu Villa, assim como traduções suas para poetas como Horácio, Ovídio, Verlaine, Joyce e Brossa. Não deixaria de ser algo ao estilo do próprio autor, que lamenta há tempos o descaso por certa literatura não-comercial no jornalismo do país, que parece hoje tão afeito ao sensacionalismo quanto as colunas sociais – que, de resto, são hoje parte dos cadernos de cultura.
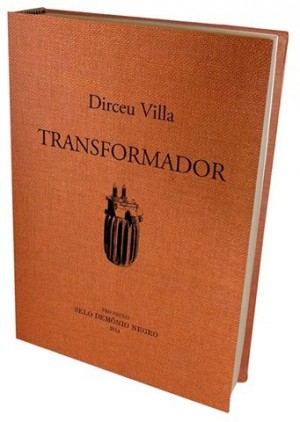 São 300 páginas, com textos de todos os seus livros publicados: MCMXCVIII (1998), Descort (2003) e Icterofagia (2008), assim como de seu próximo livro, couraça, ainda inédito. A edição, muito bonita, ficou mais uma vez a cargo de Vanderley Mendonça e seu Selo Demônio Negro, que já havia lançado em 2011 a tradução completa e anotada de Dirceu Villa para o Lustra de Ezra Pound (1885-1972). Pound é uma referência importante para o trabalho poético e crítico de Villa, sua preocupação com uma revisão atenta do cânone, seu apreço pela tradição poética, e suas máscaras, assumindo linguagens e poéticas múltiplas.
São 300 páginas, com textos de todos os seus livros publicados: MCMXCVIII (1998), Descort (2003) e Icterofagia (2008), assim como de seu próximo livro, couraça, ainda inédito. A edição, muito bonita, ficou mais uma vez a cargo de Vanderley Mendonça e seu Selo Demônio Negro, que já havia lançado em 2011 a tradução completa e anotada de Dirceu Villa para o Lustra de Ezra Pound (1885-1972). Pound é uma referência importante para o trabalho poético e crítico de Villa, sua preocupação com uma revisão atenta do cânone, seu apreço pela tradição poética, e suas máscaras, assumindo linguagens e poéticas múltiplas.
Uma leitura deste livro mostra claramente a variedade de formas que Dirceu Villa assume com talento e conhecimento, da métrica ao verso (dito) livre: há textos curtíssimos, excelentes poemas satíricos, como “façam suas apostas”, um dos meus favoritos dos últimos tempos, textos com uma imagética brutal, como “O cutelo”, e poemas mais longos e narrativos, como “Três histórias douradas”. Há textos que deveriam pegar qualquer leitor de forma direta e imediata, mas trata-se também, em grande parte, de leitura que requer atenção, algo de que nosso tempo parece nos privar cada vez mais.
Dirceu Villa é um dos autores mais sérios de minha geração. Suas contribuições nos últimos anos começaram a ter mais atenção com a publicação de Lustra, que foi devidamente saudada. Este Transformador nos dá a oportunidade de ler em um único volume grande parte de sua contribuição pessoal, a de sua poesia. Em português, o título pode funcionar tanto como adjetivo ou substantivo. Para transformar algumas de nossas ideias, precisa ser lido, conhecido, feito um dispositivo destinado a transmitir energia de um circuito a outro, do autor ao nosso como leitores, induzindo tensões e correntes.
Nota sobre literatura e consciência negra
Milhares de jovens negros assassinados no Brasil a cada ano. Rafael Braga Vieira ainda preso, por porte de desinfetante. Ao escrever este texto, o poeta Ederval Fernandes, de Feira de Santana, me envia a notícia de outro caso de esquartejamento de um jovem negro na cidade, ocorrido ontem (23/11). Mas este é um blog destinado a discutir literatura. E o que pode a literatura contra a barbárie?
No dia 20 de novembro, comemorou-se o Dia da Consciência Negra no Brasil. A data, como se sabe, foi escolhida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro de 1695, quando foi encurralado por Furtado de Mendonça, meses depois da invasão e destruição do Quilombo dos Palmares por Domingos Jorge Velho. Seguindo o costume, Zumbi foi degolado e sua cabeça exibida como troféu de guerra, como mais tarde seria feito com Antônio Conselheiro e Virgulino Ferreira, o Lampião. Da Colônia à República, há certas invariáveis na equação da História do Brasil.
No fim dos anos 1990, quando jornais pelo mundo começaram a publicar suas listas dos grandes autores do século, não foram poucas as polêmicas sobre a ausência nelas de autores não-brancos. No Brasil, já se chegou a dizer que não temos este problema, já que vários dos nossos maiores autores, como Machado de Assis (1839-1908) e Lima Barreto (1881-1922), eram mulatos ou negros.
Quando pensamos na literatura brasileira do Império e da Primeira República, é visível a presença marcante de intelectuais negros, em uma época ainda escravagista ou imediatamente posterior à abolição da escravatura. Machado de Assis, Cruz e Sousa, Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças e Lima Barreto estão entre as figuras essenciais e imprescindíveis da cultura brasileira do século 19 e início do 20.
Pessoalmente, sempre penso em como uma parte considerável da melhor literatura brasileira no século 19 foi produzida por cidadãos à margem: o louco Qorpo-Santo, o filho de escravos Cruz e Sousa, o homossexual Raul Pompeia, o quase anônimo Joaquim José da Silva, que conhecemos como Sapateiro Silva, autor de alguns dos maiores poemas satíricos do país ao lado de Luiz Gama.
No entanto, na história oficial da literatura brasileira, especialmente do Grupo de 22 em diante, esta visibilidade da presença negra na produção literária desaparece. Conhecemos a representação dos brasileiros negros em quadros de Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, em poemas de Jorge de Lima e Mario de Andrade, nos romances de Jorge Amado, mas o que houve com a visibilidade da produção de artistas e escritores negros no período? Seria de se esperar que essa visibilidade aumentasse quanto mais nos afastássemos do período escravagista, mas não é o que houve. Poetas como Solano Trindade (1908-1974), apesar de trabalharem com a tradição cultural afrobrasileira com a mesma qualidade de outros modernistas brancos, não são mencionados com frequência, nem mesmo quando a temática está sendo discutida.
Olorum Ekê
Solano Trindade
Olorum Ekê
Olorum Ekê
Eu sou poeta do povo
Olorum Ekê
A minha bandeira
É de cor de sangue
Olorum Ekê
Olorum Ekê
Da cor da revolução
Olorum Ekê
Meus avós foram escravos
Olorum Ekê
Olorum Ekê
Eu ainda escravo sou
Olorum Ekê
Olorum Ekê
Os meus filhos não serão
Olorum Ekê
Olorum Ekê
E é possível que apenas preconceitos de ordens várias nos impeçam de ver em Angenor de Oliveira, o Cartola, um dos poetas mais elegantes do nosso modernismo, assim como Geraldo Filme, outro grande poeta do samba. Concentrando-me em poesia e literatura, e portanto sem mencionar intelectuais importantes do pós-guerra como Milton Santos e Abdias do Nascimento: como falar da poesia brasileira do mesmo período sem atentar para a inegável densidade poética dos textos de Itamar Assumpção e para a qualidade do trabalho de Adão Ventura?
Natal
Adão Ventura
um natal lerdo
num lençol de embira
mesmo qu’uma fonte
de estimada ira.
um menino lama
num anzol que fira
algum porte e corpo
e alma de safira.
um menino cápsula
de tesoura e crime
— ritual de crisma
sem fé ou parafina.
um menino-corpo
de machado e chão
a arrastar cueiros
de chistes e trovão.
Nos últimos anos, uma das descobertas que me fascinaram, como leitor e escritor, foi o trabalho de Stela do Patrocínio, que passou anos internada na Colônia Juliano Moreira, assim como Arthur Bispo do Rosário, e que chegou a nós graças ao trabalho de gravação de suas falas por Neli Gutmacher e de transcrição por Viviane Mosé, publicado no volume Reino dos bichos e dos animais é o meu nome (Rio de Janeiro: Azougue, 2002). Sei que para alguns é complicado discutir este trabalho como literatura, mas eu, pessoalmente, venho encontrando muito prazer e estímulo nele.
Todos estes autores aqui mencionados, de Cruz e Sousa a Adão Ventura, são escritores que leio por sua qualidade estética em primeiro lugar. Mas por que uma discussão sobre o contexto social e político em que viveram, a barbárie contra a qual escreveram e como isso afetou suas vidas e produção turvaria a visão de sua qualidade estética?
Este debate precisa ser empreendido no Brasil antes de dizermos que não temos este problema porque um de nossos maiores escritores, Machado de Assis, era mulato e recebeu honras em vida. A polêmica em torno da lista de convidados para a Feira do Livro de Frankfurt em 2013 trouxe novamente a questão para um foro mais amplo, e espera-se que o debate tome cada vez mais força.
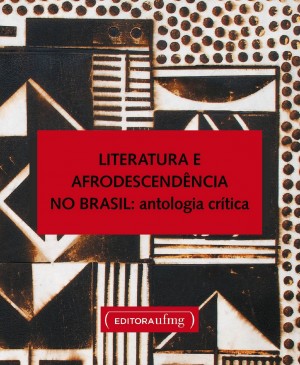 O romancista e poeta Paulo Lins é hoje um dos escritores brasileiros mais conhecidos no exterior. Outros autores negros estão produzindo hoje no país boa literatura, como Sebastião Nunes, que considero um dos maiores poetas brasileiros vivos. Ana Maria Gonçalves publicou um livro que vem sendo saudado como um marco na literatura contemporânea, Um defeito de cor (2006). A poesia e a performance no Brasil têm hoje em Ricardo Aleixo uma referência incontornável. E precisamos todos ler e acompanhar os trabalhos de Edimilson de Almeida Pereira, Miriam Alves, Leo Gonçalves, Marcelo Ariel e Renato Negrão, entre outros. Uma recomendação de leitura que faria, eu próprio tendo muito ainda que aprender e descobrir, é Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica, em quatro volumes, organizada por Eduardo de Assis Duarte, que discute vários dos autores aqui mencionados, entre vários outros.
O romancista e poeta Paulo Lins é hoje um dos escritores brasileiros mais conhecidos no exterior. Outros autores negros estão produzindo hoje no país boa literatura, como Sebastião Nunes, que considero um dos maiores poetas brasileiros vivos. Ana Maria Gonçalves publicou um livro que vem sendo saudado como um marco na literatura contemporânea, Um defeito de cor (2006). A poesia e a performance no Brasil têm hoje em Ricardo Aleixo uma referência incontornável. E precisamos todos ler e acompanhar os trabalhos de Edimilson de Almeida Pereira, Miriam Alves, Leo Gonçalves, Marcelo Ariel e Renato Negrão, entre outros. Uma recomendação de leitura que faria, eu próprio tendo muito ainda que aprender e descobrir, é Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica, em quatro volumes, organizada por Eduardo de Assis Duarte, que discute vários dos autores aqui mencionados, entre vários outros.
E encerro com um fragmento de texto de Ricardo Aleixo:
“Sou o que quer que você pense que um negro é. Você quase nunca pensa a respeito dos negros. Serei para sempre o que você quiser que um negro seja. Sou o seu negro. Nunca serei apenas o seu negro. Sou o meu negro antes de ser seu. Seu negro. Um negro é sempre o negro de alguém. Ou não é um negro, e sim um homem. Apenas um homem. Quando se diz que um homem é um negro o que se quer dizer é que ele é mais negro do que propriamente homem. Mas posso, ainda assim, ser um negro para você. Ser como você imagina que os negros são. Posso despejar sobre sua brancura a negrura que define um negro aos olhos de quem não é negro. O negro é uma invenção do branco. Supondo-se que aos brancos coube o papel de inventar tudo o que existe de bom no mundo, e que sou bom, eu fui inventado pelos brancos. Que me temem mais que aos outros brancos. Que temem e ao mesmo tempo desejam o meu corpo proibido. Que me escalpelariam pelo amor sem futuro que nutrem à minha negrura. Eu não nasci negro. Não sou negro todos os momentos do dia. Sou negro apenas quando querem que eu seja negro. Nos momentos em que não sou só negro sou alguém tão sem rumo quanto o mais sem rumo dos brancos. Eu não sou apenas o que você pensa que eu sou.”
Na morte de Manoel de Barros
Jamais havia escrito sobre Manoel de Barros (1916 – 2014), poeta cuiabano que morreu nesta quinta-feira (13/11) no Brasil, até preparar um obituário para a página de cultura da DW Brasil (“Aos 97 anos, morre o poeta Manoel de Barros”, DW, 13/11). É triste, e uma sensação estranha, escrever sobre um poeta pela primeira vez quando ele morre. Pesa na consciência a possível injustiça. Mas Manoel de Barros foi o poeta brasileiro mais popular das últimas três décadas, lançando livros com tiragens surpreendentes, quando se trata de poesia, e tinha uma legião de leitores apaixonados. Parecia-me importante usar o espaço para falar sobre outros bons poetas que não recebiam qualquer atenção, ou estavam completamente esquecidos.
 Ao mesmo tempo, lembro-me de uma conversa que tive com o poeta gaúcho Marcus Fabiano Gonçalves no ano passado no Rio de Janeiro, em que ele alertava para o fato de que nossa geração precisava ler Manoel de Barros com mais atenção, e que alguém precisava debruçar-se sobre o trabalho dele de forma crítica, para tirá-lo da narrativa de manchetes de jornal que o havia enclausurado: “poeta do Pantanal”, “poeta ecológico”, “poeta de fala infantil”. O próprio Marcus Fabiano Gonçalves dedicou a Manoel de Barros o obituário mais bonito que li ontem, com um texto crítico que aponta para as qualidades do trabalho do cuiabano, e tive o prazer de poder publicar o texto na revista que co-edito (“Vareios do dizer: o idioleto manoelês archaico”, Revista Modo de Usar & Co., 13/11). Em seu texto, o poeta gaúcho chama a atenção especialmente para a simplicidade “enganosa” da linguagem de Manoel de Barros, e friso aqui, nas palavras de Marcus Fabiano Gonçalves, o “acordo sempre tenso e muitíssimo negociado entre os registros da tradição erudita, as falas indígenas e as gambiarras de ouro do povo-inventalínguas”.
Ao mesmo tempo, lembro-me de uma conversa que tive com o poeta gaúcho Marcus Fabiano Gonçalves no ano passado no Rio de Janeiro, em que ele alertava para o fato de que nossa geração precisava ler Manoel de Barros com mais atenção, e que alguém precisava debruçar-se sobre o trabalho dele de forma crítica, para tirá-lo da narrativa de manchetes de jornal que o havia enclausurado: “poeta do Pantanal”, “poeta ecológico”, “poeta de fala infantil”. O próprio Marcus Fabiano Gonçalves dedicou a Manoel de Barros o obituário mais bonito que li ontem, com um texto crítico que aponta para as qualidades do trabalho do cuiabano, e tive o prazer de poder publicar o texto na revista que co-edito (“Vareios do dizer: o idioleto manoelês archaico”, Revista Modo de Usar & Co., 13/11). Em seu texto, o poeta gaúcho chama a atenção especialmente para a simplicidade “enganosa” da linguagem de Manoel de Barros, e friso aqui, nas palavras de Marcus Fabiano Gonçalves, o “acordo sempre tenso e muitíssimo negociado entre os registros da tradição erudita, as falas indígenas e as gambiarras de ouro do povo-inventalínguas”.
É também muito difícil falar de um autor com 70 anos de carreira, com dezenas de livros, quando apenas a parte tardia de sua obra é melhor conhecida. Outro poeta do Rio Grande do Sul, Marcelo Noah, chamou a atenção nas redes sociais para o fato de que Manoel de Barros, uma das últimas testemunhas de tantas conturbações históricas e explosões artísticas no Brasil do século 20, publicou seu primeiro livro em 1937, quando “Ary Barroso ainda não havia nem pintado sua Aquarela do Brasil, Jorge Amado lançava seus Capitães de Areia, Noel Rosa estava sendo velado no Caju. Carmen [Miranda] nem cogitava equilibrar ‘Bananas da terra’ sobre o cocuruto e Raízes do Brasil [livro de Sérgio Buarque de Holanda] estava na primeira edição. Drummond chutava pedras pelo caminho, Cacilda Becker era uma menina de 16 anos e Getúlio Vargas estava implantando o Estado Novo em um país que ainda contava 40 milhões de habitantes”.
Como escrevi no obituário da DW, Manoel de Barros surgiu e foi contemporâneo de poetas e escritores como Vinícius de Moraes, Lúcio Cardoso, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes e Henriqueta Lisboa, da segunda geração modernista. Mas com seu primeiro livro [Poemas concebidos sem pecado] tendo uma tiragem de 20 exemplares, e os seguintes sendo lançados fora dos centros de concentração e difusão de informação no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, sua obra permaneceu por décadas à margem, desconhecida, como continua sendo o caso de outros bons poetas, como o paraense Max Martins (1926 – 2009), ou, hoje mesmo, o fluminense Leonardo Fróes (n. 1941), por viver algo isolado na serra de Petrópolis, mesmo que a um pulo do Rio de Janeiro.
E foi a partir do Rio de Janeiro, com artigos de Millôr Fernandes, que o poeta que sempre viveu entre Cuiabá e Campo Grande foi “descoberto” pelo resto do país, tornando-se o poeta mais lido no Brasil a partir dos anos 1990, especialmente com O livro das ignorãças (1993) e Livro sobre nada (1996).
Certos artistas, por características de sua obra e também por sua pessoa, tendem a gerar nos admiradores uma atitude reverente, e quando morrem, acabam recebendo homenagens que beiram a hagiografia. Um exemplo, aqui na Alemanha, é a coreógrafa e dançarina Pina Bausch (1940 – 2009), tratada por vezes como se não tivesse sido uma mulher de carne e osso, mas uma espécie de entidade. Sinto um pouco disso no tratamente que se deu, e agora na hora de sua morte, se dá a Manoel de Barros.
Manoel de Barros foi e é um poeta importante, tanto por questões literárias como extraliterárias. Em minha opinião, ele teve, por exemplo, um papel muito marcante na formação de um público leitor de poesia a partir da década de 1980. É claro que a cena literária, especialmente a de poesia, é habitada por criaturas muito esquisitas, que reclamam da falta de leitores mas, quando um poeta se torna demasiado popular, apressam-se a acusá-lo de fazer concessões ou de “ser fácil”, esse “pecado” literário. É como aqueles adolescentes que só gostam de uma banda até ela entrar nas paradas de sucesso. Como, especialmente nas últimas décadas, a obra de Manoel de Barros possuía o que já chamei acima de “simplicidade enganosa”, que Marcus Fabiano Gonçalves destrinçou bem, a armadilha estava armada.
Eu próprio, é honesto dizer aqui, não tive em Manoel de Barros uma referência pessoal decisiva na minha formação. Eu o li na década de 90, mas não sinto que a leitura tenha deixado marcas, ao menos visíveis, no meu trabalho. E, ao deixar o Brasil em 2002, também deixei de o ler. Mas sempre acreditei que ele teve um papel importante também para arejar a poesia brasileira na década de 90, muito marcada pelos ditames do antilirismo a partir de uma leitura algo equivocada, ou pelo menos “bitolada”, das obras de João Cabral de Melo Neto e Augusto de Campos. Este arejamento também foi fruto da redescoberta de dois outros poetas importantes, Hilda Hilst (1930 – 2004) e Roberto Piva (1937 – 2010), este último nascido no ano em que Manoel de Barros lançava seu primeiro livro, para adicionar à lista de Marcelo Noah.
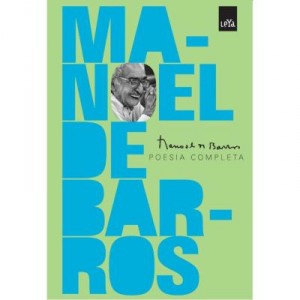 Foi só com o lançamento de sua Poesia Completa em 2010, em uma viagem ao Brasil, que revisitei sua poesia. E o li com outros olhos, mais livres, estando eu mais velho também. É questão de idade e personalidade: quando ainda jovem combativo, eu me sentia mais em sintonia com os trabalhos escancaradamente iconoclastas de Hilst e Piva. Sua sexualidade desbragada, seus uivos diante da cruz. Não podia à época, talvez, perceber a força, mesmo política, do candor de Manoel de Barros.
Foi só com o lançamento de sua Poesia Completa em 2010, em uma viagem ao Brasil, que revisitei sua poesia. E o li com outros olhos, mais livres, estando eu mais velho também. É questão de idade e personalidade: quando ainda jovem combativo, eu me sentia mais em sintonia com os trabalhos escancaradamente iconoclastas de Hilst e Piva. Sua sexualidade desbragada, seus uivos diante da cruz. Não podia à época, talvez, perceber a força, mesmo política, do candor de Manoel de Barros.
Muito preocupado com inovação e com o trabalho a ser feito por minha geração, sentia que o que podia aprender com o cuiabano já havia encontrado em Murilo Mendes e João Guimarães Rosa, mas hoje percebo que isso foi um equívoco. É certo, ainda acredito, que estes dois foram precursores de Manoel de Barros, que eles pertencem a uma estética irmanada. Não é à toa que nos Estados Unidos, onde uma antologia de Manoel de Barros foi lançada em 2010 [Birds for a demolition, tradução de Idra Novey], alguns críticos se referiram à sua poesia como surrealista. Não é absurda a referência, ainda que seja parte do hábito eurocêntrico de buscar antecedentes europeus para um poeta do subúrbio do mundo. Mas hoje nós sabemos que aquilo que alimenta esta poética, seja a do surrealista francês Paul Éluard ou a do brasileiro Murilo Mendes, que usou algumas destas técnicas, pode ser encontrada em poesias de outras partes do mundo, ou mesmo mais antigas na Europa, tal como nos mostraram poetas-críticos como Jerome Rothenberg, um dos formuladores da etnopoesia, compilando antologias que põem, lado a lado, a obra dos poetas experimentais das vanguardas europeias e a de poetas ameríndios, africanos, asiáticos, de culturas tradicionais, demonstrando como nosso conceito de “novo” é, muitas vezes, louco. Ou apenas ignorante.
Manoel de Barros sempre se referiu ao imagético quando falava de seu trabalho. Seria possível dizer que sua poesia é marcada pela fanopeia, para usar a expressão de Ezra Pound para poéticas baseadas na imagem. Manoel de Barros chamou seu “ser letral”, o dos livros, de “fruto de uma natureza que pensa por imagens”, e que “imagens são palavras que nos faltaram”. Manoel de Barros operava menos por metáforas dissonantes que por simples operações de desvio sintático. Como no verso de Murilo Mendes, um de meus favoritos: “O céu cai das pombas”. Mas, em Manoel de Barros, há um trabalho distinto, muito particular, de embaralhar os sentidos, numa linguagem sinestésica, atribuindo ao olfato o que consideramos trabalho da visão, e à visão, o que legamos apenas ao tato, empregando verbos para ações e agentes separados por causa e consequência realistas, como nos versos “Como pegar na voz de um peixe” e “eu escuto a cor dos passarinhos”. Mas é importante dizer que há também um trabalho de pensamento muito sutil em sua poesia, ou, para usar um termo “técnico”, logopeia.
Nós poderíamos falar aqui tanto do conceito de jogo de linguagem de Wittgenstein como das tarefas de casa do Primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade (1927) e dos versos sinestésicos de Raul Bopp em Cobra Norato (1928). E sua atenção para o misterioso poder metafórico da fala popular era distinto do que vemos em Guimarães Rosa, até mesmo por questões geográficas, Rosa sendo um homem do Sertão mineiro, e Barros, do encontro entre o Cerrado e o Pantanal, regiões com formações étnicas, línguísticas e sociais particulares.
A importante obra de Manoel de Barros é vasta e permanece. Haveria muita coisa que eu gostaria ainda de discutir, tendo me concentrado na sua obra dos anos 1990 em diante. Talvez influenciado por minhas leituras recentes de Claude Lévi-Strauss e Eduardo Viveiros de Castro, gostaria muito de pensar mais a respeito, voltar à obra de Manoel de Barros e, no futuro, discutir o que Marcus Fabiano Gonçalves chamou de “deliberada injeção de sentidos antropomórficos na natureza”, a partir das relações entre totemismo e animismo, e do conceito de perspectivismo ameríndio. Talvez possamos até mesmo descobrir implicações políticas novas no trabalho do poeta cuiabano. Também seria interessante falar sobre a relação entre Manoel de Barros e seu amigo Bernardo, que por vezes me lembra a de Rumi e Shams de Tabriz. Mas escrevo no calor da hora. Enquanto escrevo este texto, o poeta ainda está sendo velado por sua família no Brasil.
Tenho amigos que acreditam que perdemos o maior poeta do país. Não consigo pensar mais dessa forma. Iniciamos este milênio contando ainda com a presença de inúmeros poetas importantes, diferentes como são diferentes entre si quaisquer pessoas. Vários já nos deixaram desde então, como Haroldo de Campos, Waly Salomão, Hilda Hilst, Roberto Piva, Décio Pignatari e, agora, Manoel de Barros. Mas há outros, escondidos, ou apenas ainda jovens, e precisamos estar atentos para que não sejam descobertos apenas com 60 anos, como Manoel, ou recebam textos de apreciação apenas quando já mortos. E possamos conviver por um tempo com a pessoa e a obra.
25 anos da Queda do Muro
 No último final de semana, comemorou-se em Berlim o vigésimo-quinto aniversário da Queda do Muro. Milhares de pessoas foram às ruas, caminharam ao longo do muro que já não existe, visitaram pedaços remanescentes e apinharam o Portão de Brandemburgo para a festa. A cidade esteve um pouco caótica. Há dias, estavam em greve os funcionários da empresa ferroviária alemã Deutsche Bahn. A cidade provavelmente estaria ainda mais cheia, se mais turistas houvessem conseguido chegar a ela.
No último final de semana, comemorou-se em Berlim o vigésimo-quinto aniversário da Queda do Muro. Milhares de pessoas foram às ruas, caminharam ao longo do muro que já não existe, visitaram pedaços remanescentes e apinharam o Portão de Brandemburgo para a festa. A cidade esteve um pouco caótica. Há dias, estavam em greve os funcionários da empresa ferroviária alemã Deutsche Bahn. A cidade provavelmente estaria ainda mais cheia, se mais turistas houvessem conseguido chegar a ela.
Quando criança, lembro-me de minha mãe tentando me explicar que havia uma cidade na Europa com um muro no meio, e que parentes e amigos não podiam visitar uns aos outros, nem viajar. Aquilo me parecia incompreensível e horroroso. É claro que era pequeno demais para compreender os muros invisíveis que separavam meu próprio país. A Alemanha era um lugar perigoso, onde houve campos de concentração, guerras enormes e pessoas vivendo dos dois lados de um muro. Lembro também de minha mãe tentando me explicar a Shoah a partir de um filme na televisão, e eu pequeno demais para entender que o meu país também tinha o seu genocídio, ainda em andamento.
Nem sonhava que um dia viveria em Berlim. E lá se vão agora 12 anos, já. Este ano de 2014 parece ser cheio de implicações tanto para o Brasil como para a Alemanha. Comemorações e rememorações. Há 25 anos, caía o muro de Berlim. Há 25 anos, os brasileiros votavam pela primeira vez após décadas de ditadura. Uma ditadura de direita se encerrava no Brasil, uma ditadura de esquerda se encerrava na Alemanha.
As literaturas dos dois países passaram então por um período em que alguns tentavam lidar com este passado recente, outros queriam seguir em frente e abandonar as exigências de engajamento político das últimas décadas. Na Alemanha, surgem escritores como o romancista Rainald Goetz, escrevendo sobre a Berlim hedonista daqueles anos, novamente a capital dos clubes noturnos, como fora dos cabarés na década de 1920. Ou o poeta Durs Grünbein, que logo cairia em um neoclassicismo inócuo, como o que se viu em alguns poetas brasileiros da década de 90. No Brasil, ocorre um estranho divórcio entre a prosa e a poesia, que parecem dar-se as costas, diferente de outros períodos, em que as pesquisas de prosadores e poetas pareceram muito mais próximas.
Tentei celebrar ontem, e é claro que me sinto muito feliz com a Queda do Muro. É provável que nem vivesse em Berlim se isso não tivesse ocorrido, e conheço criaturas gloriosas, amigos adorados, que talvez nem tivessem nascido sem isso, fruto que são das migrações que ocorreram depois da Reunificação da Alemanha. Moro muito perto da ponte na Bornholmer Strasse, o primeiro portão que cedeu e se abriu naquela noite de 9 de novembro de 1989. Mas confesso que não consegui vencer a preguiça do frio sequer para ir e cruzar simbolicamente a ponte. Fiquei em casa, lendo alguns poetas alemães, assistindo a cenas da Queda no computador, e pensando nos anos 1990, aquela década de propaganda política irrefreável, sobre a grande vitória do Capitalismo. Como o capitalismo era bom e melhor, já que a História agora até provava isso com o colapso do Bloco Socialista. Nós vencemos! Mas… nós quem, cara pálida?
Parabéns, Berlim. Estou feliz. Afinal de contas, ick bin een Berlina.








Feedback