Escritores em guerra
Poucos acontecimentos históricos podem impactar uma cultura tanto quanto uma guerra. Quando olhamos para a literatura europeia, vemos o quanto os sucessivos e intermináveis conflitos bélicos deixaram sua marca na produção literária dos países do continente, em prosa e poesia. Nesta série de artigos em que venho discutindo as necessidades de consciência histórica por parte de escritores, talvez não haja exemplo mais cru do que a literatura produzida em meio a declarações de guerra e avanços de tropas, enquanto civis são estraçalhados.
Vemos esses testemunhos de horrores, ora celebrando, ora lamentando, desde os tempos em que poetas acompanhavam seus reis em batalha, quando não eram eles próprios senhores de terra em guerra, como o trovador Bertran de Born (1140-1215), até os tempos em que tantos soldados-poetas tombaram entre tiros e explosões, como August Stramm e Wilfred Owen em trincheiras opostas na Primeira Grande Guerra, ou Keith Douglas, morto na Segunda. Os sobreviventes certamente não têm como ignorar o morticínio, a devastação e a destruição, vendo suas vidas e comunidades transtornadas por completo. Penso, por exemplo, em Salvatore Quasimodo, passando da poesia hermética dos primeiros livros à transformação ética e estética de engajamento em livros como Con il piede straniero sopra il cuore (1947, traduções em português incluídas em Poesias, Ed. Record, 1999), assim como o trabalho de sobreviventes na acepção mais nua da palavra, como Primo Levi em Se questo è un uomo (1947, edição brasileira É isso um homem?, Rocco, 2013), Robert Antelme em L’espèce humaine (1947, edição brasileira A espécie humana, Ed. Record, 2013), e Paul Celan em Die Niemandsrose (1963, traduções em português incluídas em Cristal, Iluminuras, 1999), testemunhas dos maiores crimes de guerra do século passado.
Ainda que o Brasil tenha participado da Segunda Guerra e muitos jovens soldados brasileiros tenham perdido a vida na Itália, a experiência do conflito chegou-nos pelas mãos de poetas impactados com as notícias de longe, como Carlos Drummond de Andrade nos poemas de A rosa do mundo (1945) e Murilo Mendes em Poesia Liberdade (1947). O grande conflito internacional em que o Brasil viu seu território invadido deu-se no século 19 com a Guerra do Paraguai, certamente um dos conflitos mais horrendos e sangrentos do continente desde a invasão dos europeus, marcado por crimes de guerra até hoje abafados e esquecidos, em especial por parte de comandantes brasileiros como o Conde d’Eu, e que só entraria realmente no literatura brasileira mais de um século depois, em um romance como Viva o povo brasileiro (1984), de João Ubaldo Ribeiro. A experiência da guerra na literatura brasileira, no entanto, é o estopim de um dos nossos maiores livros: Os sertões (1902), de Euclides da Cunha. Foi através deste antiépico da nossa maior guerra civil que o horror bélico marcou nossas letras.
Nestes dois anos, em que relembramos os dois grandes conflitos mundiais e várias reportagens nos levaram de volta a seus horrores, com reedições dos poemas de guerra de vários soldados, como é a literatura de guerra e antibélica contemporânea? Se estamos discutindo a consciência histórica de poetas e prosadores, como os conflitos atuais têm entrado na literatura? Gostaria de comentar apenas um exemplo, o de uma autora nascida no país que se lançou em dois conflitos eivados de crimes neste novo século: os Estados Unidos. De que maneira as invasões do Iraque em 2003 e do Afeganistão em 2001 entraram em sua literatura? Poderíamos pensar que apenas o cinema vem tratando da questão, em filmes como Hurt Locker (Kathryn Bigelow, 2008) ou American Sniper (Clint Eastwood, 2014), mas a guerra tem entrado também na literatura norte-americana.
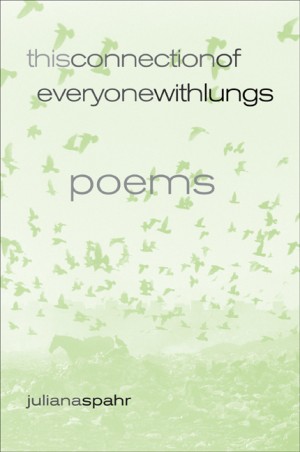 O livro que gostaria de comentar foi lançado em 2005, da escritora Juliana Spahr (nascida em 1966), intitulado This Connection of Everyone with Lungs (algo como “Esta conexão de todos com pulmões”). Spahr começa seu livro com as reações aos ataques às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001, numa seção justamente intitulada “Escritos após 11 de setembro de 2001”. Para um americano que viveu os ataques, o título remete imediatamente à experiência de estar na cidade de Nova York durante e nos dias posteriores à tragédia, nos quais o ar da cidade seria tomado por poeira, fumaça e matéria carbonizada. Mas a americana não se limita a uma elegia por seu país. O livro é muito mais. A partir da segunda parte, com textos escritos entre 30 de novembro de 2002 e 27 de março de 2003, todos com datas por títulos, a escritora se lança a uma reflexão e meditação formadas por seu desejo de que os Estados Unidos não invadissem o Iraque. Vivendo no Havaí, onde grande parte das forças da Marinha americana estão localizadas, a escritora descreve – entre a esperança e o desespero – o fluxo de informações desencontradas entre a imprensa e os movimentos militares que ela mesma podia ver forjando-se nas bases de sua ilha. Entre notícias de celebridades, do ônibus espacial Columbia preparando-se para voltar à Terra e de ameças de uma guerra, Juliana Spahr digire-se a um Outro e Outros que ela chama de “beloveds”, queridos, amados, num jogo entre lírica e épica, tais como podemos compreendê-las nos dias de hoje. Abaixo, um trecho do texto datado “2 de dezembro de 2002”:
O livro que gostaria de comentar foi lançado em 2005, da escritora Juliana Spahr (nascida em 1966), intitulado This Connection of Everyone with Lungs (algo como “Esta conexão de todos com pulmões”). Spahr começa seu livro com as reações aos ataques às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001, numa seção justamente intitulada “Escritos após 11 de setembro de 2001”. Para um americano que viveu os ataques, o título remete imediatamente à experiência de estar na cidade de Nova York durante e nos dias posteriores à tragédia, nos quais o ar da cidade seria tomado por poeira, fumaça e matéria carbonizada. Mas a americana não se limita a uma elegia por seu país. O livro é muito mais. A partir da segunda parte, com textos escritos entre 30 de novembro de 2002 e 27 de março de 2003, todos com datas por títulos, a escritora se lança a uma reflexão e meditação formadas por seu desejo de que os Estados Unidos não invadissem o Iraque. Vivendo no Havaí, onde grande parte das forças da Marinha americana estão localizadas, a escritora descreve – entre a esperança e o desespero – o fluxo de informações desencontradas entre a imprensa e os movimentos militares que ela mesma podia ver forjando-se nas bases de sua ilha. Entre notícias de celebridades, do ônibus espacial Columbia preparando-se para voltar à Terra e de ameças de uma guerra, Juliana Spahr digire-se a um Outro e Outros que ela chama de “beloveds”, queridos, amados, num jogo entre lírica e épica, tais como podemos compreendê-las nos dias de hoje. Abaixo, um trecho do texto datado “2 de dezembro de 2002”:
“Como ocorre toda noite, queridos, enquanto nos virávamos dormindo inquietos, o mundo continuou sem nós.
Vivemos em nosso próprio fuso-horário e há nesse fuso-horário apenas alguns milhões de nós e o mundo por consequência tende a começar e acabar sem nós.
Enquanto nos virávamos dormindo inquietos pelo menos dez ficaram feridos quando uma bomba explodiu em Bombaim e quatro foram mortos na Palestina.
Enquanto nos virávamos dormindo inquietos um armazém de auxílio alimentar foi destruído, ações em venda crescente explodiram, a Austrália fez ameaças de primeiros ataques, houve troca de tiros na cidade de Man, o embaixador da Bielorrússia no Japão desapareceu, um cruzeiro ardeu em chamas, em outro cruzeiro ainda muitos adoeceram, e o Papa fez um discurso contra o racismo.
Enquanto nos virávamos dormindo inquietos talvez J Lo tenha exigido sexo de Ben quatro vezes por semana em um acordo pré-nupcial.
Enquanto nos virávamos dormindo inquietos Liam Gallagher teve uma briga e fãs iracundos reclamaram que “Popstars: The Rivals” era um jogo de cartas marcadas.
Enquanto nos virávamos dormindo inquietos a Corte Suprema concordou em estudar o caso de quotas para minorias em universidades.
Enquanto nos virávamos dormindo inquietos caçadores capturaram esturjões num Mar Cáspio cheio de juncos, que abriga javalis e lobos, e alguns dos residentes do ônibus espacial planejaram seu retorno aos EUA.
Queridos, nosso mundo é isolado e pequeno.”
— Juliana Spahr, This Connection of Everyone with Lungs (tradução minha).
As notícias sobre o retorno do ônibus espacial, que já sabemos de antemão se espatifará na reentrada na Terra, funciona como uma espécie de sinal terrível de que suas esperanças se frustrarão e o país invadirá o Iraque, como realmente ocorre em março de 2003, quando a escritora encerra o livro. Sua mescla de uma voz lírica em meio à catástrofe histórica, que sabemos estar prestes a ocorrer enquanto ela medita com seus “beloveds”, torna o livro ainda mais pungente. É algo da mescla que vemos, numa clave bastante distinta, é claro, no grande poema lírico e épico de Oswald de Andrade, “Cântico dos cânticos para flauta e violão”, em que suas declarações de amor à mulher mesclam-se ao canto contra a Segunda Guerra que se desenrolava.
Para mim, tem servido como um exemplo de como um escritor pode manter-se ligado a sua comunidade, atento a seus dilemas, sem lançar-se a meros discursos de palanque, e mantendo-se fiel a sua voz, sem gritos de ordem, mas apenas um murmúrio de solidariedade a todos – todos – com quem compartilhamos oxigênio, nesta nossa conexão de todos com pulmões.
Resta-nos rir
A sátira, tanto entre poetas do Ocidente como do Oriente, sempre foi uma das armas à sua disposição contra os absurdos políticos e sociais de suas épocas. Das peças de Aristófanes aos epigramas de Marco Valério Marcial na Roma do primeiro século de nossa era; de Abū Nuwās, na Bagdá do século 8, aos clérigos europeus beberrões escrevendo em latim no século 12 e conhecidos como Goliardos; de Boccaccio e Rabelais aos poetas do nonsense – como os ingleses Edward Lear e Lewis Carroll, ou o alemão Christian Morgenstern –, assim como aos dadaístas Kurt Schwitters e Hans Arp no século 20 – o riso cáustico seguiu sendo uma arma. Se não se pode derrubar um tirano, pode-se ao menos garantir que ele pareça ridículo pelos séculos vindouros. Tiranos de todo o mundo sabem o perigo que correm nas bocas de poetas. César não estava feliz com as sátiras de Catulo contra ele, e, por um poema satírico contra Stalin, o russo Óssip Mandelshtam morreria no Gulag.
A literatura lusófona brasileira nasce entre as pregações de Antônio Vieira e o riso de Gregório de Matos. Sua poesia satírica é o que há de melhor, funda nossa literatura no tom de escárnio, de forma moderna, misturando o português a palavras indígenas, começando a criar uma linguagem poética brasileira.
Define a Sua Cidade
Gregório de Matos
De dois ff se compõe
esta cidade a meu ver:
um furtar, outro foder.
Recopilou-se o direito,
e quem o recopilou
com dous ff o explicou
por estar feito, e bem feito:
por bem digesto, e colheito
só com dous ff o expõe,
e assim quem os olhos põe
no trato, que aqui se encerra,
há de dizer que esta terra
de dous ff se compõe.
Se de dous ff composta
está a nossa Bahia,
errada a ortografia,
a grande dano está posta:
eu quero fazer aposta
e quero um tostão perder,
que isso a há de perverter,
se o furtar e o foder bem
não são os ff que tem
esta cidade ao meu ver.
Provo a conjetura já,
prontamente como um brinco:
Bahia tem letras cinco
que são B-A-H-I-A:
logo ninguém me dirá
que dous ff chega a ter,
pois nenhum contém sequer,
salvo se em boa verdade
são os ff da cidade
um furtar, outro foder.
A Gregório de Matos, viriam a se juntar outros, como Tomás Antônio Gonzaga – cujas Cartas Chilenas ridicularizavam Luís da Cunha Meneses, o então governador de Minas Gerais – e, mais tarde, alguns dos nossos melhores autores do século 19, como os poetas Sapateiro Silva, Luiz Gama e o Sousândrade de “O Inferno de Wall Street”; o dramaturgo Qorpo-Santo; e os romancistas Machado de Assis e Raul Pompeia, cada um à sua maneira.
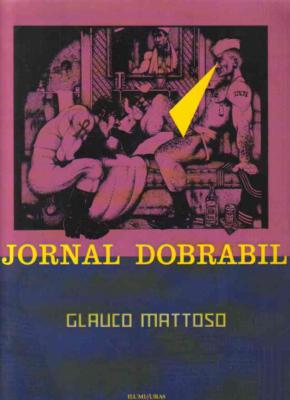 No século 20, a sátira brasileira assumiu várias formas: de um romance como Triste Fim de Policarpo Quaresma (1915), de Lima Barreto, ao Oswald de Andrade da peça O Rei da Vela (1937), do romance Memórias Sentimentais de João Miramar (1924) e de tantos poemas. As sandices políticas do país sempre estiveram na mira de nossos autores. No pós-guerra, tivemos lições de sátira com Décio Pignatari e seu “beba coca cola”, com Sebastião Nunes e seu Elogio da punheta, e com Glauco Mattoso e seu Jornal Dobrabil. Podemos chamar esta de a tradição mais antiga da literatura lusófona no Brasil.
No século 20, a sátira brasileira assumiu várias formas: de um romance como Triste Fim de Policarpo Quaresma (1915), de Lima Barreto, ao Oswald de Andrade da peça O Rei da Vela (1937), do romance Memórias Sentimentais de João Miramar (1924) e de tantos poemas. As sandices políticas do país sempre estiveram na mira de nossos autores. No pós-guerra, tivemos lições de sátira com Décio Pignatari e seu “beba coca cola”, com Sebastião Nunes e seu Elogio da punheta, e com Glauco Mattoso e seu Jornal Dobrabil. Podemos chamar esta de a tradição mais antiga da literatura lusófona no Brasil.
Nos últimos anos, após um período em que a sátira não foi tão valorizada – como nos anos 90, quando me pareceu haver uma preocupação demasiada com o sublime –, escritores voltaram a usar seus textos contra os crimes e absurdos do território. Em romances como Glória (Rio de Janeiro: 7Letras, 2012), de Victor Heringer, e Opisanie świata (São Paulo: Cosac Naify, 2013), de Veronica Stigger. Em poemas de Ricardo Aleixo, Pádua Fernandes, Angélica Freitas, Marcus Fabiano Gonçalves, Fabiana Faleiros, Dirceu Villa, William Zeytounlian e vários outros, essa tradição do riso contra o raso e roto que vemos desde Gregório de Matos reafirma-se. Trata-se da tradição de expor nossas contradições (o Brasil é um oxímoro com Marinha, Exército e Aeronáutica), que volta à cena com grande força, e com respaldo das ruas desde as Jornadas de Junho de 2013. E com uma imprensa disposta a turvar as águas do debate político, vivemos um momento em que precisamos desesperadamente dar ouvidos a estes sátiros e seus risos cáusticos.
Conheço vocês pelo cheiro
Ricardo Aleixo
Conheço vocês
pelo cheiro,
pelas roupas,
pelos carros,
pelos aneis e,
é claro,
por seu amor
ao dinheiro.
%
Por seu amor
ao dinheiro
que algum
ancestral remoto
lhes deixou
como herança.
Conheço vocês
pelo cheiro.
%
Conheço vocês
pelo cheiro
e pelos cifrões
que adornam
esses olhos que
mal piscam
por seu amor
ao dinheiro.
%
Por seu amor
ao dinheiro
e a tudo que
nega a vida:
o hospício, a
cela, a fronteira.
Conheço vocês
pelo cheiro.
%
Conheço vocês
pelo cheiro
de peste e horror
que espalham
por onde andam
– conheço-os
por seu amor
ao dinheiro.
%
Por seu amor
ao dinheiro,
deus é um
pai tão sacana
que cobra por
seus milagres.
Conheço vocês
pelo cheiro.
%
Conheço vocês
pelo cheiro
mal disfarçado
de enxofre
que gruda em
tudo que tocam
por seu amor
ao dinheiro.
%
Por seu amor
ao dinheiro,
é com ódio
que replicam
ao riso, ao gozo,
à poesia.
Conheço vocês
pelo cheiro.
%
Conheço vocês
pelo cheiro.
Cheiro um e
cheirei todos
vocês que só
sobrevivem
por seu amor
ao dinheiro.
%
Por seu amor
ao dinheiro,
fazem até das
próprias filhas
moeda forte,
ouro puro.
Conheço vocês
pelo cheiro.
%
Conheço vocês
pelo cheiro
de cadáver
putrefato que,
no entanto,
ainda caminha
por seu amor
ao dinheiro.
Ainda sobre escrita e engajamento
Em meu último texto neste espaço, falei sobre algo bastante pessoal, que chamei de crise de crença nas possibilidades da literatura como campo de intervenção política [“A política e a poesia são demais para um só homem”, DW Brasil, 14/07/2015]. Um par de amigos fez algumas objeções em mensagens privadas, então busco apenas esclarecer alguns pontos a seguir.
Ao trazer o exemplo de George Oppen para esta conversa, com seu abandono da poesia por mais de 20 anos para engajar-se no ativismo político, queria partir justamente de um exemplo extremo de um poeta que se viu impelido à participação mas não parecia acreditar ser possível fazer isso através da escrita, por não querer seguir o caminho que vários poetas mais velhos ou de sua geração trilharam: o da poesia engajada, como vimos em W.B. Yeats, Vladimir Maiakóvski, Bertolt Brecht, Carlos Drummond de Andrade, ou W.H. Auden, para citar alguns dos mais famosos, e que resolveram estas questões das mais diversas maneiras. Sua escolha pelo abandono da escrita é que o torna um fantasma para mim.
Encerrar o texto com a invocação de vários heróis pessoais, poetas e prosadores que trabalharam em meio aos dilemos políticos e sociais de seus tempos – como Carlos Drummond de Andrade escrevendo em pleno Estado Novo e Segunda Guerra; James Baldwin em tempos de segregação racial nos Estados Unidos; ou Pier Paolo Pasolini em sua elegia a Gramsci e, mais tarde, em seus filmes, poemas e artigos em tempos de Brigada Vermelha e Democratas Cristãos na Itália – era minha forma de seguir crendo que o escritor pode e deve manter-se desperto em seu momento histórico. Minha crença nisso segue fincada no fato de que nossa matéria prima são a linguagem e sua encarnação na língua específica de uma comunidade, aquela que é usada pelo escritor. Não se trata de uma obrigação de engajamento partidário, ou de que todo texto a sair do tinteiro de um autor tenha que lidar exclusivamente com as questões políticas de seu tempo. Eu próprio escrevi mais poemas de amor do que provavelmente deveria. Os exemplos eram tão diversos para demonstrar o quanto aqueles autores tinham de liberdade estética, ao mesmo tempo que pareciam conscientes do seu contexto histórico e, a meu ver, mantinham-se atentos a certos ditames éticos.
Uma citação frequente nas discussões sobre a inutilidade da poesia diante dos dilemas políticos de seu tempo é a pergunta do poema de Friedrich Hölderlin: “Para que poetas em tempos indigentes?”, e a resposta sempre me pareceu vir embutida na pergunta: justamente porque são tempos indigentes, ou tempos de penúria, na outra tradução frequente do “Wozu Dichter in dürftiger Zeit”. Não há por que estabelecer uma competição de penúria entre as épocas. Se estamos hoje envoltos no que nos parece um momento de obscurantismo, racismo, violência terrível entre brasileiros, outros poetas lidaram com seus próprios tempos indigentes, suas penúrias que talvez lhes parecessem intransponíveis. Invocar estes homens e mulheres do passado é apenas uma maneira de buscar aprender com eles, ao meditar sobre como lidaram com seus próprios tempos indigentes.
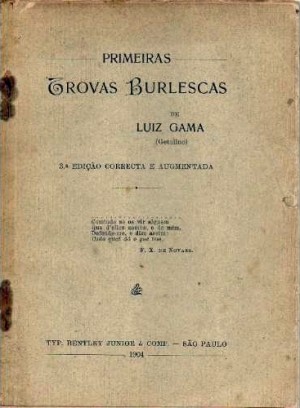 Como Luiz Gama (1830-1882) – filho da grande Luísa Mahin, que esteve envolvida na articulação de revoltas como a dos Malês (1835) e a Sabinada (1837-1838) – seguiu escrevendo seus impiedosos poemas satíricos e artigos, enquanto a seu redor via homens e mulheres como ele e sua mãe sendo tratados como animais nas mãos de uma sociedade escravocrata. Grande figura do Movimento Abolicionista brasileiro, morreu sem ver o fim da escravidão. Tempos indigentes, os seus, os mesmos de seu contemporâneo Cruz e Sousa, um dos maiores poetas do século 19, que tendo vivido para ver a Abolição, seguiu mesmo assim sendo tratado como animal por uma sociedade agora apenas pós-escravocrata, mas ainda inerentemente racista.
Como Luiz Gama (1830-1882) – filho da grande Luísa Mahin, que esteve envolvida na articulação de revoltas como a dos Malês (1835) e a Sabinada (1837-1838) – seguiu escrevendo seus impiedosos poemas satíricos e artigos, enquanto a seu redor via homens e mulheres como ele e sua mãe sendo tratados como animais nas mãos de uma sociedade escravocrata. Grande figura do Movimento Abolicionista brasileiro, morreu sem ver o fim da escravidão. Tempos indigentes, os seus, os mesmos de seu contemporâneo Cruz e Sousa, um dos maiores poetas do século 19, que tendo vivido para ver a Abolição, seguiu mesmo assim sendo tratado como animal por uma sociedade agora apenas pós-escravocrata, mas ainda inerentemente racista.
São inúmeros os nossos problemas, e tantos deles são centenários. No próximo artigo, tentarei tratar de alguns autores contemporâneos e obras que lidam com nossos tempos indigentes.
“A política e a poesia são demais para um só homem”
 É o que diz a personagem Sara, interpretada por Glauce Rocha, ao poeta e ativista Paulo Martins, interpretado por Jardel Filho, em Terra em Transe (1968), num dos momentos mais amargos do filme de Glauber Rocha. É pouco provável que o diretor baiano tivesse conhecimento disso, mas este dilema fez parte da vida de outro poeta e ativista, de carne e osso, o norte-americano George Oppen (1908-1984). Um pequeno histórico do autor: em 1931, Oppen teve seus primeiros poemas publicados em um famoso número da revista Poetry , que marcou a história da poesia norte-americana. Editado por Louis Zukofsky, a edição ficaria conhecida como o “número dos Objetivistas”, lançando o grupo com poemas do próprio Zukofsky e de Oppen, além de poetas modernistas da geração anterior, como Basil Bunting e William Carlos Williams, e ainda um texto de Samuel Putnam, que viria a se tornar o primeiro tradutor de Euclides da Cunha para o inglês. Trata-se de uma geração contemporânea à que daria ao Brasil poetas como Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes e Vinicius de Moraes. Trata-se ainda de uma década de intensa atividade política por parte dos poetas jovens daquele tempo, como vemos na Inglaterra no círculo ao redor de W.H. Auden, ou, na Alemanha, com poetas como Bertolt Brecht (ativo desde os tempos dos expressionistas). Em 1934, George Oppen lançou seu primeiro livro, Discrete Series. O primeiro poema do livro termina com os versos “Of the world, weather-swept, with which / one shares the century”, algo como “Do mundo, varrido pelos climas, com o qual / dividimos o século”. Sempre me pareceu uma declaração tanto de estética quanto de ética. Uma atenção a seu tempo e a seu espaço.
É o que diz a personagem Sara, interpretada por Glauce Rocha, ao poeta e ativista Paulo Martins, interpretado por Jardel Filho, em Terra em Transe (1968), num dos momentos mais amargos do filme de Glauber Rocha. É pouco provável que o diretor baiano tivesse conhecimento disso, mas este dilema fez parte da vida de outro poeta e ativista, de carne e osso, o norte-americano George Oppen (1908-1984). Um pequeno histórico do autor: em 1931, Oppen teve seus primeiros poemas publicados em um famoso número da revista Poetry , que marcou a história da poesia norte-americana. Editado por Louis Zukofsky, a edição ficaria conhecida como o “número dos Objetivistas”, lançando o grupo com poemas do próprio Zukofsky e de Oppen, além de poetas modernistas da geração anterior, como Basil Bunting e William Carlos Williams, e ainda um texto de Samuel Putnam, que viria a se tornar o primeiro tradutor de Euclides da Cunha para o inglês. Trata-se de uma geração contemporânea à que daria ao Brasil poetas como Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes e Vinicius de Moraes. Trata-se ainda de uma década de intensa atividade política por parte dos poetas jovens daquele tempo, como vemos na Inglaterra no círculo ao redor de W.H. Auden, ou, na Alemanha, com poetas como Bertolt Brecht (ativo desde os tempos dos expressionistas). Em 1934, George Oppen lançou seu primeiro livro, Discrete Series. O primeiro poema do livro termina com os versos “Of the world, weather-swept, with which / one shares the century”, algo como “Do mundo, varrido pelos climas, com o qual / dividimos o século”. Sempre me pareceu uma declaração tanto de estética quanto de ética. Uma atenção a seu tempo e a seu espaço.
E então George Oppen, engajado, com sua mulher, Mary, nas lutas dos trabalhadores norte-americanos em plena Grande Depressão pós-crack da Bolsa em 1929, decide justamente isso: que “a política e a poesia são demais para um só homem”, e abandona a escrita para engajar-se de vez na luta política, filiando-se ao Partido Comunista norte-americano (Communist Party USA) e ajudando a organizar greves de trabalhadores em Nova York, como a chamada Greve do Leite, em Utica. Acusado de agredir um policial quando um dos encontros políticos recebe uma blitz, passa anos defendendo-se na Justiça até ser inocentado. Em 1942, Oppen enlista-se e segue para a Segunda Guerra Mundial, participando de batalhas na Linha Maginot e nas Ardenas, sendo gravemente ferido na chamada Batalha do Bulge (ou Batalha das Ardenas), a grande contra-ofensiva alemã entre dezembro de 1944 e janeiro de 1945. De volta aos Estados Unidos, ainda sem escrever, acaba tendo que deixar o país com sua mulher no período de perseguição a comunistas pelo Senador Joseph McCarthy, conscientes de que seu passado de ativismo político certamente chamaria a atenção do comitê anticomunista do Congresso. O casal passaria anos exilado no México.
Ao retornar aos Estados Unidos em 1958, mais de 20 anos após a publicação de seu primeiro livro, George Oppen retoma a poesia, publicando The Materials (1962), This In Which (1965) e Of Being Numerous (1968), pelo qual recebe o Prêmio Pulitzer em 1969. Este último livro, Of Being Numerous (De Ser Numerosos), é um marco para poetas que buscam uma linguagem que os ligue a uma comunidade, a um tempo e espaço comuns. No poema de número 7, Oppen escreve:
Obsessed, bewildered
By the shipwreck
Of the singular
We have chosen the meaning
Of being numerous.
Ou, “Obcecados, confusos // Pelo naufrágio / Do singular // Nós escolhemos o significado / De ser numerosos”. Eu confesso que George Oppen é um dos meus fantasmas. É um nome que entra no meu crânio, acusando, quando começo a pensar nas responsabilidades do escritor em tempos sombrios. Não apenas em suas responsabilidades, mas em suas possibilidades de intervenção. E nosso momento é certamente um instante na longa História que se mostra bastante difícil para um poeta ou prosador brasileiro, ao menos para aqueles que mantêm um desejo de pertencer a uma comunidade, de estar acordados para seu tempo e seu espaço. As notícias de linchamentos pelas ruas do país, crimes de ódio contra cidadãos homossexuais e negros, o obscurantismo que toma conta do Congresso e da opinião pública, os atentados contra a democracia vindo de várias frentes, da mídia, do Parlamento, de intelectuais conservadores, chegam a me desanimar por completo.
Em sua famosa entrevista a Júlio Lerner, ao ser perguntada sobre o papel do escritor brasileiro naquele momento, Clarice Lispector respondeu: “O de falar o menos possível”. Era 1977, e Ernesto Geisel sentava-se no Palácio do Planalto. Ela acabava de escrever aquele que é visto por muitos como seu livro mais político, A Hora da Estrela. Não quero ser apenas do contra, mas sempre vi seus livros mais políticos como sendo A Maçã no Escuro (1951) e A Paixão segundo GH (1964), com seus questionamentos de nossa noção destrutiva e violenta de civilização, ao mesmo tempo mostrando a crença de uma mudança possível. A Hora da Estrela talvez seja ao mesmo tempo seu livro mais místico e o mais desesperançado. De alguém que parecia ter deixado de crer nas possibilidades de transformação, como parece claro em certos momentos da entrevista daquele ano.
Qual é o ponto deste artigo? Simplesmente confessar uma crise de crença – na literatura, na possibilidade de intervenção pela poesia. O fantasma de George Oppen na sala, sobre a mesa em que escrevo. A personagem de Glauce Rocha dizendo para a personagem de Jardel Filho: “A política e a poesia são demais para um só homem”. Como antídoto, posso fazer uma única coisa: abrir o livro de George Oppen e repetir alguns de seus versos, como um mantra: “Obcecados, confusos // Pelo naufrágio / Do singular // Nós escolhemos o significado / De ser numerosos”.
Buscar na estante outros guias. Chegar ao Carlos Drummond de Andrade de A Rosa do Povo (1945), repetir alguns versos: “Onde te ocultas, precária síntese, / penhor de meu sono, luz / dormindo acesa na varanda?”. Logo ao lado está Bertolt Brecht, e a seu lado James Baldwin, e ao lado deste estão Hilda Hilst e Roberto Piva, com suas fúrias. Há Alaíde Foppa e Audre Lorde, aquela que escreveu:
E quando o sol se ergue temos medo
que talvez não permaneça
quando o sol se põe temos medo
que talvez não se erga de manhã
quando nossos estômagos estão cheios temos medo
da indigestão
quando nossos estômagos estão vazios temos medo
que talvez nunca mais comamos
quando nós amamos temos medo
que o amor desaparecerá
quando estamos sós temos medo
que o amor jamais voltará
e quando falamos temos medo
que nossas palavras não sejam ouvidas
nem benvindas
mas quando estamos em silêncio
ainda assim temos medo
Então é melhor falar
lembrando-nos
de que nunca fomos destinados a sobreviver
(de “A litany for survival”, tradução minha)
Há a fé de Roberto Bolaño, e os alertas de W.G. Sebald, e por fim me vêm as imagens do corpo vivo e do corpo trucidado de Pier Paolo Pasolini, que viveu em um tempo tão sombrio quanto o nosso, que profetizou e nos alertou contra o que estava por vir, e abro seu livro As Cinzas de Gramsci (1957), e repito por último antes de dormir:
Pobre como os pobres, agarro-me
como eles a esperanças humilhantes,
como eles, para viver me bato
dia a dia. Mas na minha desoladora
condição de deserdado,
possuo a mais exaltante
das posses burguesas, o bem mais absoluto.
Todavia, se possuo a história,
também a história me possui e me ilumina:
mas de que serve a luz?
(Pier Paolo Pasolini, As Cinzas de Gramsci, tradução de Maria Jorge Vilar de Figueiredo)
Língua
Sempre me perguntam aqui na Alemanha como é ser um escritor lusófono que vive cercado de outra língua. Eu costumava responder que isso é bastante frutífero, pois desnaturaliza a língua para o escritor. Começa-se, ou pelo menos foi meu caso, a prestar atenção a construções que são mesmo isso, construções, quando antes pareciam tão naturais quanto as plantas e os pássaros que me cercavam na infância. Os sons parecem ficar mais claros, e você volta a questionar se são arbitrários ou se há uma ligação íntima, antiquíssima, entre som e sentido. Discussão também antiga em linguística, ainda que hoje a relação entre som e sentido seja questionada por praticamente todos. Mas, como disse George Steiner, poetas parecem estar sempre do lado desta ligação íntima entre som e sentido, entre nome e coisa, defendida por Crátilo no diálogo epônimo de Platão.
Venho pensando muito na língua. Na nossa relação com esta língua que amamos e que no entanto está relacionada a tanto horror em nosso território. O texto abaixo é o único que escrevi nos últimos meses, desde que dei por encerrado meu livro novo de poemas. Sempre passo por um período de “secura” e pausa após terminar um livro, buscando um novo caminho. Especialmente agora, por sentir que esgotei, para mim mesmo, o módulo de escrita que usei nos últimos três livros, Cigarros na cama (2011), Ciclo do amante substituível (2012) e o novo, ainda sem título definido. O texto é um ensaio sobre a língua materna, que escolho chamar de língua natal e que é, no fundo, a língua da infância. Que foi usada de forma tão exuberante por mulheres e homens, como Euclides da Cunha, que perguntou quem escreveria sobre “as loucuras e os crimes das nacionalidades”.
Minha cidade natal tem uma Praça da Matriz, na qual estão a Matriz, e a Fonte Luminosa, e a Concha Acústica. São utilizadas raramente, a Matriz, a Fonte, a Concha. Minha cidade natal tem um Lago, que (não gosto de revelar) é lago artificial, represa de nada mais que um córrego. Minha cidade natal tem 131 anos de fundação, minha cidade natal tem um cemitério. Neste cemitério, dois jazigos de família, o dos Domeneck, o dos Cardoso. Ingresso em um deles não obedece leis rígidas. Não se confere o R.G. aos mortos. Há trocas. Não sei em qual jazigo jaz meu pai. Não estava presente quando morreu meu pai em minha cidade natal nem quando o deitaram eternamente em berço pacífico. Raramente penso em minha cidade natal. Às vezes, minha cidade natal me tira o sono, não por causa da Matriz, da Fonte ou da Concha, ainda que me lembre da Matriz, da Fonte, da Concha, mas porque é a minha cidade natal, e nascer, escreveu Murilo Mendes, é muito comprido. Na minha cidade natal, tenho um pai morto e uma mãe sem estômago, uma mãe, literalmente, sem estômago. Na minha cidade natal, tenho irmãos e irmãs que respondiam às demandas de uma mãe sem estômago exigindo o pagamento de nossas dívidas por seus sacrifícios com a sentença: “Eu não pedi pra nascer”. Não apenas na cidade natal, no estado natal, no país natal, no planeta natal, na galáxia natal: eu não pedi pra nascer, ponto final. Gosto de ter nascido. Não pedi pra nascer, mas gosto de ter nascido. Não por causa da cidade natal, do estado natal, do país natal, do planeta natal, da galáxia natal: gosto de ter nascido, ponto final. Minto. Parte de gostar de ter nascido deve-se ao ter nascido na cidade natal, no estado natal, no país natal, no planeta natal, na galáxia natal, ainda que eu não tenha pedido pra nascer. Mas às vezes não gosto de ter nascido. Teria pedido pra nascer, tivessem me perguntado? Talvez. Deveras. Mas gosto de minha língua natal, isso é certo. Gosto de minha língua natal e jamais tive problemas com minha língua natal. Minha língua natal é a língua natal de meu pai morto e de minha mãe sem estômago. Nunca desejei ter nascido em outra língua. Minha língua natal é esta, com que escrevo este texto não natalino. Minha língua natal é a língua com que se compra requeijão em minha cidade natal. Todos na minha cidade natal compram requeijão com esta língua. Com ela, compra-se requeijão, e leite, e goiabada, e alface, e quindim. Nem todos falam minha língua natal no meu país natal, ainda que muitos acreditem que apenas se fale minha língua natal em meu país natal. São várias as línguas natais em meu país natal, ainda que apenas uma seja a língua oficial. Minha língua natal é a língua oficial de meu país natal e oficial. Esta língua, ainda que se diga surgida no além-mar, é minha língua natal. É minha. É minha língua. É minha língua natal. Com ela, não compro requeijão onde vivo, caso onde vivo houvesse requeijão. É uma língua de história violenta, a minha língua, a natal. Para muitos em meu país natal, esta minha língua natal é o símbolo de sua destruição, da morte de suas línguas natais, dos seus pais mortos por gente que fala esta minha língua natal, suas mães sem estômago, suas mães de úteros invadidos por esta minha língua natal. Por que não a chamo de língua materna se ela é a língua materna e natal de minha mãe sem estômago? Por respeito às línguas maternas e natais de outros tempos. Minhas línguas maternas foram proibidas pela língua paterna. Minhas línguas maternas foram o tupi e o iorubá. Mas o tupi e o iorubá não são minhas línguas natais, são minhas línguas maternas proibidas. Minha língua natal tem 800 anos. Como é jovem minha língua natal, bela e culta. Quanta beleza já se disse em minha língua natal, quanto horror já se impôs com minha língua natal. Em minha língua natal já se matou e estuprou, em minha língua natal segue-se matando e estuprando. Mente-se muito em minha língua natal. Sinto-me responsável por minha língua natal. Minha língua natal me tira o sono e, quando sonho, é quase sempre em minha língua natal. Minha língua natal é minha, e de outros em outros 7 países natais e oficiais. Em todos eles, mata-se e estupra-se e mente-se, enquanto se grita nesta nossa língua natal. Que bela língua natal, como é linda minha língua natal. Que pena que tenho dos que não falam minha língua natal. Que sorte a dos que não falam minha língua natal, pois que são outros seus berços esplêndidos. Não há berços pacíficos, apenas o dos jazigos das famílias, sejam Domeneck ou Cardoso ou outrem. R.I.P. não é uma sigla de minha língua natal. Nem todo jazigo é um berço pacífico. Neste nosso mundo natal, há valas comuns, berços violentos. Xibolete. Xibolete é um jogo que se joga com uma língua natal. Ouvir dizer e disse-que-disse são expressões de minha língua natal. Então digo ter ouvido dizer que na Guerra do Paraguai, uma das guerras da minha língua natal, usou-se a palavra pão como xibolete. Pão. Diga pão, paraguaio. Diga pão paraguaio. Diga pão, estrangeiro. João. João é o nome do meu pai morto. Diga João, estrangeiro. João, meu xibolete. Quando eu morrer, espero que minhas últimas palavras sejam em minha língua natal. Com meu corpo, façam o que lhes bem aprouver. Eu não pedi pra morrer.








Feedback