Alguns tradutores brasileiros, hoje
 No último texto que publiquei neste espaço, comento o trabalho de alguns tradutores estrangeiros que vêm contribuindo para uma maior divulgação da literatura brasileira no exterior. Parece-me importante completar este comentário com a menção a alguns tradutores brasileiros que nos últimos anos têm feito tanto pelo pensamento literário no Brasil.
No último texto que publiquei neste espaço, comento o trabalho de alguns tradutores estrangeiros que vêm contribuindo para uma maior divulgação da literatura brasileira no exterior. Parece-me importante completar este comentário com a menção a alguns tradutores brasileiros que nos últimos anos têm feito tanto pelo pensamento literário no Brasil.
A tradução tem sido uma constante no trabalho de escritores nacionais. Sabemos que Machado de Assis traduziu, entre outros, um autor como Edgar Allan Poe, assim como a obra de Proust recebeu no Brasil a atenção de gente como Mario Quintana, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, de quem o volume de sua poesia completa, Estrela da Vida Inteira, traz traduções do inglês, francês, espanhol e alemão. De Drummond, a Cosac Naify lançou há pouco tempo o volume Poesia Traduzida, com poemas também de várias línguas. Mas é interessante que raramente vemos os nomes destes autores ligados ao trabalho da tradução. Não é com frequência que lemos: „O poeta e tradutor Manuel Bandeira…“
A grande mudança se dá, certamente, com os poetas do Grupo Noigandres. O trabalho tradutório de Haroldo de Campos, por exemplo, é inseparável de sua obra poética e crítica. Foi o homem, é claro, que nos deu o conceito e prática da transcriação como parte integrante do trabalho criativo de um escritor. Lição tomada certamente de Ezra Pound, sobre o qual a crítica norte-americana Marjorie Perloff escreve, em seu The Dance of the Intellect: Studies in the Poetry of the Pound Tradition (1996), que o pensamento tradutório do norte-americano segue sendo uma de suas grandes influências sobre a poesia contemporânea.
Pound acreditava que todo período de grande criação era precedido de um período de intensa tradução, e ele próprio considerava um livro de traduções, As Metamorfoses de Ovídio por Arthur Golding, o mais belo da língua inglesa.
Não posso pensar hoje no trabalho contemporâneo de transcriar sem que me venha à mente a antologia de André Vallias dedicada à obra de Heinrich Heine – Heine, Hein? Poeta dos Contrários (São Paulo: Perspectiva, 2011), um dos grandes livros de poesia da língua portuguesa dos últimos anos. Há hoje gente muito séria dedicando-se à criação tradutória. Na cidade de Curitiba, por exemplo, vivem hoje dois exemplos marcantes: Caetano W. Galindo e Guilherme Gontijo Flores. O primeiro deu-nos a celebrada tradução de nada menos que o Ulysses, de James Joyce (São Paulo: Companhia das Letras, 2012) e dedica-se no momento à recepção lusófona de outro catatau de dificuldades, o Infinite Jest, de David Foster Wallace. Guilherme Gontijo Flores publicou sua premiada tradução de Anatomy of Melancholy, de Robert Burton (Curitiba: Editora UFPR, 2013), em 4 volumes, e acaba de lançar sua tradução para as Elegias de Sexto Propércio (Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2014).
 Os últimos anos foram de grande esforço tradutório. Ainda no campo da poesia clássica, Érico Nogueira publicou traduções para todos os Idílios de Teócrito, a partir de sua tese Contenda, Verdade e Poesia nos Idílios de Teócrito (São Paulo: É, 2013). São autores que seguem o caminho do grande João Angelo Oliva Neto entre nós, tradutor de Catulo e Marcial. Dirceu Villa, por sua vez, traduziu e comentou todo o Lustra, do já citado Ezra Pound (São Paulo: Selo Demônio Negro, 2011), e, recentemente, o poeta gaúcho Marcus Fabiano Gonçalves me deu a conhecer o excelente trabalho tradutório de Bruno Palma para poetas francófonos como Saint-John Perse e François Cheng. Também considero o volume Poesia Alheia (São Paulo: Imago, 1998), de Nelson Ascher, e Céu Vazio: 63 Poetas Eslavos, de Aleksandar Jovanovic, todos livros importantes para a formação de um jovem poeta no Brasil. Trata-se de gente que não brinca em serviço.
Os últimos anos foram de grande esforço tradutório. Ainda no campo da poesia clássica, Érico Nogueira publicou traduções para todos os Idílios de Teócrito, a partir de sua tese Contenda, Verdade e Poesia nos Idílios de Teócrito (São Paulo: É, 2013). São autores que seguem o caminho do grande João Angelo Oliva Neto entre nós, tradutor de Catulo e Marcial. Dirceu Villa, por sua vez, traduziu e comentou todo o Lustra, do já citado Ezra Pound (São Paulo: Selo Demônio Negro, 2011), e, recentemente, o poeta gaúcho Marcus Fabiano Gonçalves me deu a conhecer o excelente trabalho tradutório de Bruno Palma para poetas francófonos como Saint-John Perse e François Cheng. Também considero o volume Poesia Alheia (São Paulo: Imago, 1998), de Nelson Ascher, e Céu Vazio: 63 Poetas Eslavos, de Aleksandar Jovanovic, todos livros importantes para a formação de um jovem poeta no Brasil. Trata-se de gente que não brinca em serviço.
Além destes, e são muitos outros, para meu próprio trabalho foram muito importantes as traduções de Geraldo Holanda Cavalcanti de herméticos italianos como Eugenio Montale e Salvatore Quasimodo, as de Maurício Santana Dias para Cesare Pavese e seu Trabalhar Cansa (SP/RJ: Cosac Naify/7Letras, 2009), e agradecimentos seriam pouco para o trabalho de pessoas como Josely Vianna Baptista, Douglas Diegues, Pedro Niemeyer e Bruna Franchetto com a poesia ameríndia, assim como o Popol Vuh de Sérgio Medeiros. Se Pound estiver certo em sua equação tradução/criação, precisamos celebrar estes tradutores-criadores com mais afinco. Devemos muito a eles.
A importância de tradutores estrangeiros para um país
Quando penso na importância que uma única pessoa capaz e interessada na literatura brasileira pode fazer e, em muitos casos, já fez pela divulgação de nossos escritores em outros países, chego a ter vertigem com as possibilidades se houvesse maior compreensão e apoio por parte do governo para estes artistas da linguagem, os tradutores. A bolsa de tradução da Biblioteca Nacional é sem dúvida uma das melhores notícias que a literatura brasileira teve na última década, mas ela é mais pensada para as editoras que para os tradutores. Há outros programas, mas seria importante expandí-los, incentivar a vinda ao Brasil de jovens tradutores, assim como daqueles que já vêm desenvolvendo excelentes trabalhos tradutórios.
Aqui na Alemanha, já não está mais apenas nas mãos de uma única pessoa a recepção germânica de brasileiros, como há algumas décadas estava com o dínamo Curt Meyer-Clason, que traduziu João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto, entre tantos outros. Os brasileiros hoje, na Alemanha, estão em boas e várias mãos. Aquele que parece ter tomado de Meyer-Clason a tocha é Berthold Zilly, que traduziu autores difíceis como Machado de Assis (Memorial de Aires), Euclides da Cunha (Os Sertões) e Raduan Nassar (Lavoura Arcaica), e dedica-se no momento à tradução da obra-prima de João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas.
A editora Schöffling & Co. está relançando em alemão toda a obra de Clarice Lispector, tendo começado a empreitada com Perto do Coração Selvagem, O Lustre e a biografia de Benjamin Moser. Karin von Schweder-Schreiner tem se dedicado ao trabalho de Bernardo Carvalho e a novas traduções de Jorge Amado, com os relançamentos da editora S. Fischer Verlag incentivados pelo centenário do autor, que foi entre os anos 40 e 80 o brasileiro mais lido por aqui. Michael Kegler vem traduzindo autores diversos como Moacyr Scliar e Luiz Ruffato, além do angolano José Eduardo Agualusa, hoje residente no Rio de Janeiro. Maria Hummitzsch traduziu autoras como Beatriz Bracher e Carola Saavedra. Niki Graça traduziu, entre outros trabalhos, a correspondência entre Olga Benário e Luiz Carlos Prestes.
Quanto à poesia, ela parece estar hoje nas mãos de uma pessoa: Odile Kennel. A poeta e romancista já verteu para o alemão livros de Angélica Freitas e Érica Zíngano, assim como poemas esparsos de Carlito Azevedo, Arnaldo Antunes e Douglas Diegues. Para o próximo ano, seu projeto é uma ótima notícia: a primeira antologia de Hilda Hilst em alemão. É importante mencionarmos também Timo Berger, tradutor de Laura Erber e co-organizador do Festival de Poesia Latino-Americana, que já trouxe a Berlim poetas como Chacal e Carlito Azevedo.
Nos Estados Unidos, tivemos em Benjamin Moser um exemplo do que a paixão de uma pessoa por um autor brasileiro pode fazer com sua recepção em um país. Graças ao americano, Clarice Lispector tornou-se hoje um nome amplamente conhecido entre os leitores norte-americanos, assim como incontornável para uma discussão da literatura estrangeira do século 20 naquele país. Desde então, o interesse pelo Brasil nos Estados Unidos já levou à tradução para o inglês do grande romance de Hilda Hilst, A Obscena Senhora D., por Nathanaël e Rachel Gontijo Araújo. O professor Gregory Rabassa dedicou-se a verter para o inglês os grandes romances de Machado de Assis, como Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) e Quincas Borba (1890), que levaram nosso grande mestre a se tornar autor favorito de intelectuais tão diferentes entre si como Susan Sontag, Woody Allen e Harold Bloom. A poesia brasileira nos Estados Unidos, por sua vez, encontrou em Chris Daniels e Charles A. Perrone tradutores dedicados.
Em países de língua espanhola, temos contado com alguns milagreiros individuais. Na Espanha, hoje, um deles tem sido Aníbal Cristobo. Com sua editora Kriller71 Ediciones, vem lançando poetas brasileiros como Paulo Leminski e Marcos Siscar ao lado de importantes autores estrangeiros como o norte-americano Charles Bernstein e o canadense Robert Bringhurst. Se a Espanha é um dos países que mais traduz na Europa, e é sempre possível encontrar em suas melhores livrarias os romances de Machado de Assis e Clarice Lispector, é importantíssimo o trabalho que Aníbal Cristobo vem desenvolvendo para o diálogo entre hispânicos e luso-brasileiros contemporâneos.
Na Argentina, contamos com os esforços de Cristian De Nápoli, que no volume Terriblemente Felices – Nueva Narrativa Brasileña, traduziu contos de autores como Sérgio Sant’Anna, Marcelino Freire, Jorge Mautner, Marçal Aquino, Milton Hatoum, Nelson de Oliveira e João Gilberto Noll, entre outros, e ainda, para o importante Diário de Poesía de Buenos Aires, preparou um dossiê sobre a poesia brasileira contemporânea com textos de Ricardo Aleixo, Carlito Azevedo, Marcos Siscar, Joca Reiners Terron, Marília Garcia e Juliana Krapp, entre outros. Sua seleção e tradução de poemas de Vinícius de Moraes foi premiada na Argentina e o poeta trabalha hoje em sua tradução de Nelson Rodrigues.
Por fim, não poderia deixar de mencionar a poeta e tradutora mexicana Paula Abramo, que traduziu para o espanhol, além do Poema Sujo de Ferreira Gullar, também o fenomenal romance de Raul Pompeia, O Ateneu, lançado pela prestigiosa editora da UNAM. Abramo tem dedicado uma atenção especial a este grande autor brasileiro, por quem também nutro admiração confessa e intensa, traduzindo ainda textos de Pompeia para a imprensa brasileira do século 19 e divulgando seu trabalho entre latino-americanos.
São alguns exemplos de indivíduos apaixonados por autores brasileiros, que têm feito contribuições excelentes à divulgação de nossa literatura no exterior. Está longe, muito longe de ser uma listagem completa destes santos milagreiros. Concentrei-me neste texto em algumas línguas que domino, cujas cenas literárias acompanho e posso, portanto, conhecer um pouco melhor. Mas um texto futuro deveria certamente cuidar, por exemplo, do trabalho de Marcia Schuback na Suécia, de Bart Vonck nos Países Baixos, ou de Jacques Donguy e Patrick Quillier na França, certamente entre outros, em países mais distantes.
As mortes, e a de Nicolau Sevcenko
Há pouco tempo, conversando com um estranho que me perguntara o que eu fazia, respondi com uma piada triste: “Trabalho na seção de obituários de um jornal.” O rapaz sorriu amarelo, parecendo acreditar, e provavelmente pensando: “Que trabalhinho triste.” Estava com um humor do cão de rua naquela noite, havia escrito nas últimas semanas basicamente textos ocasionados por mortes, a de João Ubaldo Ribeiro, a de Ariano Suassuna, e, por fim, a do meu próprio pai no primeiro dia de agosto, mês de desgosto. Com as novas adições à lista de mortos de 2014, este ano bizarro, tem se tornado difícil não começar a semana com a pergunta: “Quem será o próximo? Serei eu?”
Foi com esta pergunta na cabeça que liguei o computador, para ter respondida a pergunta, logo de cara, com a notícia da morte do historiador Nicolau Sevcenko (1952 – 2014). Se a morte chegada na casa dos 80 não pode nos surpreender demais, perder um homem da importância de Sevcenko com apenas 61 anos de idade é um choque verdadeiro.
Filho de russos da Ucrânia que se exilaram no Brasil por seu avô ter lutado ao lado do Exército Branco contra os bolcheviques durante a Guerra Civil Russa, a primeira língua de Sevcenko foi o russo. Ele conta em uma entrevista à Revista de História, em 2006, que ao ser mandado para a escola, no Brasil onde nasceu, não entendeu nada. Ao reclamar para os pais que eles o haviam mandado para uma escola de estrangeiros, a mãe retrucou: “Os estrangeiros somos nós.” Segundo ele, sua família acreditava poder um dia voltar à Rússia, e não terminava de se fixar devidamente no novo país.
Ainda está por ser discutida mais amplamente a influência das novas ondas migratórias do século 20 sobre a literatura brasileira, com a chegada dos Lispector, Leminski e Hilst, junto dos Sevcenko, a uma cultura que vinha marcada cultural e linguisticamente pela ascendência lusófona dos Andrade e Guimarães.
A primeira vez que ouvi falar de Sevcenko deve ter sido entre 1998 e 1999, meus anos na Faculdade de Filosofia da USP. Tomando todas as minhas matérias optativas na Faculdade de Letras, comentava com uma amiga sobre minha decepção com o nível das aulas e do interesse dos alunos, ali, por literatura. Sua resposta foi: “Você precisa tentar fazer alguma aula do Nicolau Sevcenko na Faculdade de História.” Isso acabou não acontecendo, tendo abandonado o curso após dois anos para vir para a Alemanha. O que houve foi a leitura de seus textos, admirando sua capacidade de conjugar áreas cada vez mais separadas nestes tempos de especializações. Duas das grandes contribuições de Nicolau Sevcenko a uma junção inteligente dos pensamentos histórico, político e literário brasileiros estão nos seus livros Literatura como Missão (1983) e Orfeu Extático na Metrópole (1992).
Escrito como tese de doutorado durante a Ditadura Militar (1964 – 1985), Sevcenko parte em Literatura como Missão da escrita de Euclides da Cunha e Lima Barreto para contemplar a história política e das ideias do início do século 20. Num momento de embates políticos duais, entre direita e esquerda, resistência ou adesão ao ideário militar-desenvolvimentista do regime, a escolha de olhar para a realidade por meio da ficção não deixou de causar polêmica. No entanto, com homens como Sérgio Buarque de Holanda e Boris Schnaidermann na banca, Nicolau Sevcenko não apenas convenceu como gerou repercussão e admiração pela ousadia. Na entrevista já citada, ele comenta:
“Acho que a razão pela qual o livro teve uma repercussão tão grande e tão imediata foi a necessidade, naquele momento da abertura, de o país ter um projeto de futuro, que de alguma forma trouxesse consigo, como ideia dominante, a do resgate da dívida social brasileira. Era essa a questão que a ditadura tinha tirado de circulação. Ela colocou a questão do desenvolvimento a qualquer custo, da integração do país ao mercado internacional independente das condições específicas características da sociedade brasileira – a última grande sociedade escravocrata do mundo ocidental. Um erro. A dimensão da divida social brasileira é tão exponencial que ela tem de ser pleiteada em qualquer projeto político.”
Meu interesse pessoal pelo trabalho de Sevcenko vem também, especial e justamente por minha admiração pelos intelectuais brasileiros do final do século 19, a chamada geração de 1870, passando por Machado de Assis, Joaquim Nabuco e Capistrano de Abreu, os primeiros autores a lidarem com os dilemas políticos da transição entre o Império e a República, cujos projetos alimentariam as ideias e obras de Euclides da Cunha e Lima Barreto, sobre os quais Nicolau Sevcenko debruça-se admirável e admiradamente em seu livro mais conhecido, Literatura como Missão.
Numa visão ampla de uma geração ativa especificamente nas duas últimas décadas do século 19, podemos pensar ainda nos embates com estas questões por autores como Joaquim de Sousândrade, Raul Pompeia e Cruz e Sousa, que expuseram cada um à sua maneira as mazelas e inviabilidades da sociedade brasileira para além da atitude por vezes ingenuamente celebratória do Grupo de 1922. A louca tentativa de inserção do Brasil em um sistema do capital internacional sem um pensamento detido sobre as características culturais específicas do país, a gigantesca dívida social cujo balanço é sempre postergado e a violência inerente da sociedade brasileira (racista e sexista, nascida de um genocídio), que vemos encarnar-se do “Inferno de Wall Street” a O Ateneu, passando pela “Litania dos pobres”, assim como em toda a obra de Machado de Assis, mestre de todos, chegando ao século 20 de Os Sertões e Triste Fim de Policarpo Quaresma.
É uma geração admirável, e é uma pena que certos preconceitos (imposturas típicas e talvez compreensíveis das chamadas fases heroicas de um movimento literário) herdados dos nossos modernistas ainda turvem nossa visão quando olhamos para nossos modernos. Considero a expressão “pré-modernismo” uma verdadeira aberração crítica.
Orfeu Extático na Metrópole retorna à São Paulo dos anos 1920, iniciando sua narrativa em 1919, para traçar através dos jornais da época o espírito reinante na cidade, numa releitura inteligente do movimento modernista, captando o espírito de desenraizamento de milhares de imigrantes, como a própria família do autor logo seria, imigrantes cujos filhos, em um par de décadas, começariam a transformar a cultura nacional.
O fato do nome de Nicolau Sevcenko não comparecer com mais frequência entre os nomes dos grandes críticos literários brasileiros dos últimos 30 anos talvez seja apenas outro sintoma da separação pseudo-especializada dos campos do conhecimento. Seu trabalho é a prova de que uma pluralidade de interesses não precisa levar ao mero diletantismo. Seu desaparecimento é outra perda debilitante para o pensamento no país. O que podemos fazer, e o que eu pretendo sem dúvida fazer nos próximos tempos, é retornar aos textos de Nicolau Sevcenko.
Angélica Freitas e a crítica de amadores
Em texto publicado na revista Musa Rara no dia 8 de agosto deste ano, o crítico e professor Amador Ribeiro Neto faz vários ataques ao trabalho da escritora gaúcha Angélica Freitas, num tom não apenas violento como cheio de misoginia. Em tom jocoso, refere-se à autora como “poetisa” – expressão que a própria satiriza em seus textos e que a maioria das pessoas sabe ter caído em desuso no Brasil há pelo menos duas décadas, e chega a apropriar-se de versos seus em frases com implicações que me parecem asquerosas, como no trecho: “Então, por que abre a boca, menina? Oras, ‘esquece este papo’. E não reclame se enfio-lhe ‘os talheres’.” Em um país civilizado, o autor, assim como Edson Cruz, editor da revista, seriam chamados a desculpar-se em público.
Uma das mais lidas e polêmicas autoras da nova produção, seu trabalho tem gerado não poucos mal-entendidos. A crítica nacional, presa muitas vezes a pensar a produção brasileira dentro de um sistema literário nacional, acaba fazendo comparações apenas ao poema-piada dos primeiros modernistas, e às paródias da poesia escrita na década de 70. Mas a tradição da poesia satírica, tanto nacional como internacional, é muito mais ampla. Na Idade Média, perambulavam pela Europa os poetas que ficaram conhecidos como Goliardos. Membros do clero, eram uma trupe desbocada, bêbada e licenciosa, que escrevia poemas satíricos e eróticos em latim, atacando a hipocrisia da Igreja e dos governantes. Entre eles estava Hugo Primas e o mais famoso, conhecido apenas como Arquipoeta Goliardo, que escreveu os versos: “Meu propósito é morrer nalgum boteco, / Para que eu tenha vinho perto da boca. / Assim os anjos cantarão bem bonachos: / Que Deus tenha piedade desse borracho.”
À mesma época, havia na França a prática das fatras e fatrasies, pequenas canções que são os antecedentes da poesia do nonsense de ingleses como Edward Lear e alemães como Christian Morgenstern. No século XX, o nonsense e a sátira formaram grande parte da excelente produção poética de alemães como Hans Arp e Kurt Schwitters. Dentro da tradição brasileira, podemos pensar nos poemas de Bernardo Guimarães, Sapateiro Silva e Qorpo-Santo.
Para criticar a poesia satírica contemporânea, espera-se que um crítico conheça esta tradição e se refira a ela em sua crítica. Assim como a de mulheres como Nathalie Quintane ou Harryette Mullen, que têm usado estas práticas para denunciar tanto a misoginia quanto o racismo, como nos versos de Mullen: “não se canse diretoria / dê prática à sua teoria / ela pergunta se é coisa de homem / ou coisa de pronome // desejando a ele sorte / deu-lhe os limões que chupa / disse-lhe benzinho ao cangote / melhore sua embocadura”.
Poemas de Angélica Freitas como “Sereia a sério” e “Rilke shake”, publicados em seu livro de estreia, a ligam a esta tradição. Um poeta deveria ser julgado por aquilo que faz, não aquilo que não faz ou até mesmo se recusa a fazer. Além disso, é importante pensar no que escreveu Ezra Pound, autor que é tão macaqueado por críticos contemporâneos: “Tristeza e solenidade estão completamente fora de lugar até mesmo no mais rigoroso estudo de uma arte originalmente destinada a alegrar o coração humano”.
Alguns críticos se vestem de um tom autoritário e sacerdotal para tratar de uma arte que se originou e foi destinada aos aspectos mais lúdicos do espírito humano. Mas nosso crítico em questão, aparentemente investido da função de proteger a poesia, diz categórico: “poesia não é playground.”
Adeus, jogos de linguagem que nos deram tanto prazer, prazer simples, aquele que alegra apenas pelo texto, tantas vezes pelo puro nonsense.
Não se invoca um poeta de uma tradição para criticar outra tradição. É ridículo que um crítico invoque Arnaut Daniel e John Donne para criticar poemas satíricos. São poesias com propósitos distintos. Como comparar John Donne e Kurt Schwitters? Na poesia medieval dos provençais, havia três práticas: o trobar leu, composições leves destinadas a um público amplo, o trobar ric, composições mais sofisticadas destinadas a um público mais especializado, e o trobar clus, estilo hermético geralmente usado em textos de poetas para poetas. Havia saúde nisso. Se a crítica anseia apenas pelo trobar clus, o estilo hermético, é óbvio que não haverá um público amplo para a poesia. É importante que haja composições para todos os públicos.
Rilke shake
salta um rilke shake
com amor & ovomaltine
quando passo a noite insone
e não há nada que ilumine
eu peço um rilke shake
e como um toasted blake
sunny side para cima
quando estou triste
& sozinha enquanto
o amor não cega
bebo um rilke shake
e roço um toasted blake
na epiderme da manteiga
nada bate um rilke shake
no quesito anti-heartache
nada supera a batida
de um rilke com sorvete
por mais que você se deite
se deleite e se divirta
tem noites que a lua é fraca
as estrelas somem no piche
e aí quando não há cigarro
não há cerveja que preste
eu peço um rilke shake
engulo um toasted blake
e danço que nem dervixe
Não é necessário conhecer a tradição satírica, a do Arquipoeta Goliardo, de Sapateiro Silva ou Kurt Schwitters para entender este poema. As centenas de pessoas que esgotaram as tiragens dos livros de Angélica Freitas não têm esta obrigação, e não precisam dela. Há uma busca pela graça de linguagem, não apenas graça como humor.
Quem tem, no entanto, obrigação de conhecer esta tradição é aquele se propõe a provar que o poema acima não presta, não tem valor algum, e o faz com tamanha impostura e desonestidade intelectual, como o fez Amador Ribeiro Neto em sua crítica.
Seja ou não central, seja ou não menor, essa tradição existe e é muito saudável para a literatura de um país. A meu ver, Angélica Freitas tem sucesso na empreitada, fazendo-o com rimas inteligentes, e em sua fusão, por vezes, de estruturas da poesia satírica e da lírica, com recurso ao humor autodepreciativo. É eficiente e emociona.
Quanto ao segundo livro da poeta, Um útero é do tamanho de um punho (2012), mais uma vez o crítico falha miseravelmente em julgar o trabalho por aquilo a que se propôs. Uma das estratégias, não apenas literárias mas de linguagem até mesmo de rua, em grupos que têm sido violentamente oprimidos ao longo dos séculos, é o de apropriar-se da linguagem do opressor para subvertê-la em seus valores. Os textos de Angélica Freitas no segundo livro, como os da série “uma mulher”, propõem-se a isso, e devem ser julgados nesta empreitada. Como é possível que o crítico pensasse que ela estava querendo “emocionar” com estes textos? É completamente absurdo.
uma mulher sóbria
é uma mulher limpa
uma mulher ébria
é uma mulher suja
dos animais deste mundo
com unhas ou sem unhas
é da mulher ébria e suja
que tudo se aproveita
as orelhas o focinho
a barriga os joelhos
até o rabo em parafuso
os mindinhos os artelhos
Isto é o que a poesia satírica faz há tempos, é a sua tradição, pensemos aqui em Sapateiro Silva, Kurt Schwitters ou, no pós-guerra, Dieter Roth. É legítimo que um crítico prefira a poesia “séria”. Ele pode e deve saber mesmo diferenciar estas tradições. Isso, no entanto, requer um ato muitíssimo delicado do espírito: discernimento. Quando o crítico passa a querer hierarquizar estas tradições em linguagem pseudo-científica, percebemos de imediato que ele não possui capacidade para este delicado ato do espírito. A misoginia raivosa com que Amador Ribeiro Neto compôs seu texto apenas nos demonstra, mais uma vez, como o trabalho de Angélica Freitas, e de outras mulheres escrevendo no Brasil, segue sendo não apenas importante, como necessário.
Mas não devemos nos irritar em demasia. Eu, por exemplo, aprendi muito com este poema de Angélica Freitas, com o qual encerro este texto, por achá-lo tão apropriado para a ocasião:
às vezes nos reveses
penso em voltar para a england
dos deuses
mas até as inglesas sangram
todos os meses
e mandam her royal highness
à puta que a pariu.
digo: agüenta com altivez
segura o abacaxi com as duas mãos
doura tua tez
sob o sol dos trópicos e talvez
aprenderás a ser feliz
como as pombas da praça matriz
que voam alto
sagazes
e nos alvejam
com suas fezes
às vezes nos reveses
Primeiras impressões sobre o documentário “Outro Sertão”
Graças à generosidade de Adriana Jacobsen, que descobri ser minha vizinha no bairro de Prenzlauer Berg em Berlim, e de sua parceira Soraia Vilela, pude assistir ontem ao documentário Outro Sertão (2013), que retrata o escritor João Guimarães Rosa em sua passagem pela Alemanha Nazista como vice-cônsul brasileiro em Hamburgo, entre 1938 e 1942. O documentário tem sido bastante elogiado e recebeu o prêmio especial do júri por seu trabalho de pesquisa no 46º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.
João Guimarães Rosa é um dos escritores mais misteriosos da Literatura Brasileira. De certa forma, ele raramente parece incitar incursões biográficas. Com sua escrita densa, dá trabalho suficiente aos exegetas estritamente literários. É claro que isso se dá também num país que tem tradição algo exígua no que diz respeito a biografias. Há pouco tempo, o trabalho de pesquisa de Benjamin Moser causou alvoroço com sua bela e fundamentada biografia de Clarice Lispector, contemporânea de Guimarães Rosa, tendo ambos estreado em livro no mesmo período. Há quase nenhuma cena em movimento do escritor mineiro, e a entrevista inédita que as diretoras descobriram e incluíram no documentário certamente tem um valor especial para saciar esta curiosidade. O documentário ilumina um aspecto desconhecido da biografia de Rosa, e é compreensível que esteja sendo recebido com entusiasmo e, creio, especialmente carinho pela crítica nacional.
Eu precisaria, no entanto, apontar algumas discordâncias críticas. Assisti ao filme em Berlim, com dois amigos estrangeiros, um deles diretor francês de teatro e cinema. Houvesse visto o filme no Brasil, é possível que minha impressão tivesse sido outra, levado também pelo carinho e, especialmente, por estar entre pessoas que não necessitam de certa contextualização. Sabem quem foi o escritor João Guimarães Rosa e estão felizes por ter iluminada certa parte de sua vida, uma parte que tem ainda contornos tão heroicos e bonitos. Vi, no entanto, como disse, o filme em Berlim, com dois estrangeiros que não tinham o menor conhecimento sobre quem era João Guimarães Rosa. O escritor teve seu momento de fama na Alemanha, graças aos esforços de seu tradutor à época, Curt Meyer-Clason (1910 – 2012). O chamado Boom Latino-Americano também favoreceu alguns escritores brasileiros, como Guimarães Rosa e Jorge Amado. Hoje, porém, Guimarães Rosa é um ilustre desconhecido na Alemanha, o que se espera mude, quando for lançada a nova tradução de Berthold Zilly para Grande Sertão: Veredas.
Portanto, vendo o filme com estes amigos, creio que minha visão acabou sendo mais fria e crítica, analisando-o como documentário, para além do carinho e da curiosidade daquele que já tem informações. Neste aspecto, a julgar por meus dois companheiros de sessão, o filme, didaticamente, falha. Meus amigos comentaram ter saído do filme sem realmente saber quem era aquele homem, ou sua importância. Ainda que o documentário toque em sua obra literária, o faz de forma extremamente tangencial. Volta à sua vida escolar para nos relatar suas notas em alemão, tentanto criar certa simpatia, mas a cena parece não caber no filme, sem mencionar o salto estranho que faz ao passado. Neste aspecto, a montagem está certamente entre os maiores problemas do documentário. Salta de 1939 a 1941, retorna a 39, volta a 38, vai para o passado escolar do escritor, não segue uma cronologia consistente. É extremamente confusa a montagem. Não vejo a função cinematográfica desta escolha.
O filme parece depender, esteticamente, em demasia de nosso carinho e curiosidade pelo escritor, mas não informa muito. O material é certamente rico, mas saí do filme com a sensação de que o que foi mostrado em 70 minutos poderia ter sido mostrado com mais força em muito menos tempo, com uma montagem mais concisa. Quantas imagens de arquivo de Hamburgo precisamos ver? Quando o filme, já no final, mostra-nos um desenho de Guimarães Rosa e corta para cenas em um jardim zoológico, fiquei perplexo. Qual a função desta cena, ainda mais naquele momento do filme? O valor das imagens inéditas? Por que ali? Parecia quase inapropriado, seguindo em sequência as imagens que seguia. Cinematograficamente, além disso, a escolha de filmar textos e ter sua narração, ao mesmo tempo, é questionável.
O filme avança teses literárias, como a influência do período sobre a escrita de Grande Sertão: Veredas, mas não as prova ou, ao menos, desenvolve. Não há leituras de passagens do livro, comparações com outros textos do período. A declaração fica perdida. É apenas uma asserção.
Quanto a uma contextualização do período entre Brasil e Alemanha, as tentativas são também tímidas, perdidas. É mostrado que o Brasil tentou evitar a imigração de judeus, mas ela comparece para intensificar o aspecto verdadeiramente heroico de Rosa. O nome de Getúlio Vargas, por exemplo, sequer é citado. Em 1938, quando Guimarães Rosa segue para a Alemanha, vivia-se o auge do Estado Novo, implantado no ano anterior. A violência de caráter étnico que Guimarães Rosa encontra na Alemanha daquele período estava também no país. Se a belicosidade e o racismo alemães influem na percepção política de Rosa, teria sido frutífero pensar nas violências e belicosidades brasileiras da época. A ideologia eugênica da Europa havia deixado suas manchas na política e história do Brasil. Basta pensarmos em Os Sertões, de Euclides da Cunha, se estamos falando de Outro Sertão. Entre 1938 e 1940, terminava o ciclo histórico do cangaço, com a morte de Virgolino Ferreira da Silva, o Lampião, e sua mulher Marina Bonita, e a exibição de suas cabeças degoladas na escadaria da prefeitura de Piranhas, em Alagoas. Com a morte em 1940 de Cristino Cleto, o Corisco, há um arco que retrocede à Guerra Total que foi Canudos, entre a República brasileira e sua dissidência. As perseguições políticas dentro do Brasil no período ficam invisíveis no filme. As próprias perseguições étnicas brasileiras não comparecem, quando sabemos que, em 1938, o candomblé ainda era proibido por lei do Estado Novo, e sambistas do Rio precisavam subir o morro, fugindo da polícia, enquanto os de São Paulo nem morro tinham para subir. Não se trata de equiparar o que houve na Alemanha nazista e no Brasil estadonovista. Não é equiparar, nem querer equivaler. Trata-se de uma contextualização. Qual é o outro deste Outro do título?
O filme depende em demasiado de conhecimento prévio e de carinho para sua recepção. Mesmo a entrevista de Rosa na televisão alemã depende desta curiosidade carinhosa pois, como entrevista em si, não tem grande interesse, é bem possível que por culpa do entrevistador. Não é como a de Clarice Lispector, em 1977, cheia de declarações marcantes e poderosas da escritora, com interesse que vai além de nosso carinho e curiosidade por ela. A entrevista de Rosa é simplesmente… como dizer isso? Bem, chata. Talvez seja a coisa mineira de esconder o ouro.
Tal como foi editado, acredito que o filme poderia ser muito mais curto sem perder força, pelo contrário, ganhando-a. Em todos estes aspectos, o documentário me parece tímido. Vi o filme com entusiasmo genuíno, mas infelizmente saí dele com a sensação de ter acabado de testemunhar uma oportunidade, não diria perdida, mas não aproveitada em todas as suas implicações possíveis.




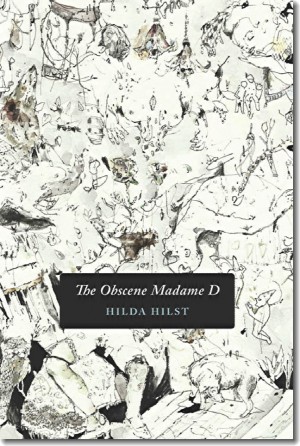
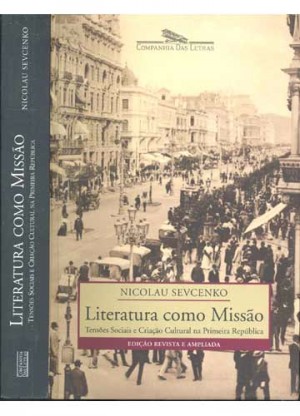





Feedback