Escritores brasileiros entre os países escondidos
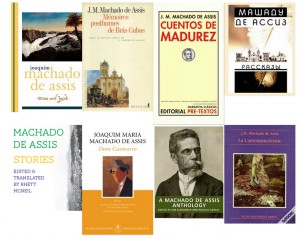 Vou começar este texto com uma pergunta que já me foi feita várias vezes na Alemanha e em outros países, intensificou-se durante o período da Feira do Livro de Frankfurt em 2013, e volta, vira e mexe: “Se eu tivesse que ler um único escritor brasileiro, qual seria?” São sempre pessoas bem-intencionadas, realmente interessadas, e, dependendo do meu humor, respondo, fazendo alguns apartes, tentando incluir dois ou três escritores mais na lista. Nos momentos de pouca paciência, respondo com outra: “Você faria esta pergunta a um russo, a um francês ou a um americano?” Pois, imagine a situação: perguntar a um cidadão de um país cuja literatura vem sendo celebrada e traduzida há décadas ou séculos, com vários autores de importância mundial, “se eu fosse ler apenas um russo/francês/americano, qual deveria ler?”
Vou começar este texto com uma pergunta que já me foi feita várias vezes na Alemanha e em outros países, intensificou-se durante o período da Feira do Livro de Frankfurt em 2013, e volta, vira e mexe: “Se eu tivesse que ler um único escritor brasileiro, qual seria?” São sempre pessoas bem-intencionadas, realmente interessadas, e, dependendo do meu humor, respondo, fazendo alguns apartes, tentando incluir dois ou três escritores mais na lista. Nos momentos de pouca paciência, respondo com outra: “Você faria esta pergunta a um russo, a um francês ou a um americano?” Pois, imagine a situação: perguntar a um cidadão de um país cuja literatura vem sendo celebrada e traduzida há décadas ou séculos, com vários autores de importância mundial, “se eu fosse ler apenas um russo/francês/americano, qual deveria ler?”
Mas um país como a Rússia, para a tomarmos como exemplo, tem tido importância geopolítica crucial para o globo, seus autores têm influenciado outras literaturas, e uma pessoa saberia o ridículo de imaginar-se lendo apenas Dostoiéviski e, assim, perder Tchékhov, Tolstói, Maiakóvski, Tsvetáieva, e assim por diante. E, mesmo assim, não lemos Tchékhov ou Maiakóvski porque eles são russos, mas porque são Tchékhov e Maiakóvski, em primeiro lugar, mas sabendo que através deles recebemos informações sobre a vida russa. São escritores universais que não poderiam ter nascido em qualquer outro lugar, ou seriam autores diferentes. A relação entre local e universal talvez seja uma das mais difíceis de definir.
Talvez você esteja se perguntando: “mas, quando você responde, qual autor menciona?” Eu respondo, sem titubear, Machado de Assis. Quanto ao aparte, tento educadamente apontar que o leitor interessado deveria lê-lo, não porque seja brasileiro, mas porque um leitor realmente interessado na literatura ocidental, que não conheça Machado de Assis, tem uma lacuna em sua biblioteca tal qual não houvesse lido Flaubert ou Tchékhov. Uma pessoa deveria ler Machado de Assis porque ele foi Machado de Assis, mas, ao mesmo tempo, sei que o nosso grande autor local e universal, entre alguns outros, não poderia ter escrito o que escreveu em outro país além do Brasil. Como Flaubert, universal, é francês, e Tchékohv, universal, é russo. Um grande poema do século 20 como “A mesa”, de Carlos Drummond de Andrade, poderia ter sido escrito por alguém que não tivesse nascido no Brasil, e, ainda mais, em Minas Gerais? Mais uma vez, repito: definir esta relação entre universal e local seria assunto para vários tomos. Quanto à narrativa histórica da literatura no século 20, o crítico italiano Alfonso Berardinelli levanta algumas destas questões de forma muito interessante em seu ensaio “Cosmopolitismo e provincianismo na poesia moderna” [Da Poesia à Prosa, São Paulo: CosacNaify, 2007. Tradução de Maurício Santana Dias].
Nele, Berardinelli discute a relação entre o cosmopolitismo de poetas internacionais como André Breton, T. S. Eliot, Jorge Luis Borges e Giuseppe Ungaretti, em oposição a autores que se mantiveram fieis a certo localismo, como Antonio Machado, Miguel Hernández, Williams Carlos Williams e Sandro Penna. Ao ler o ensaio, me pareceu que seria uma tarefa interessante pensar nas complicações da inserção da poesia brasileira no cenário dos Modernismos Internacionais a partir desta relação entre cosmopolitismo e localismo, já que a maior parte da poesia e prosa brasileiras modernas fincaram pé em sua própria terra: eram modernas e locais. Isso as torna menos universais? É importante notar que Berardinelli usa o termo “cosmopolita”, não “universal.” O crítico italiano percebe uma mudança em nossos parâmteros, passando a dar maior ou a mesma importância ao universalismo do local, e, realmente, hoje Williams parece ter suplantado Eliot nos Estados Unidos, e confesso ter nos últimos tempos maior interesse em poetas italianos como Cesare Pavese, Sandro Penna ou Giorgio Caproni que na lírica hermética, “cosmopolita”, de Ungaretti e Quasimodo. O grande Pier Paolo Pasolini é um poeta eminentemente local, italiano, por vezes escrevendo até mesmo no dialeto de sua mãe, o friuliano, e, no entanto, tem um alcance que vai muito além das fronteiras da Itália.
A importância geopolítica de um país, e o uso político que faz o Governo de sua cultura, têm efeitos intensos sobre a recepção da literatura e arte daquele território no resto do mundo. Bombardeados como fomos por Hollywood, espalhando a mitologia identitária norte-americana pelo globo, não nos é, hoje, tão difícil adentrar uma literatura tão localista e insular como a norte-americana. Parece-nos fácil chamar de universais trabalhos bastante localistas como As I Lay Dying (1930), de William Faulkner, ou On The Road (1957), de Jack Kerouac. Mas, quantas notas-de-rodapé um americano precisaria para compreender Macunaíma (1928), de Mário de Andrade, ou Grande Sertão: Veredas (1956), de João Guimarães Rosa, tão marcados e determinantes para nossa mitologia identitária? Serão mais cosmopolitas ou menos localistas Clarice Lispector e Hilda Hilst, que vêm sendo celebradas no Estados Unidos nos últimos dois anos? A Hora da Estrela (1977) poderia ter sido escrita em outro país? E A Obscena Senhora D (1982)?
Não são perguntas fáceis de responder. Sabemos que, por vezes, aquilo que parece mais simples e direto torna-se o mais difícil de traduzir. Não sei se um dia alguma tradução poderá mostrar a estrangeiros a grandeza da simplicidade de Manuel Bandeira. E estes são todos escritores brasileiros que deveriam ser conhecidos, como devem ser conhecidos outros autores, de tantos países. Como escreveu o poeta inglês Andrew Marvell, “had we but world enough, and time.”
Sim, o Brasil é um país enorme, com centenas de milhões de habitantes, importante geopoliticamente, e produziu algumas joias da modernidade ocidental, como Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), O Guesa (1884), alguns poemas de Cruz e Sousa, Os Sertões (1902), Memórias Sentimentais de João Miramar (1924), Angústia (1936) [tão superior a O Estrangeiro (1942), de Camus, p.ex. e em minha opinião], Grande Sertão: Veredas (1956), Crônica da Casa Assassinada (1959), A Paixão segundo GH (1964) ou A Obscena Senhora D (1982), além de poemas de Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, Henriqueta Lisboa, João Cabral de Melo Neto, Augusto de Campos, e outros. Certamente, a coisa tem mudado. Já escrevi para a DW Brasil sobre a recepção internacional tanto de Clarice Lispector [“Romances de Clarice Lispector voltam a despertar interesse internacional”, DW Brasil, 28.06.2012] quanto de Hilda Hilst [“A recepção de Hilda Hilst em língua inglesa“, DW Brasil, 12.09.2014]. Para 2016, a escritora e tradudora alemã Odile Kennel e eu planejamos a primeira antologia de Hilda Hilst em alemão, a sair por minha editora aqui, a Verlagshaus J. Frank, em uma coleção de poetas internacionais mortos que já conta com antologias do grego Konstantínos Kaváfis, do britânico Wilfred Owen e do russo Vladimir Maiakóvski. Poetas extremamente locais, mas que o mundo não teme em chamar de universais.
Mas, se frequentemente nos irritamos com o desconhecimento do público internacional em relação a nossa literatura, podemos realmente jogar pedras na casa do vizinho, ou talvez nossa casa seja de vidro, para usar o ditado americano? Por exemplo, este ano a Feira do Livro de Frankfurt homenageia a literatura da Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo. Os três mais populosos, logo à frente, são China, Estados Unidos e Índia. Logo em seguida, em quinto lugar, vem o Brasil. Pois bem, quantos escritores indonésios você leu ou poderia mencionar, assim, de cabeça? Eu, sinceramente, só poderia agora mencionar o poeta e prosador Afrizal Malna (Jacarta, 1957), e tão-só porque o conheci e li com ele em um festival de poesia na Holanda, no ano passado. Hoje, graças à revista americana Asymptote Journal, que dedica bastante energia a divulgar autores internacionais nos Estados Unidos (já publicou Hilda Hilst, Waly Salomão, Nuno Ramos e Paulo Scott, por exemplo), descobri a poeta e arquiteta Avianti Armand, nascida em Jacarta em 1969. A revista menciona, em um artigo sobre a literatura indonésia contemporânea, o autor Pramoedya Ananta Toer (1925-2006), que parece funcionar para a literatura indonésia como Jorge Amado por muito tempo funcionou para a brasileira e Gabriel García Márquez para a colombiana. Ou seja, “aquele único autor” do país que deve cumprir o papel de porta-voz e compêndio de todas as experiências do território, quando se trata de um país do qual o “mundo civilizado” não espera demasiado. Pessoalmente, veja bem, não me lembrava de jamais ter ouvido falar de Pramoedya Ananta Toer. E quanto a um clássico da literatura indonésia, do porte de Machado de Assis ou Anton Tchékhov? Eu não saberia responder, da mesma forma que imagino que um holandês ou indonésio possam perfeitamente, apesar de cultíssimos, jamais ter ouvido falar de Machado de Assis. Quantos autores australianos conheço, daquele país enorme? Será que um dia o excelente escritor zimbabuense Dambudzo Marechera (1952-1987) será traduzido no Brasil? Enfim, nós mal conhecemos a poesia produzida no território brasileiro em línguas que não a portuguesa, como a poesia araweté, a maxakali ou a kuikuro.
E aqui chegamos talvez à doença da qual tudo o que discuti acima sejam apenas os sintomas: nossa mentalidade colonial e colonialista, ainda imperando em pleno século 21. E, contra esta doença, a tradução continua sendo o melhor remédio. Traduzir, traduzir, traduzir: indonénios, zimbabuenses, australianos, húngaros, e, por que não?, mais russos, e mais franceses, e mais americanos. Mas com uma certa atenção para nossas grandes lacunas de gente cultíssima.


