Uma canção austríaca, uma fotografia síria, um poema ganês
Conexões em tudo, todos os que estão vivos, e os que morrem um pouco antes de nós. Você começa um texto querendo falar sobre uma canção de um cantor e compositor austríaco que acaba de aparecer no cenário. Na pausa para um cigarro, abre as redes sociais. Uma imagem aparece, uma fotografia. Nela, uma mulher segura seu bebê contra seu seio na cama, uma cama de casal, e a seu lado está ainda um menino, com certeza também seu filho, aninhado à cabeceira, com não mais de cinco anos de idade. Estão cobertos de algo branco, como se uma tempestade de neve os tivesse surpreendido durante uma canção de ninar. Uma das mãos da mulher parece ter se congelado no ato de erguer-se, talvez o movimento de proteger-se, proteger com uma das partes do corpo outra parte do corpo, mais essencial. E não somos como as holotúrias, aqueles animais marinhos que podem sacrificar uma parte do corpo, dando-a ao predador para poder escapar com as mais essenciais. Sobre eles, um homem paira como se fosse um inspetor. Os três sobre a cama estão mortos, a coisa fina e esbranquiçada sobre eles não é neve, mas o pó de escombros. Mortos durante a noite em um bombardeio. A fotografia foi feita em Aleppo. Você não tem como desvê-la.
Na noite anterior, você havia lido um ensaio de Teju Cole, um de seus vários textos sobre fotografia, no qual ele cita Susan Sontag, argumentando como a função defendida por fotógrafos de imagens de guerra seria a de nos despertar, mas como o fluxo constante dessas imagens acaba por nos anestesiar. Parecemos todos agora pacientes anestesiados sobre uma mesa, como no verso de abertura da Terra Devastada, de T.S. Eliot. Não, não todos. Alguns estão erguendo a mão direita para proteger a cabeça, enquanto a esquerda aperta o filho contra o seio. Enquanto isso, eleições para o trono de ferro em Washington aproximam-se, e amigos falam sobre o menor entre dois males, e parecemos reduzidos a defesas por estatísticas, tendo que escolher entre o que matará muitos e o que matará talvez um pouquinho menos. Uma escolha levará a centenas de milhares de mortos, a outra a talvez alguns milhares a menos.
Você então sai, porque está com fome, e caminha pelas ruas de luxo de uma capital europeia, o luxo que vem do dinheiro sujo de sangue do sistema colonial que construiu a riqueza das ruas, e não tem como evitar sentir-se com sorte por estar ali, explorando o mesmo dinheiro sujo de sangue. Você reprime o sangue do colonizador em si e reclama a herança também sua do sangue dos colonizados, e espera que isso seja algum tipo de absolvição. A caminho do restaurante, passa por vitrines e deseja, deseja aquele maravilhoso casaco de lã! Aquele deslumbrante abrigo de tricô! Sem se importar muito com as mãos que os tricotaram e teceram. Na calçada, uma mulher sentada no chão joga para o alto o que parecem ser uns trapos enrolados e, ao aproximar-se, percebe que ela está brincando com o filho, um bebê. Ocupada com isso, não ergue a mão.
No restaurante de kebab da esquina, toca pelas caixas de som uma canção em árabe, melancólica como sempre soam para você essas canções em árabe, e você pede uma cafta. Carne, daquela espécie cuja prisão em manadas para extermínio vai destruindo o planeta, e você jura que será a última vez, a última vez. Mas sabe que mente. Enquanto espera, reabre o livro de Teju Cole e começa a ler um ensaio sobre Kofi Awoonor, o poeta de Gana que foi morto durante os ataques de 2013 em Nairóbi. Pensa naqueles versos das Songs of Sorrow, de Awoonor: “I am on the world’s extreme corner, / I am not sitting in the row with the eminent / But those who are lucky / Sit in the middle and forget / I am on the world’s extreme corner / I can only go beyond and forget.”
Em casa, querendo voltar ao texto, você ouve de novo a canção do austríaco Oskar May, e alguns versos dizem: “Oh! come on, now let’s cut it out / We don’t have much time anymore / You keep on telling yourself your lies / But you know pretty well what you are.”
Há pouco tempo, houve uma polêmica nas redes sociais porque a famosa fotografia da menina vietnamita correndo nua de um ataque americano com napalm teria sido censurada pelo Facebook. Eu próprio compartilhei com amigos a opinião de que isso era absurdo. Mas, talvez olhando por outro ângulo, qual o propósito de postar aquela foto uma vez mais nas redes sociais? Ao mesmo tempo, como chamar a atenção para a guerra de todos contra todos em que estamos, ao ver mais soldados belgas nas ruas de Bruxelas, onde estou, caminhando com suas metralhadoras? Em outra canção de Oskar May, ele canta: “We have lost the war / We have lost the war / Centuries ago.”
Minha janela, ao terminar esse texto, está aberta na direção do bairro de Molenbeek, de onde sopra um vento.
Carta a um contemporâneo do outro lado da trincheira
“Porque eu, meu filho, eu só tenho a fome. E esse modo instável
de pegar uma maçã no escuro, sem que ela caia.”
Clarice Lispector, A Maçã no Escuro (1951)
Meu querido amigo, espero que esta o encontre bem, assim como os seus. Quem dera nos víssemos com a mesma frequência que nossos contemporâneos se lançam a polêmicas. Mas as últimas me trouxeram de novo uma questão à mente, algo com o qual não consigo me acostumar, uma coisa estranha que afeta tanto o campo a que dizem que você pertence, a chamada direita, e aquele a que dizem que pertenço, a tal esquerda. Em primeiro lugar, a forma como cada campo sempre escolhe nivelar o outro por baixo, pelos piores exemplos, para facilitar sua vitória argumentativa, que talvez seja sempre pírrica.
Veja por exemplo estas homenagens que pipocaram na Rede pelos nove anos de morte de Bruno Tolentino, que estou certo as merece como qualquer outro intelectual brasileiro que tenha defendido aquilo em que acreditava to the best of his or her abilities. A maneira como o seu campo acusa algumas de nossas preocupações políticas no campo literário como sendo “extra-literárias”, não tendo nada a ver com poesia de fato e, no entanto, não consegue deixar de apelar sempre a valores morais para celebrar seus heróis. Li vários apelos ao “projeto civilizatório” de Tolentino, com elogios morais a sua pessoa, e asserções sobre sua obra sem muita análise literária. São os valores que o guiaram que parecem contar.
Estou certo que é muito possível que Bruno Tolentino venha ainda a ocupar seu espaço. Obviamente já o ocupa, se tantos o elogiam e o reivindicam como influência. Mas o que parece estar em jogo, como sempre, é uma questão de hegemonia ideológica. É claro que vocês jamais veriam desta forma, já que “ideologia” é a sempre a doença do campo adversário.
Nem Shakespeare nem Balzac impediram o projeto colonizador genocida da Grã-Bretanha e da França. É óbvio que seria uma estultícia esperar isso deles. Mas é o que estes clamores civilizatórios muitas vezes parecem implicar. Ah, se ao menos lêssemos mais Shakespeare e Balzac, seríamos então mais civilizados! Estes gritos “contra a barbárie contemporânea”. A barbárie sempre esteve entre nós, muitas vezes, talvez a maioria, liderada pelos bem-pensantes. Como nas páginas de Jean Améry, quando ele escreve:
“… uma pequena pressão da mão que controla o aparelho é suficiente para transformar a outra – junto com sua cabeça, na qual talvez estejam arquivados Kant e Hegel, e todas as nove sinfonias, e O Mundo como Vontade e Representação – num leitão guinchante no matadouro.”
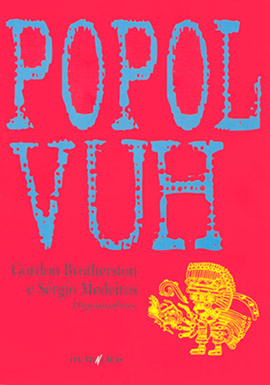 Se nosso projeto, sendo honestos, é “civilizatório” (ainda que Machado de Assis e Clarice Lispector, cada qual a sua maneira, já nos tenham alertado contra tal ilusão), não seria muito mais efetivo tentar, sem abrir mão de Shakespeare e Balzac, também uma abertura ao Outro, a outros projetos de civilização, dos poetas chineses da Dinastia Tang aos griots africanos, das cosmogonias ameríndias aos grandes poemas escondidos de nós em línguas não oficiais? E, se mencionamos os chineses, não nos significará um enriquecimento das possibilidades do minimalismo, conhecer tanto os haikais clássicos dos chineses quanto os landays anônimos das mulheres afegãs, uma tradição viva ainda hoje? Não só A Odisseia, mas também o Popol Vuh? Não apenas os grandes homens brancos, mas também as grandes mulheres brancas e negras? Homossexuais como Kaváfis, Villaurrutia e Pasolini, para quem a sexualidade era central em seus projetos líricos? Reconhecermos que nós mesmos vivemos em uma terra de culturas milenares, que tem muito mais línguas e tradições que apenas a lusófona? O que há de tão bárbaro nesta reivindicação?
Se nosso projeto, sendo honestos, é “civilizatório” (ainda que Machado de Assis e Clarice Lispector, cada qual a sua maneira, já nos tenham alertado contra tal ilusão), não seria muito mais efetivo tentar, sem abrir mão de Shakespeare e Balzac, também uma abertura ao Outro, a outros projetos de civilização, dos poetas chineses da Dinastia Tang aos griots africanos, das cosmogonias ameríndias aos grandes poemas escondidos de nós em línguas não oficiais? E, se mencionamos os chineses, não nos significará um enriquecimento das possibilidades do minimalismo, conhecer tanto os haikais clássicos dos chineses quanto os landays anônimos das mulheres afegãs, uma tradição viva ainda hoje? Não só A Odisseia, mas também o Popol Vuh? Não apenas os grandes homens brancos, mas também as grandes mulheres brancas e negras? Homossexuais como Kaváfis, Villaurrutia e Pasolini, para quem a sexualidade era central em seus projetos líricos? Reconhecermos que nós mesmos vivemos em uma terra de culturas milenares, que tem muito mais línguas e tradições que apenas a lusófona? O que há de tão bárbaro nesta reivindicação?
Por fim, nossa lealdade está com a poesia ou com o cânone? Até quando vão confundir os dois? E que fetiche é este por um Ocidente imaginário, que tem tanto sangue manchando as mãos, escondidas sob as luvas? Um Ocidente que causou tanta destruição em nossa própria terra? Já não deveríamos saber muito bem a que nos levou o projeto civilizatório do Ocidente?
A última coisa que quero nestes dias é me entregar a polemicazinhas de machos-alfa que não conseguem sair da rinha e do ringue, feito os velhinhos Ferreira Gullar e Augusto de Campos, constrangendo-se em público. Mas, ou somos todos um pouco mais honestos sobre a maneira como nossas ideologias e conflituosos projetos civilizatórios guiam nossas leituras e nossa escrita, ou essas discussões todas serão sempre tingidas de desonestidade.
E, pois bem, se minha recusa do projeto civilizatório tal qual vem sendo praticado no Ocidente pelos últimos 600 anos – digamos desde 1348, data da Grande Praga que dizem ter destruído a cultura trovadoresca–, não tenho o menor problema com que chamem o meu projeto e minha ideologia de anti-civilizatória.
Por fim, talvez desconexo disso tudo, mas nem tanto, me despeço de meu grande amigo, querido contemporâneo exato, por quem nutro a admiração que você por sua vez nutre por Bruno Tolentino, recomendando a você e aos seus a leitura de Os Anéis de Saturno, de W.G. Sebald, outro que nos alerta sobre nossas ilusões civilizatórias.
Com o abraço fraterno e leal, sabendo que poderei esconder-me em sua casa quando vier a Guerra Civil, tal qual Federico García Lorca escondeu-se na de Luis Rosales,
teu Ricardo.
No cemitério com Sebald
Não muito longe de onde moro em Berlim, no bairro de Prenzlauer Berg, na antiga Berlim Oriental, há um cemitério pequenininho, o Friedhofspark Pappelallee, ou, literalmente, Cemitério-Parque da Pappelallee. A palavra parque é um dos motivos pelos quais eu, por muito tempo, não percebi que se tratava de um cemitério, apesar de ter vivido naquela rua por alguns anos. O cemitério, que já não recebe novos moradores definitivos, é hoje em dia usado como um parque. No verão, vive cheio de mães e crianças, todas muito vivas. Quando finalmente percebi que era um cemitério, aquilo me causou muita estranheza.
No Brasil, quando minha mãe nos levava ao cemitério de Bebedouro para lavar o jazigo da família, naquele ritual de Dia dos Finados que já parece ter caído em desuso em São Paulo (toda tradição e todo ritual morrem primeiro em São Paulo), ao chegar em casa ela nos despia por completo, e lavava tudo, inclusive os sapatos. Nunca me esqueci da primeira vez que perguntei por quê: “não se traz morte para casa”, ela disse. É claro que havia um motivo, digamos, empírico para a coisa. Acreditando que o lugar estava cheio de micróbios, ela achava melhor lavar as crianças. Mas em mim calou fundo o sentido místico da coisa: não se traz morte para casa. Entre a ciência dos micróbios e a superstição do mórbido, antes estar seguro. Cemitérios, por toda a minha vida, ficaram marcados como lugares que, se possível, alguém deve evitar.
Há uma diferença grande entre os cemitérios brasileiros e alemães, é claro. Todos de concreto, nos quais a vida se esgueira como erva-daninha entre rachaduras, os cemitérios brasileiros são mesmo lugares lúgubres. Na Alemanha, são os lugares mais verdes e agradáveis que alguém pode encontrar, às vezes, num raio de quilômetros. Em 2012, após dizer a amigos mais uma vez que era óbvio que não, eu não queria dar uma volta no cemitério, e após terem rido de mim pela óbvia besteira supersticiosa minha, resolvi que me curaria dela na marra: estava prestes a começar a ler um livro novo e decidi que só o leria, nas próximas semanas, no cemitério. Era verão. Eu estava passando alguns meses em Kreuzberg, próximo ao complexo dos quatro cemitérios da Bergmannstrasse. O livro em questão era Os Anéis de Saturno (1995), do alemão W.G. Sebald (1944–2001). Não sei se estava preparado para o quão apropriada era a escolha do acaso destineiro.
O cemitério que passei a visitar para ler o livro era o Friedrichswerderscher Friedhof, próximo à Marheinekeplatz. É um lugar bastante calmo e bonito. Eu nem me embrenhava muito nele. A alguns metros da entrada há um banco, onde me sentava. Havia túmulos às minhas costas e à minha frente. Ali comecei a descida em espiral que é o livro de Sebald, talvez o mais celebrado autor alemão (fora da Alemanha) dos últimos 20 anos. Na Alemanha, a fortuna crítica de Sebald é estranha, como a de Celan (mas isto é assunto para outro texto).
O livro tem como subtítulo Uma peregrinação inglesa. O narrador, sem nome, que se confunde com o autor, narra sua caminhada pelo leste do país, em East Anglia (é deste povo antigo que deriva o nome Inglaterra), em Norfolk e Suffolk. O narrador descreve o que vê em sua caminhada, pausando para o que parecem digressões históricas sobre vários assuntos aparentemente desconexos: do mais famoso tradutor do alemão para o inglês, Michael Hamburger, ao naturalista inglês Thomas Browne (1605 – 1682); da introdução de bichos-da-seda à Europa e fabricação do tecido ao disco dourado que seguiu na Voyager 2 em sua viagem ao Espaço; de uma visita à Chestnut Tree Farm, onde um certo Thomas Abrams vem dedicando anos de sua vida a construir uma réplica em miniatura do Templo de Salomão, aos horrores da colonização belga no Congo.
Se no começo o leitor parece perder-se, esperando quais as ligações entre um naturalista inglês e uma espaçonave, entre bichos-da-seda e uma réplica em miniatura do Templo de Salomão, ele não tarda a ser tomado pela mão por Sebald, que vai fechando os círculos narrativos, demonstrando a ligação entre todas estas coisas, mas não de forma definitiva, para que sigamos em nossa queda em espiral pelos escombros da História. É uma lenta narrativa da decadência. Como se, enquanto o Anjo de Klee olha para trás, descrito por Walter Benjamin como encarando a tempestade da História que vem às costas, Sebald nos levasse por uma peregrinação não apenas pelo leste da Inglaterra, mas pelos escombros que se amontoam aos pés daquele anjo com torcicolo.
Curei-me do horror a cemitérios. Mas fiquei alguns dias mal, sem conseguir sair do cemitério que é a História. Um livro que se quer despretensioso, um misto de diário de caminhada e meditação, Os Anéis de Saturno é um dos livros mais fascinantes que já li. Talvez tenha sido a última vez que senti febre ao ler um livro. Mas, num cemitério ou num parque, sente febre apenas quem está vivo. E os vivos criam fronteiras entre terras e suas histórias para esquecer que os mortos do mundo estão todos de mãos dadas, à nossa espera.
Literatura desaparecida: 40 anos do Golpe Militar na Argentina
“Escribe mientras sea posible. Escribe cuando sea imposible. Ama el silencio.”
— Miguel Ángel Bustos, desaparecido em 1976
Há 40 anos, ocorria o Golpe Militar na Argentina, que deixaria ainda mais mortos e desaparecidos pelo continente latino-americano. No Brasil, estávamos no décimo-segundo ano da ditadura militar – aquela que alguns no país hoje ainda insistem em tratar com nostalgia. Aquelas imagens das Mães da Praça de Maio permanecem como alguns dos atos de coragem e desobediência civil exemplares em nosso continente.
Há alguns dias, descobri o trabalho do fotógrafo argentino Gustavo Germano. Em sua série “Ausencias”, com uma estratégia ético-estética simples e eficiente em seu soco na boca de nosso estômago, o fotógrafo refaz fotos de amigos e famílias dos anos 1960 e 70, deixando vago o local onde seus entes queridos desaparecidos deveriam estar, não tivessem sido sequestrados por um regime assassino.
Sendo este um blog dedicado à literatura, gostaria de tomar o dia de hoje, no entanto, para chamar a atenção dos leitores a um outo projeto bastante comovente em nosso país vizinho, capitaneado pelo poeta e jurista Julián Axat, nascido em Buenos Aires naquele fatídico ano de 1976. Ele próprio filho de desaparecidos, tem se dedicado com afinco em manter viva a memória das milhares de vítimas da Junta Militar argentina. Em sua coleção “Detectives Salvajes”, que toma o título do romance de Roberto Bolaño (1953-2003), Axat vem publicando a literatura deixada por escritores que desapareceram pelas valas comuns, desertos e o oceano que banha nossa parte do mundo-cão.
A ditadura tocou vários escritores do país, como o grande Juan Gelman, que passou anos em busca da neta. Em 1995, quase uma década antes de poder finalmente abraçá-la, escreveu uma carta que começava assim: “Dentro de seis meses cumplirás 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración.” É a história de tantas famílias latino-americanas.
Graças aos esforços de Julián Axat, pude descobrir dois jovens escritores que desapareceram na noite escura do continente: Miguel Ángel Bustos, desaparecido em 1976, e Carlos Aiub, desaparecido em 1977, o ano em que nasci. Abro este pequeno texto em homenagem a todos os desaparecidos e sobreviventes do país vizinho com uma citação de Bustos. Permitam-me encerrá-lo com alguns versos de Aiub, sussurrando que sim, alguns de nós nos lembramos e, ao mesmo tempo, NUNCA MAIS.
“temer el dolor como cuando siempre
la forma del dolor y de la muerte empezás
también a imaginarla y temés
temés también tu olvido
o algo así
el qué pensarán de vos
si te recordarán
si tu nombre bautizará algo o servirá para algo
temer el final que no te deje ver el final
la victoria viste
las cosas nuevas que buscás
el nuevo sueño chiquitín continuado
temer todo eso y entonces si temer la muerte
que se puede venir y no la deseás
y te aferrás a la vida con todo
porque querés vivir simplemente para ver
cuando al final la vida viva
el nuevo dolor lo pensás más tarde.”
(Carlos Aiub, desaparecido em 1977)
Quando o Brasil for o que acredita que é
Este texto ia ter outro título e partir por outro caminho. Como dar conta das notícias absurdas que se empilham diante da porta, vindas do Brasil? Uma das saídas tem sido a comicidade, o riso. Afinal, uma das únicas fontes de notícias no país, hoje, que poderíamos chamar de imparcial é a publicação satírica O Sensacionalista. Quando foi publicado o texto do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Polícia Federal durante sua condução coercitiva, com aqueles detalhes cômicos sobre café e misto-quente, o escritor Victor Heringer comentou que se um grupo de teatro decidisse encenar o texto, seria uma perfeita peça de Harold Pinter. O Nobel de 2005 trabalhava com o absurdo em sua dramaturgia, tendo seu estilo sido chamado de “Comedy of Menace”, algo como comédia da ameaça. Minha resposta a ele, no mesmo clima de absurdismo, era que após análise filológica me parecia mais provável que a autoria da peça fosse de Qorpo-Santo, o “louco” brasileiro do século 19 que já foi chamado tanto de precursor do Teatro do Absurdo como do surrealismo. O próprio Heringer comentou hoje: “Solidariedade aos confrades cronistas que estão com o Word aberto neste momento pensando ‘Não sei nem por onde começar’. Obrigado, Heringer. Nem sei por onde começar.
Uma das saídas para aqueles se sentem impotentes para além do comando dos próprios cérebros e bocas tem sido o humor. E no meio do caos de quarta-feira, 16.03, devo ter gargalhado algumas vezes, alto, com comentários da esquerda verdadeira no país. Não tenho contatos suficientes à direita para saber se têm o mesmo humor. Duvido. São melhores no batuque de panela. Mesmo o artigo sobre a situação do país no jornal alemão Die Zeit, do jornalista Thomas Fischermann, brincou com a trama da série norte-americana em meio à nossa crise política. Escrito no Rio de Janeiro, tenho certeza de que o jornalista alemão pegou a piada com brasileiros. No país das novelas, parecemos estar diante de outra, porém um tanto mais trágica e farsesca que o normal. E qual seria o horário mais apropriado para esta? Com certeza, após as 10 da noite. O poeta paulista Marco Catalão comentou: “A dramaturgia está sensacional, com reviravoltas a cada minuto. O problema é o preço do ingresso.”
Já o poeta carioca Italo Diblasi criou sua personagem fictícia Simão Sinésio em um dos melhores textos que li nesta bagunça toda, encerrando-o assim:
“E aqui nos encontramos, ao estágio do mito-brasil descrito por Simão em que as massas se dividem. Há quem consulte os relógios e os bancos; há quem consulte a bolsa de valores ou o próprio estômago. Há os que olham para a televisão, para o horizonte e para o céus. Há os que olham para o mar à espera do rei. Enquanto isso, Lula, cognominado ‘A Jararaca do rabo partido’, declara guerra e reúne as tropas. O baralho de ouros se agita e também estende as garras. Não faltam acusações e há farsas. Os acusadores bradam a aletheia, a verdade. A imprensa defende o seu naipe, e instiga: Bandido ou Herói? E também isso Simão Sinésio, o Bardo, o que perambulou pregando, já havia respondido: em matéria de Brasil, Os dois!” [Italo Diblasi, “Um Cordel Perdido ou O Mito-Brasil“, Modo de Usar & Co., 9-3.16]
Ao trazer Qorpo-Santo à baila, busquei textos seus, mas acabei descobrindo outro poeta no processo, o modernista gaúcho Tyrteu Rocha Vianna (1898-1963), autor de um único livro, Saco de viagem (1928), no qual encontrei os versos:
Trapo nem verde nem amarelo nem mais nada
Meu Pai respondente
Sentado me dizia
É o regime econômico vaca magra
Das tetudas economias invisíveis
Do dinheiro municipal calotíssimo
Desde Gregório de Matos, o primeiro grande poeta brasileiro lusófono, é a sátira que nos redime, talvez um pouquinho. E como permanecem atuais os textos de Gregório de Matos, de Sapateiro Silva, de Qorpo-Santo, de Luiz Gama, de Oswald de Andrade, de Tyrteu Rocha Vianna.
Mas chegou um momento quarta à noite, em meio ao circo televisionado pelo Jornal Nacional, em que precisei parar tudo e ouvir Pixinguinha. Para me lembrar de que o país poderia ser muito mais do que um mero circo de quinta categoria em chamas. Depois, li um poema de Manuel Bandeira. Olhei algumas pinturas de Tarsila do Amaral. Este país poderia ser tanto mais do que um picadeiro de palhaços furiosos. Eu só queria que o Brasil fosse como Pixinguinha, como Manuel Bandeira. Não é pedir demais. Eles já vieram e apontaram o caminho. Não estou pedindo Bach e Shakespeare. Só Pixinguinha e Bandeira.
É. Se alguém me perguntasse o que eu esperava do Brasil, o que eu gostaria que ele se tornasse, responderia simplesmente: que o Brasil se torne aquilo que acredita que já é. Que o Brasil se torne aquilo que me disseram que era, quando criança. Que conto de fadas lindo era aquele! Que fábula! Como é bonito o Brasil imaginário! Então, voltando ao texto de Italo Diblasi, digo: em matéria de Brasil, aquele outro!



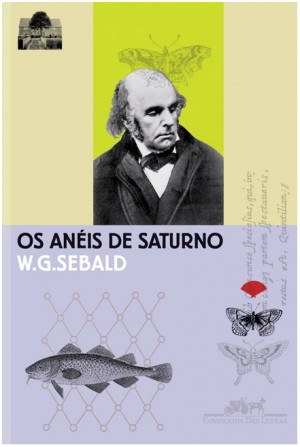





Feedback