O que está em crise quando se diz em crise a poesia
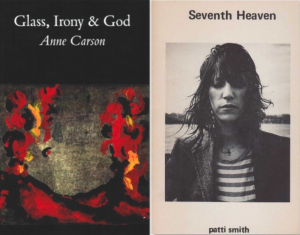 Recentemente, voltou a circular nas redes sociais um texto do escritor chileno Alejandro Zambra, “Contra los poetas”, no qual ele retoma o título de Witold Gombrowicz para retornar à crítica já lugar-comum à cena poética contemporânea: o excesso de poetas, o senso de coterie (só poetas lendo poetas) e a (suposta) total irrelevância da prática na cultura oficial de hoje. O texto tem função satírica, e suas últimas palavras parecem ter sido ignoradas pelos vários autores que voltaram a postá-lo com grandes expressões de concordância quanto ao triste e trágico estado das coisas. Algo que para mim sempre soa a derrotismo. O texto de Zambra encerra-se com estas palavras: “Eles suspiram e respondem como sempre responderam: que apenas a poesia salvará o mundo, que é necessário buscar, em meio à confusão, palavras verdadeiras, agarrar-se a elas. Dizem isso sem fé, de forma rotineira, mas têm toda a razão.” Eu próprio não me subscrevo a esta noção de uma poesia salvadora do mundo, mas em meio à confusão contemporânea, continuo acreditando nessa prática como relevante e natural, como ela tem sido há milhares de anos e continuará sendo. Afinal, ela ainda é a forma de arte mais popular do mundo. Sei que isso contradiz a opinião corrente, então passo a me explicar.
Recentemente, voltou a circular nas redes sociais um texto do escritor chileno Alejandro Zambra, “Contra los poetas”, no qual ele retoma o título de Witold Gombrowicz para retornar à crítica já lugar-comum à cena poética contemporânea: o excesso de poetas, o senso de coterie (só poetas lendo poetas) e a (suposta) total irrelevância da prática na cultura oficial de hoje. O texto tem função satírica, e suas últimas palavras parecem ter sido ignoradas pelos vários autores que voltaram a postá-lo com grandes expressões de concordância quanto ao triste e trágico estado das coisas. Algo que para mim sempre soa a derrotismo. O texto de Zambra encerra-se com estas palavras: “Eles suspiram e respondem como sempre responderam: que apenas a poesia salvará o mundo, que é necessário buscar, em meio à confusão, palavras verdadeiras, agarrar-se a elas. Dizem isso sem fé, de forma rotineira, mas têm toda a razão.” Eu próprio não me subscrevo a esta noção de uma poesia salvadora do mundo, mas em meio à confusão contemporânea, continuo acreditando nessa prática como relevante e natural, como ela tem sido há milhares de anos e continuará sendo. Afinal, ela ainda é a forma de arte mais popular do mundo. Sei que isso contradiz a opinião corrente, então passo a me explicar.
Em primeiro lugar, tento qualificar o problema, que talvez esteja na confusão comum entre a prática da poesia e sua recepção pelo establishment. É comum que críticos inteligentes se refiram à poesia como um todo, à prática em geral, tendo em mente o que se vê nos espaços oficiais. Essa crítica está em toda parte. Marjorie Perloff, uma crítica norte-americana que respeito e já editada no Brasil com seu importante A escada de Wittgenstein (SP: Edusp, 2008, tradução de Aurora Bernardini), retorna com frequência a ela. Um de seus textos mais recentes, “Poetry on the brink: Reinventing the lyric” [Boston Review, 8.5.2012], volta à questão de um mundo em que todos são poetas, em que a proliferação da prática tornou-se exponencial com os cursos e oficinas de escrita criativa. Existe um número exorbitante de pessoas que se consideram poetas porque jogam umas palavras sentimentais numa página, sem enchê-la por completo como se faz usualmente em prosa, e passa a se considerar poeta? Sem dúvida. Ao mesmo tempo, plataformas como o Instagram estão cheios de autointitulados fotógrafos, massacrando as lentes de seus celulares com imagens de seus pés, de paisagens, de seus amantes. Todo mundo é fotógrafo hoje em dia. Nem por isso sou obrigado a ler a cada semana algum artigo sobre a crise da fotografia. Com a criação de programas para composição musical, qualquer um que frequenta plataformas como o Soundcloud ouvirá a parafernália de milhares de jovens ao redor do mundo que se consideram produtores de música. Nem por isso lembro-me de ter lido qualquer artigo recentemente sobre a crise da música.
Há alguma diferença real nesse aspecto entre hoje e ontem? Os que se interessam por crítica e por história literária já passaram pela experiência de ler resenhas do passado, revisitar antologias de cem anos atrás, ou simplesmente passear por sebos e notar o número incrível de poetas que já foram publicados, estavam em atividade, tinham até mesmo algum reconhecimento, e hoje estão completamente esquecidos. A poesia é uma prática que se espalha pela sociedade como um todo há muito tempo. Quem não escrevinhou seus versos em algum momento? Num mundo em que a população deu um salto numérico gigantesco e todos passaram a ter acesso à publicação, mesmo que virtual, parece-me natural que as pessoas tenham a sensação de uma enxurrada nova. O problema verdadeiro, é claro, é o de recepção. Quando poetas começam a bradar contra o atual estado das coisas, sua preocupação primordial parece ser o cânone, não a prática. Pois, ainda que muitos esbravejem pelos quatro cantos que nada presta, podemos estar bem certos de que eles ao menos consideram o próprio trabalho excelente. E, se perguntados, conseguiriam extrair de si uns 3 ou 4 nomes de poetas vivos que consideram muito bons. Ora, portanto, o problema é que eles e aqueles que consideram bons não são visíveis. Qual época gerou mais do que 4 ou 5 poetas memoráveis? Se houver hoje no país 4 ou 5 poetas bons, podemos dizer que esta arte está em crise? Até os mais pessimistas diriam que há este número de bons poetas no país, ainda que não concordem entre si com a lista de nomes.
Vejam bem, não estou dizendo que não há problemas, e que não estão certos em alguns casos, quando se trata da poesia oficialesca. Ontem mesmo vi uma lista de autores em certa antologia a ser publicada em Paris para o Salão do Livro e, com poucas exceções, os nomes dos poetas me fizeram enrusbecer. E concordo com alguns amigos que dizem constantemente que há uma preguiça generalizada na grande maioria dos poetas em atividade. Aqui, a comparação com os fotógrafos volta a fazer sentido. Parece tudo tão fácil! É só usar o celular e os programas fazem quase tudo! Dá-se o mesmo com a poesia. Parece tão fácil! E ainda que alguns produzam coisas interessantes aqui e acolá, a maioria parece querer evitar os anos de estudo para produzir algo de relevância. Mas há alguns excelentes poetas em atividade no país, alguns mais populares, outros menos. Produzindo de forma bem mais séria que a maioria dos prosadores que vejo no território, gente que não saberia discutir literatura com profundidade se suas vidas dependessem disso. Já estive à mesa com prosadores: a conversa gira, em geral, em torno do número de vendas, qual editora é mais prestigiosa, quem saiu no New York Times, dinheiro, dinheiro, dinheiro. São raros os prosadores com quem já consegui ter uma conversa inteligente sobre a literatura como arte.
Aqui vem uma questão importante: quando se fala de crise da poesia, refere-se ao fato de que ela não vende nem tem espaço nos jornais. Ora, essa crise não é da poesia, desculpem-me. No mundo em que existo e me movimento, se falam da crise de uma forma de arte, compreendo imediatamente que ela não tem mais praticantes de qualidade. Mas, que ela não vende? Por favor. Se a poesia hoje ainda conta com homens e mulheres como Augusto de Campos, Anne Carson, J.H. Prynne, Friederike Mayröcker, para ficar apenas nos mais velhos, por que estaria em crise? Eu poderia citar alguns nomes de poetas da minha geração, dos dois lados do Atlântico, mas conheço bem o ego dos meus colegas, e a fobia de listas, a ânsia por legitimação que está no centro da infantilidade do debate literário de hoje. Bastaria dizer 1 nome aqui, nessa linha, para que tudo o que escrevi acima fosse esquecido e a conversa passasse a girar em torno desse possível nome.
Nós parecemos ter introjetado de tal forma o atual sistema econômico em nossa percepção estética, que se passa a dizer em crise uma forma de arte porque ela não vende. É uma visão tão perversa e pervertida que não sei como comentá-la. Não quero voltar aqui à ideia da poesia como “inútil”, ou, nas palavras de Paulo Leminski, “inutensílio”. O jovem poeta brasileiro Reuben da Cunha Rocha respondeu essa questão, em minha opinião de forma definitiva para nossos dias, em seu ensaio “Poesia inútil, poesia irrelevante?” [Modo de Usar & Co., 28.06.2013].
Não temos espaço aqui para entrar numa discussão que seria bastante longa sobre o que se passa hoje com a recepção da poesia escrita. Em meu ensaio “Ideologia da percepção“, tentei discutir alguns aspectos sobre as transformações culturais que levaram a poesia a perder “prestígio”. Hoje sei que há vários outros aspectos históricos, ligados às transformações sociais a partir da Revolução Francesa, complicados pela Revolução Russa, entre tantos outros, que transformaram a relação entre escritor e sociedade e tiveram consequências sobre a poesia.
Em junho, participo em Berlim de uma conferência sobre o “Futuro da poesia”. Pretendo seguir uma linha de pensamento que terá necessariamente que falar do passado e como ele retorna em nosso futuro como escritores. Pois, se os concretistas acreditavam que novas tecnologias levariam necessariamente a novas formas de escrita, não é exatamente o que temos presenciado. O que temos visto é a forma como novas tecnologias têm permitido o retorno a práticas milenares da tradição oral, por exemplo.
E aqui retorno à minha afirmação de que a poesia segue sendo a arte mais popular do mundo. Porque, apesar da narrativa histórica falaciosa de que poesia e música separaram-se após o declínio da tradição trovadoresca, essa visão se mostra cada vez mais míope, quando não simplesmente elitista. Porque a grande parte da população mundial jamais abandonou a tradição oral e a tradição trovadoresca. É a poesia cantada e falada, hoje por songwriters e rappers, que segue comandando a atenção do mundo. E mesmo a poesia escrita vem recebendo outra atenção no mundo das artes, por exemplo. Em Nova Iorque, a presença de poetas entre pintores e outros artistas visuais voltou a ser constante em exposições e bienais. É claro que há aí algo muito perigoso: como o mundo das artes visuais tornou-se um grande mercado, eles parecem agora buscar entre poetas uma espécie de legitimação artística, algum tipo de “autenticidade”. Isso talvez ajude alguns poetas a almoçar e jantar, mas é provável que terá alguns efeitos negativos a longo prazo. A presença de figuras, entre poetas, como Patti Smith e mesmo PJ Harvey, que anunciou há pouco a publicação de um livro de poemas, tem também um efeito positivo na forma como poetas passam aos poucos a ter mais atenção na mídia estrangeira. Revistas como Id e Dazed & Confused vêm fazendo vários perfis de jovens poetas trabalhando na Internet, como Crispin Best, Mira Gonzalez, e vários outros.
Há questões socioculturais importantes e complexas ainda por discutir, como o fato de que mesmo aqueles que acompanham a prosa contemporânea e se orgulham de conhecer os prosadores elogiados pelo New York Times não leem poesia. Minha reação em geral é: o problema é deles. Os grandes prosadores das últimas décadas, como sempre foi o caso, dedicaram atenção especial à poesia, como Roberto Bolaño, W.G. Sebald e David Foster Wallace. Percebe-se no texto de um prosador, com certa facilidade, se ele lê ou não poesia. Mas isso é questão para outro artigo.
Sobre a indicação do cientista político Moniz Bandeira ao Nobel
Foi divulgado o nome do cientista político, historiador, diplomata e poeta Moniz Bandeira como a indicação da União Brasileira de Escritores (UBE) ao Nobel 2015. O escritor, nascido em 1935 em Salvador, estreou com o livro de poemas Verticais (1956), mas é conhecido nos círculos acadêmicos e diplomáticos por livros como O 24 de Agosto de Jânio Quadros (1961), O Governo João Goulart – As Lutas Sociais no Brasil 1961-1964 (1977) e Brasil, Argentina e Estados Unidos: Da Tríplice Aliança ao Mercosul (2003), entre vários outros sobre a história do Brasil e seus governos. Sua última publicação como poeta deu-se no volume Poética (2009). Membro de uma família tradicional do Brasil e de Portugal, é descendente de Gárcia D’Ávila, sobre o qual escreveu em O Feudo – A Casa da Torre de Garcia d’Ávila (Da conquista dos sertões à independência do Brasil), publicado no ano 2000. Garcia d’Ávila foi filho de Tomé de Sousa (1503-1579) e “fundador do maior latifúndio das Américas, a Casa da Torre.” Moniz Bandeira escreveu ainda para jornais como Correio da Manhã e Diário de Notícias e hoje vive em Heidelberg, na Alemanha, onde é cônsul honorário do Brasil.
A notícia causou estranhamento e irritação entre escritores, que se voltaram para as redes sociais para satirizar a escolha, da União Brasileira de Escritores, de um cientista político e historiador, ainda que poeta completamente desconhecido, para o maior prêmio literário do mundo, e que seria o primeiro galardoado a um autor do país. É preciso compreender o funcionamento do prêmio para colocar as coisas em suas devidas proporções. Concedido desde 1901 pela Academia Sueca, os escritores podem ser indicados por várias instituições, como Academias de Letras, governos e até mesmo editoras. Dessas indicações pode ou não sair o premiado de cada ano. Ou seja, a indicação por si nada mais vale que alimentar as apostas. Há vários autores hoje no mundo que, por terem sido indicados várias vezes, permanecem nas listas de especulações, como o romancista americano Philip Roth, o japonês Haruki Murakami e o poeta sírio Adonis.
Ao mesmo tempo, a Academia envia pedidos de sugestão, todos os anos, para membros da própria Academia, sociedades literárias, professores universitários, e mesmo escritores que já ganharam o prêmio. São muitas indicações de todo o mundo, e a academia analisa centenas delas antes de fechar uma possível lista de 20 candidatos por volta de abril, que se torna uma lista de cinco em maio. Até outubro, quando o prêmio é anunciado, os membros da Academia Sueca têm alguns meses para ler o maior número possível de livros destes cinco autores. Quando vem a votação, aquele que recebe a maioria dos votos ganha o prêmio.
A Academia Sueca tem 18 membros. Diz-se que seus membros falam, em conjunto, cerca de 13 línguas. Para os que não dominam a língua de um dos cinco indicados, traduções são usadas entre as já publicadas, ou feitas especialmente para os acadêmicos. É claro que escritores produzindo em línguas hegemônicas como as europeias, ou que já tenham sido traduzidos para o sueco ou outra língua majoritária, têm maiores chances. Já se questionou, por exemplo, o número de suecos premiados, em comparação com línguas faladas por mais pessoas, como o próprio português. O sueco é falado por cerca de 9 milhões de pessoas. Sete suecos já receberam o Nobel. O português, falado por cerca de 220 milhões de pessoas, teve apenas José Saramago entre os premiados.
Portanto, é preciso dar proporção a esta indicação da União Brasileira de Escritores. Ela, em si, não tem qualquer importância. É perfeitamente possível que a Academia Brasileira de Letras tenha enviado uma indicação, ou outro brasileiro o tenha feito, caso convidado. Assim como é possível que um brasileiro seja indicado por um das centenas de estrangeiros. A verdade é que esta indicação não é realmente uma notícia de grande importância, além do uso que a União Brasileira de Escritores fez dela para chamar a atenção para suas atividades e para um de seus associados, como a instituição se refere a seus membros.
Fundada em 1958, a União Brasileira de Escritores já teve “associados” e presidentes importantes para a cultura nacional, como Sérgio Buarque de Holanda, Antonio Candido e Sérgio Milliet, nos seus primórdios. Há décadas a instituição não tem grande contato com o que realmente está acontecendo na Literatura do país, dedicada a divulgar o trabalho de seus associados, em sua maioria um grupo de escritores desconhecidos em busca de legitimação. A descrição que a própria UBE faz de suas atividades é esclarecedora: “Tem como objetivos principais discutir políticas culturais que atendam os interesses dos associados e defender seus interesses em todas as manifestações literárias, em poesia e prosa.” Estamos, portanto, falando de uma associação que defende interesses de seus membros, o que nubla suas decisões sobre os escritores realmente importantes do país. Segundo artigo da Folha de S. Paulo [“Instituição brasileira indica Moniz Bandeira para o Nobel de Literatura”, 18/02/15], a Academia Sueca vem pedindo há alguns anos indicações da UBE, que teria indicado nos anos anteriores tanto Antonio Candido como Manoel de Barros. Não se trata aqui dos méritos como críticos e historiadores de Antonio Candido e Moniz Bandeira. Mas a escolha de Antonio Candido parece tão estapafúrdia quanto a de Moniz Bandeira.
Se é verdade que filósofos como Jean Paul Sartre e Henri Bergson já foram premiados, qual a probabilidade ou mesmo lucro para a literatura nacional que críticos ou cientistas políticos sejam premiados antes de romancistas ou poetas como Augusto de Campos, Ferreira Gullar, Leonardo Fróes ou Zulmira Ribeiro Tavares, para ficar entre autores que gerariam já sua quota de polêmica? Quanto à produção poética de Moniz Bandeira, parece-me um autor de sonetos fracos, com linguagem e poética datadas, e completamente ausente dos debates literários nacionais. A indicação da União Brasileira de Escritores, relevante apenas em suas devidas proporções, mostra-se, de qualquer forma, estapafúrdia e interesseira. Caso seja a única instituição nacional a fazer indicações, a irritação dos escritores brasileiros é legítima, assim como é questionável a postura da UBE.
Mulheres, homens e a violência milenar dos últimos sobre as primeiras
Há algumas semanas, em uma conversa com o escritor e músico alemão Jonas Lieder sobre nossos passatempos televisivos dos últimos tempos, ele me recomendou que assistisse ao seriado britânico The Fall, produzido pela BBC, com Gillian Anderson em um dos papeis principais. Anderson interpreta uma agente que vem de Londres a Belfast para investigar uma série de assassinatos de mulheres na capital da Irlanda do Norte. Há, é claro, um subtexto político, ao fazer de Belfast o cenário de crimes investigados por uma inglesa. Mas o principal substrato político, creio, não se dá no conflito entre irlandeses e ingleses, pois se trata não apenas de um policial inglês investigando os crimes de um irlandês, mas de uma mulher no comando das investigações de assassinatos de mulheres e que, ela tem certeza, estão sendo cometidos por um homem.
A série, que tem alguns problemas, é perturbadora, com cenas de violência bastante explícitas, e a atuação do belíssimo Jamie Dornan como Paul Spector, o psicopata, torna as coisas ainda mais incômodas. Mas trata-se de uma série com momentos de dramaturgia realmente inteligente da autoria de Allan Cubitt.
Um diálogo me marcou: a personagem de Gillian Anderson está conversando na cama com a personagem de Colin Morgan, que interpreta outro policial envolvido nas investigações, após terem feito sexo. A personagem de Morgan, um homem, confessa sentir certo fascínio pela figura do psicopata, que parece emanar certo charme. A personagem de Anderson responde não ter qualquer interesse ou fascínio pelo assassino, que ele é apenas um homem que mata mulheres. Ela então completa: “Conheço alguém que perguntou a um grupo de homens por que eles se sentiam ameaçados por mulheres. Eles responderam: ‘Porque temos medo de que elas riam de nós’. Então, perguntou a um grupo de mulheres por que elas se sentiam ameaçadas por homens. Elas responderam: ‘Porque temos medo de que eles nos matem'”.
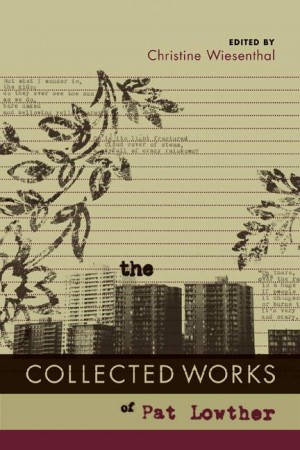 Este diálogo me voltou à mente estes dias, ao reler alguns poemas da canadense Pat Lowther. Seu assassinato pelo próprio marido, outro poeta, completará 40 anos em 2015. A autora e ativista por direitos trabalhistas, nascida Patricia Tinmuth em Vancouver, havia publicado os livros This Difficult Flowering (1968), The Age of the Bird (1972) e Milk Stone (1974). Em 1975, o manuscrito de seu A Stone Diary seria aceito para publicação pela prestigiosa Oxford University Press. Seu marido Roy Lowther, de quem adotou o sobrenome, não aceitava a fama da mulher, enciumado com a atenção crítica que ela recebia. Na noite de 24 de setembro de 1975, Pat Lowther era aguardada no Salão dos Metalúrgicos de Vancouver, onde faria uma leitura para os operários, mas jamais apareceu. Seu corpo seria encontrado três semanas mais tarde em uma gruta. Seu marido, condenado por seu homicídio.
Este diálogo me voltou à mente estes dias, ao reler alguns poemas da canadense Pat Lowther. Seu assassinato pelo próprio marido, outro poeta, completará 40 anos em 2015. A autora e ativista por direitos trabalhistas, nascida Patricia Tinmuth em Vancouver, havia publicado os livros This Difficult Flowering (1968), The Age of the Bird (1972) e Milk Stone (1974). Em 1975, o manuscrito de seu A Stone Diary seria aceito para publicação pela prestigiosa Oxford University Press. Seu marido Roy Lowther, de quem adotou o sobrenome, não aceitava a fama da mulher, enciumado com a atenção crítica que ela recebia. Na noite de 24 de setembro de 1975, Pat Lowther era aguardada no Salão dos Metalúrgicos de Vancouver, onde faria uma leitura para os operários, mas jamais apareceu. Seu corpo seria encontrado três semanas mais tarde em uma gruta. Seu marido, condenado por seu homicídio.
A violência cometida por homens heterossexuais no Brasil tem números alarmantes. Trata-se de um país extremamente perigoso para mulheres e homossexuais. No contexto literário, não é uma discussão fácil. A violência se mostra de muitas formas, e uma delas é o silêncio sobre esta violência. O apagar das vozes femininas. É espantoso como feiras literárias, editoras, antologias e artigos seguem apagando as vozes das mulheres no país. Outros, imediatamente veem como menores os textos que enfrentam o problema, por considerá-los contextuais demais, “não universais” o bastante. Como se tal preocupação fosse nada mais que um sintoma do politicamente correto que impregnou os Estados Unidos, onde Harold Bloom cunhou o termo “escola do ressentimento”. No entanto, a violência é real. Mata.
Quando trato do assunto, recebo com frequência comentários educados e inteligentes de colegas, alertando-me para o perigo de misturar política e literatura, com os argumentos que já conhecemos há tempos, resumidos sob o adágio de que só importa a qualidade literária. Estas defesas da pureza do literário vêm, invariavelmente, de homens brancos heterossexuais.
O conceito de universalidade vem sendo questionado há tempos. Para uns, isto significa uma perda inestimável. Outros, apesar de o questionarem, não apreciam os rótulos que são impostos a escritores. Pessoalmente, não tenho problemas com certos rótulos, como literatura feminina e homossexual, mas com o fato de que são dados apenas aos “outros”. Desde que se perceba que há, sim, literatura masculina, branca e heterossexual, não me parece problemático discutir o dilema nestes termos. Não consigo compreender, para dar um exemplo específico, que algumas pessoas realmente acreditem que um livro como On The Road, de Jack Kerouac, apresente uma sensibilidade “universal”. Ou discutimos tudo por suas especificidades, ou nada. Ou todos são universais, ou ninguém.
Deixem-me contar uma anedota pessoal. Em 2013, minha antologia poética lançada na Alemanha foi discutida por quatro críticos literários do país, em uma série importante que ocorre três vezes por ano em Munique. Certo crítico de renome comentou sobre meu livro na ocasião que, apesar de muito bom, infelizmente não trazia “nutrição suficiente para um homem normal heterossexual”. Sim, estas foram suas palavras. Que um homem possa dizer isso em público, na Alemanha e em pleno século 21, pareceu-me apenas mostrar que meu trabalho também pode ter suas implicações políticas aqui, como sei terem no Brasil, ainda que eu quisesse viver em um mundo no qual meus poemas de amor fossem apenas isso: poemas de amor. Se o crítico considerava o livro bom, o que o impedia de encontrar nutrição nos poemas? Apenas porque eram claramente escritos por um homem para outro homem? Ele sente-se assim também com a lírica amorosa de Konstantínos Kaváfis, Sandro Penna e Frank O’Hara, para mencionar autores que escrevem com candor e honestidade sobre seus amores? Eu sou perfeitamente capaz de apreciar a lírica amorosa de Vinícius de Moraes, por exemplo, apesar de sentir-me distante de sua sensibilidade claramente heterossexual, longínqua de qualquer universalidade indiscutível.
Jamais preguei o revisionismo do cânone baseado em questões político-ideológicas. Mas também sei há bastante tempo que escritores e artistas estão longe de serem baluartes da ética. Precisamos lê-los com olhos e mente abertas, atentos, sabendo que em muitos deles o racismo e a misoginia de sua época (que ainda é a nossa) poluem seus textos, por mais geniais que alguns deles sejam.
Em sua entrevista televisiva a Günter Gaus em 1964, Hannah Arendt diz de forma enfática, batendo a mão na poltrona em que está sentada: “Se você é atacado por ser judeu, é como judeu que você tem que se defender, não como alemão, ou cidadão cosmopolita, ou membro da Humanidade”.
Será necessário sentir na pele a opressão para compreendê-la? Estamos condenados a nossa única e própria pele? Como pensar isso em nosso contexto atual? Pois há algo mais que complica nossa discussão, e sobre o qual venho pensando muito. Quando o funcionário do censo passa por nossas casas, são poucos os que podem dizer que não fazem um X num quadradinho, de alguma descrição de si mesmos, que os coloque entre os opressores. Pois a mulher branca heterossexual por vezes se mostra insciente de seus privilégios por ser branca, e oprime seus concidadãos negros, ou se mostra cega a suas dores. Assim como um homem homossexual branco por vezes se mostra cego às dores dos negros e das mulheres. Ou um homem heterossexual negro se mostra cego às dores de mulheres e homossexuais. As fronteiras são às vezes tênues, e precisamos todos estar atentos e fortes. Conscientes de nossos privilégios, de nossas opressões, e de nossas eventuais quedas na Síndrome de Estocolmo.
Literatura durante e após a catástrofe
Ontem pela manhã [27.01.2015], eu estava na Estação Ferroviária Central de Frankfurt, aguardando o trem que me traria de volta a Berlim. Na banca de jornais, manchetes sobre Auschwitz, a rememoração dos 70 anos de libertação do campo. Na capa da revista Der Spiegel, o rosto de sobreviventes que ainda estão entre nós, hoje octogenários e nonagenários. Tomei o trem pensando que deveria escrever a respeito, mas como? Falar sobre os escritores que ali morreram, como Etty Hillesum (1914-1943)? Sobre os que sobreviveram e relataram os horrores, como Primo Levi (1919-1987), autor de É isso um homem? (1947), um dos primeiros livros a surgir após a guerra sobre aqueles horrores, ao lado de A espécie humana (1947), de Robert Antelme (1917-1990), que sobreviveu a Dachau?
O livro de Primo Levi abre com um poema, no qual ele comanda e exige, a nós “que vivemos em nossas casas mornas”, a não esquecer, a relatar a nossos filhos que aquilo ocorreu, caso contrário, que “a doença nos entrave, que nossos filhos virem seus rostos contra nós.” Outra sobrevivente de Auschwitz, menos conhecida, mas que relatou suas experiências, foi a francesa Charlotte Delbo (1913-1985), que passaria vinte anos trabalhando em sua trilogia Auschwitz et après (Auschwitz e depois). Um poema assustador de Delbo, chamado “Oração aos vivos para que sejam perdoados por estarem vivos”, diz: “Eu suplico a vocês / façam qualquer coisa / aprendam um passo / uma dança / alguma coisa que os justifique / que dê a vocês o direito / de vestir a sua pele o seu pelo / aprendam a andar e a rir / porque será completamente estúpido / no fim / que tantos tenham sido mortos / e que vocês aí vivam / fazendo nada de suas vidas.”
Ao mencionar os poemas de Levi e Delbo, que sobreviveram ao campo, assim como o título da trilogia da francesa, “Auschwitz e depois”, é impossível não pensar na citação de Adorno, a qual imagino tenha sido usada e abusada ontem, de que após Auschwitz seria um ato de barbárie escrever poesia. A citação é frequentemente tirada de contexto, vindo do último parágrafo de um ensaio bastante denso do alemão, sobre a reificação de tudo e todos em uma sociedade totalitária. Num parágrafo anterior, ele escreve: “Na prisão ao ar livre em que o mundo está se transformando, não é mais tão importante saber o que depende de quê, tal é a extensão em que o total se unifica. Todos os fenômenos se enrigecem, tornam-se insígnias do império absoluto daquilo que é.” Sempre compreendi a afirmação de Adorno como a negação da cultura que havia gerado Auschwitz, que simplesmente não se podia seguir escrevendo poesia como se Auschwitz não houvesse ocorrido. Um chamado à História. É importante lembrar que Paul Celan, o poeta mais conhecido entre os sobreviventes da Shoah, escreveu como o horrorizara perceber que autores seguiram escrevendo seus poemas sonoros e belos em meio ao horror da guerra e dos campos. Hoje um clássico do pós-guerra, lido basicamente em traduções, muitos não percebem que a escrita de Celan, a maneira como ele parte e quebra a sintaxe da língua alemã, era uma resposta a isso. Sua escrita hoje é simplesmente vista como “bela”. Sua busca por uma fala partida, feia e dentro do horror, é discutida por alguns como mera “inovação”, parte da “originalidade” de Celan. Transforma-se em literatura. No Brasil, por algum tempo usou-se Celan para resgatar certa aura de autoridade poética. Mas a autoridade de Celan não é apenas literária, é histórica.
Assim como se cita Adorno sobre a impossibilidade da poesia após Auschwitz fora de contexto, e poetas usam as “técnicas” de Celan de forma a-histórica, é comum dizer que Adorno mudou de ideia, ao escrever mais tarde que “o sofrimento perene tem tanto direito à expressão quanto um homem sob tortura tem direito ao grito, dessarte talvez tenha errado em dizer que após Auschwitz não se podia mais escrever poesia.” No entanto, raramente se cita o resto do parágrafo, que talvez seja uma declaração ainda mais tenebrosa que aquela sobre a poesia após Auschwitz: “Mas não é errado levantar a questão menos cultural se após Auschwitz se pode continuar vivendo – especialmente se alguém escapou por sorte, se alguém que poderia ter sido morto pode continuar vivendo. Sua sobrevivência exige frieza, o princípio básico da subjetividade burguesa, sem a qual não poderia ter havido Auschwitz; esta é a trágica culpa daquele que sobreviveu. Sua expiação será a de ser atormentado por pesadelos nos quais ele nem mesmo vive, nos quais ele foi enviado aos fornos em 1944, e toda a sua existência desde então foi imaginária, uma emanação do desejo louco de um homem assassinado 20 anos antes.” É uma passagem assustadora. E penso novamente no poema de Charlotte Delbo, “Oração aos vivos para que sejam perdoados por estarem vivos.” Penso em Simone Weil, que se recusou a comer no hospital onde estava, à beira da morte, pois se outros judeus como ela morriam aos milhares, ela não podia comer. Penso em Hannah Arendt, dizendo em sua entrevista a Günter Gaus em 1964 que “isto [Auschwitz] jamais deveria ter acontecido. Algo ocorreu ali com o qual nenhum de nós jamais poderá conciliar-se.”
Como posso eu escrever sobre aqueles horrores, escritor brasileiro nascido mais de 30 anos depois da libertação do campo? No entanto, e se pensarmos que estamos no auge daquela reificação total, de tudo e todos, dentro do sistema capitalista, contra o qual escreveu Adorno, e Pasolini, e tantos outros? A noção de civilização e cultura que gerou Auschwitz (não me refiro apenas à ideologia nazista) realmente foi vencida? Trinta anos depois da libertação dos sobreviventes do campo, Pasolini faria seu filme Salò ou os 120 Dias de Sodoma (1975), com o qual argumenta que aquela cultura permanece. A do poder obsceno. A da transformação de seres vivos (não apenas humanos) em coisas, mercadorias. Temos mesmo outro conceito de civilização após Auschwitz? Não foi para destruir por completo certo conceito de civilização que ainda permanecia, que a personagem de A Paixão segundo GH (1964), da judia Clarice Lispector, comungou com um inseto e comeu a matéria viva de uma barata? É importante lembrar-se da formulação terrível de Jean Améry (1912-1978), que passou por Auschwitz, Bergen-Belsen e Buchenwald, e que, ao falar sobre os torturadores nazistas nos campos, escreveu “… uma pequena pressão da mão que controla o aparelho é suficiente para transformar a outra – junto com sua cabeça, na qual talvez estejam arquivados Kant e Hegel, e todas as nove sinfonias, e O Mundo como Vontade e Representação – num leitão guinchante no matadouro.” Os nazistas eram homens educados em Kant, Hegel, Beethoven e Schopenhauer. Pertenciam à mesma cultura, e, no entanto…
E aqui, ao final, me pergunto: de que forma eu, escritor brasileiro, posso escrever sobre isso e ainda conciliar-me com os horrores do meu próprio país, onde a reificação de seres humanos já estava no sequestro e escravização de três milhões de africanos, e o genocídio de outros milhões de indígenas? Posso, como escritor brasileiro, escrever sobre Auschwitz sem pensar nisso? Não tenho a ilusão de ter respostas certas para estas questões. O que posso dizer é que nos últimos tempos, pensando a respeito delas, percebi com certo terror e me perguntei se não havia errado em querer alertar leitores para uma possível distopia futura (quando falava sobre uma “poesia pré-distópica”), se talvez não os estava apenas distraindo para o fato de que já estamos (ou continuamos) em plena distopia. Hoje, confesso crer, com Adorno e Pasolini, que este é o caso.
Escritores brasileiros entre os países escondidos
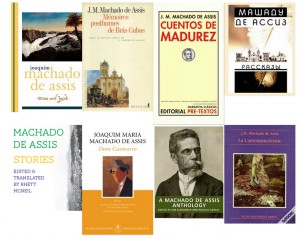 Vou começar este texto com uma pergunta que já me foi feita várias vezes na Alemanha e em outros países, intensificou-se durante o período da Feira do Livro de Frankfurt em 2013, e volta, vira e mexe: “Se eu tivesse que ler um único escritor brasileiro, qual seria?” São sempre pessoas bem-intencionadas, realmente interessadas, e, dependendo do meu humor, respondo, fazendo alguns apartes, tentando incluir dois ou três escritores mais na lista. Nos momentos de pouca paciência, respondo com outra: “Você faria esta pergunta a um russo, a um francês ou a um americano?” Pois, imagine a situação: perguntar a um cidadão de um país cuja literatura vem sendo celebrada e traduzida há décadas ou séculos, com vários autores de importância mundial, “se eu fosse ler apenas um russo/francês/americano, qual deveria ler?”
Vou começar este texto com uma pergunta que já me foi feita várias vezes na Alemanha e em outros países, intensificou-se durante o período da Feira do Livro de Frankfurt em 2013, e volta, vira e mexe: “Se eu tivesse que ler um único escritor brasileiro, qual seria?” São sempre pessoas bem-intencionadas, realmente interessadas, e, dependendo do meu humor, respondo, fazendo alguns apartes, tentando incluir dois ou três escritores mais na lista. Nos momentos de pouca paciência, respondo com outra: “Você faria esta pergunta a um russo, a um francês ou a um americano?” Pois, imagine a situação: perguntar a um cidadão de um país cuja literatura vem sendo celebrada e traduzida há décadas ou séculos, com vários autores de importância mundial, “se eu fosse ler apenas um russo/francês/americano, qual deveria ler?”
Mas um país como a Rússia, para a tomarmos como exemplo, tem tido importância geopolítica crucial para o globo, seus autores têm influenciado outras literaturas, e uma pessoa saberia o ridículo de imaginar-se lendo apenas Dostoiéviski e, assim, perder Tchékhov, Tolstói, Maiakóvski, Tsvetáieva, e assim por diante. E, mesmo assim, não lemos Tchékhov ou Maiakóvski porque eles são russos, mas porque são Tchékhov e Maiakóvski, em primeiro lugar, mas sabendo que através deles recebemos informações sobre a vida russa. São escritores universais que não poderiam ter nascido em qualquer outro lugar, ou seriam autores diferentes. A relação entre local e universal talvez seja uma das mais difíceis de definir.
Talvez você esteja se perguntando: “mas, quando você responde, qual autor menciona?” Eu respondo, sem titubear, Machado de Assis. Quanto ao aparte, tento educadamente apontar que o leitor interessado deveria lê-lo, não porque seja brasileiro, mas porque um leitor realmente interessado na literatura ocidental, que não conheça Machado de Assis, tem uma lacuna em sua biblioteca tal qual não houvesse lido Flaubert ou Tchékhov. Uma pessoa deveria ler Machado de Assis porque ele foi Machado de Assis, mas, ao mesmo tempo, sei que o nosso grande autor local e universal, entre alguns outros, não poderia ter escrito o que escreveu em outro país além do Brasil. Como Flaubert, universal, é francês, e Tchékohv, universal, é russo. Um grande poema do século 20 como “A mesa”, de Carlos Drummond de Andrade, poderia ter sido escrito por alguém que não tivesse nascido no Brasil, e, ainda mais, em Minas Gerais? Mais uma vez, repito: definir esta relação entre universal e local seria assunto para vários tomos. Quanto à narrativa histórica da literatura no século 20, o crítico italiano Alfonso Berardinelli levanta algumas destas questões de forma muito interessante em seu ensaio “Cosmopolitismo e provincianismo na poesia moderna” [Da Poesia à Prosa, São Paulo: CosacNaify, 2007. Tradução de Maurício Santana Dias].
Nele, Berardinelli discute a relação entre o cosmopolitismo de poetas internacionais como André Breton, T. S. Eliot, Jorge Luis Borges e Giuseppe Ungaretti, em oposição a autores que se mantiveram fieis a certo localismo, como Antonio Machado, Miguel Hernández, Williams Carlos Williams e Sandro Penna. Ao ler o ensaio, me pareceu que seria uma tarefa interessante pensar nas complicações da inserção da poesia brasileira no cenário dos Modernismos Internacionais a partir desta relação entre cosmopolitismo e localismo, já que a maior parte da poesia e prosa brasileiras modernas fincaram pé em sua própria terra: eram modernas e locais. Isso as torna menos universais? É importante notar que Berardinelli usa o termo “cosmopolita”, não “universal.” O crítico italiano percebe uma mudança em nossos parâmteros, passando a dar maior ou a mesma importância ao universalismo do local, e, realmente, hoje Williams parece ter suplantado Eliot nos Estados Unidos, e confesso ter nos últimos tempos maior interesse em poetas italianos como Cesare Pavese, Sandro Penna ou Giorgio Caproni que na lírica hermética, “cosmopolita”, de Ungaretti e Quasimodo. O grande Pier Paolo Pasolini é um poeta eminentemente local, italiano, por vezes escrevendo até mesmo no dialeto de sua mãe, o friuliano, e, no entanto, tem um alcance que vai muito além das fronteiras da Itália.
A importância geopolítica de um país, e o uso político que faz o Governo de sua cultura, têm efeitos intensos sobre a recepção da literatura e arte daquele território no resto do mundo. Bombardeados como fomos por Hollywood, espalhando a mitologia identitária norte-americana pelo globo, não nos é, hoje, tão difícil adentrar uma literatura tão localista e insular como a norte-americana. Parece-nos fácil chamar de universais trabalhos bastante localistas como As I Lay Dying (1930), de William Faulkner, ou On The Road (1957), de Jack Kerouac. Mas, quantas notas-de-rodapé um americano precisaria para compreender Macunaíma (1928), de Mário de Andrade, ou Grande Sertão: Veredas (1956), de João Guimarães Rosa, tão marcados e determinantes para nossa mitologia identitária? Serão mais cosmopolitas ou menos localistas Clarice Lispector e Hilda Hilst, que vêm sendo celebradas no Estados Unidos nos últimos dois anos? A Hora da Estrela (1977) poderia ter sido escrita em outro país? E A Obscena Senhora D (1982)?
Não são perguntas fáceis de responder. Sabemos que, por vezes, aquilo que parece mais simples e direto torna-se o mais difícil de traduzir. Não sei se um dia alguma tradução poderá mostrar a estrangeiros a grandeza da simplicidade de Manuel Bandeira. E estes são todos escritores brasileiros que deveriam ser conhecidos, como devem ser conhecidos outros autores, de tantos países. Como escreveu o poeta inglês Andrew Marvell, “had we but world enough, and time.”
Sim, o Brasil é um país enorme, com centenas de milhões de habitantes, importante geopoliticamente, e produziu algumas joias da modernidade ocidental, como Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), O Guesa (1884), alguns poemas de Cruz e Sousa, Os Sertões (1902), Memórias Sentimentais de João Miramar (1924), Angústia (1936) [tão superior a O Estrangeiro (1942), de Camus, p.ex. e em minha opinião], Grande Sertão: Veredas (1956), Crônica da Casa Assassinada (1959), A Paixão segundo GH (1964) ou A Obscena Senhora D (1982), além de poemas de Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, Henriqueta Lisboa, João Cabral de Melo Neto, Augusto de Campos, e outros. Certamente, a coisa tem mudado. Já escrevi para a DW Brasil sobre a recepção internacional tanto de Clarice Lispector [“Romances de Clarice Lispector voltam a despertar interesse internacional”, DW Brasil, 28.06.2012] quanto de Hilda Hilst [“A recepção de Hilda Hilst em língua inglesa“, DW Brasil, 12.09.2014]. Para 2016, a escritora e tradudora alemã Odile Kennel e eu planejamos a primeira antologia de Hilda Hilst em alemão, a sair por minha editora aqui, a Verlagshaus J. Frank, em uma coleção de poetas internacionais mortos que já conta com antologias do grego Konstantínos Kaváfis, do britânico Wilfred Owen e do russo Vladimir Maiakóvski. Poetas extremamente locais, mas que o mundo não teme em chamar de universais.
Mas, se frequentemente nos irritamos com o desconhecimento do público internacional em relação a nossa literatura, podemos realmente jogar pedras na casa do vizinho, ou talvez nossa casa seja de vidro, para usar o ditado americano? Por exemplo, este ano a Feira do Livro de Frankfurt homenageia a literatura da Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo. Os três mais populosos, logo à frente, são China, Estados Unidos e Índia. Logo em seguida, em quinto lugar, vem o Brasil. Pois bem, quantos escritores indonésios você leu ou poderia mencionar, assim, de cabeça? Eu, sinceramente, só poderia agora mencionar o poeta e prosador Afrizal Malna (Jacarta, 1957), e tão-só porque o conheci e li com ele em um festival de poesia na Holanda, no ano passado. Hoje, graças à revista americana Asymptote Journal, que dedica bastante energia a divulgar autores internacionais nos Estados Unidos (já publicou Hilda Hilst, Waly Salomão, Nuno Ramos e Paulo Scott, por exemplo), descobri a poeta e arquiteta Avianti Armand, nascida em Jacarta em 1969. A revista menciona, em um artigo sobre a literatura indonésia contemporânea, o autor Pramoedya Ananta Toer (1925-2006), que parece funcionar para a literatura indonésia como Jorge Amado por muito tempo funcionou para a brasileira e Gabriel García Márquez para a colombiana. Ou seja, “aquele único autor” do país que deve cumprir o papel de porta-voz e compêndio de todas as experiências do território, quando se trata de um país do qual o “mundo civilizado” não espera demasiado. Pessoalmente, veja bem, não me lembrava de jamais ter ouvido falar de Pramoedya Ananta Toer. E quanto a um clássico da literatura indonésia, do porte de Machado de Assis ou Anton Tchékhov? Eu não saberia responder, da mesma forma que imagino que um holandês ou indonésio possam perfeitamente, apesar de cultíssimos, jamais ter ouvido falar de Machado de Assis. Quantos autores australianos conheço, daquele país enorme? Será que um dia o excelente escritor zimbabuense Dambudzo Marechera (1952-1987) será traduzido no Brasil? Enfim, nós mal conhecemos a poesia produzida no território brasileiro em línguas que não a portuguesa, como a poesia araweté, a maxakali ou a kuikuro.
E aqui chegamos talvez à doença da qual tudo o que discuti acima sejam apenas os sintomas: nossa mentalidade colonial e colonialista, ainda imperando em pleno século 21. E, contra esta doença, a tradução continua sendo o melhor remédio. Traduzir, traduzir, traduzir: indonénios, zimbabuenses, australianos, húngaros, e, por que não?, mais russos, e mais franceses, e mais americanos. Mas com uma certa atenção para nossas grandes lacunas de gente cultíssima.








Feedback