“Os ilhados”, de Ismar Tirelli Neto
A editora carioca 7Letras acaba de lançar Os ilhados (Rio de Janeiro: 7Letras, 2015), terceiro livro do poeta e prosador carioca Ismar Tirelli Neto, nascido em 1985. Com este volume, este jovem senhor de 30 anos de idade mostra-nos que o velho discurso das promessas, quando se trata de jovens autores, já não lhe cabe mais. Ele acaba de dar-nos um livro belo e de mão firme. Alguns pensarão que estou tentando dar passagem só de ida ao livro para dentro do cânone, mas esta anda sendo a última de minhas preocupações. Vocês ainda não notaram o nível do mar? Estamos próximos do fim. Para os seres que habitam o livro de Ismar Tirelli Neto, parece que já estão ilhados em seus prédios de dezenas de andares.
Comecemos pelo título: Os ilhados alerta o leitor, desde a capa, que ele está prestes a entrar em território de isolamento, dando a justa dimensão da existência das personagens que o habitam. Mas, personagens ou vozes? Talvez seja uma discussão inevitável, e tentarei conduzi-la da maneira menos desencaminhadora possível. Formado em parte considerável por textos que ocupam toda a página, de margem a margem, o leitor poderia crer estar diante de um livro que contém, a meu ver, alguns dos melhores contos publicados ultimamente. Mas há também os muitos textos que lançam mão da quebra-de-linha, poesia à vista.
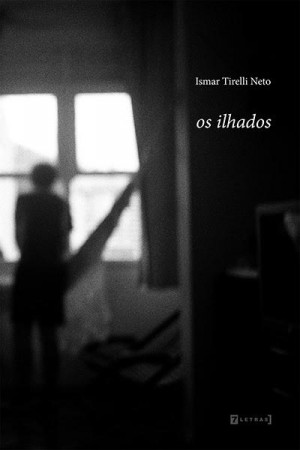 Esta conversa talvez seja ociosa. Mesmo os críticos mais sazonados hesitam à hora de traçar a linha que possa separar os gêneros, especialmente neste nosso tempo de misturas e indefinições. Algumas das funções incorporadas pela prosa nos últimos séculos, como a narratividade que a estrutura na maior parte dos casos, foram desenpenhadas pela poesia por milênios. Mesmo a narratividade como efeito poético, hoje em dia, é usada por alguns poetas contemporâneos, como Marília Garcia em seu Um teste de resistores (Rio de Janeiro: 7Letras, 2014), livro que já discuti aqui [“Marília Garcia e um teste de resistores”, DW Brasil, 12.12.2014]. Mas no trabalho de Garcia vemos outro efeito, através do minar a poesia de seus elementos mais reconhecíveis, como a metáfora ou os vários efeitos sonoros, concentrando-se na voz e na performance. Talvez a maneira mais segura continue sendo a de Roman Jakobson: a função poética é aquela que faz com que a linguagem chame para si a atenção do leitor. Mas são muitas as maneiras com que a linguagem festeja-se. E talvez o mais difícil de definir seja o que poderíamos chamar de controle do tom. Portanto, mesmo estas definições podem ser enganadoras. Como definir o mais poético: a prosa plena de poeticidade de João Guimarães Rosa ou a poesia plena de prosaísmo de Manuel Bandeira?
Esta conversa talvez seja ociosa. Mesmo os críticos mais sazonados hesitam à hora de traçar a linha que possa separar os gêneros, especialmente neste nosso tempo de misturas e indefinições. Algumas das funções incorporadas pela prosa nos últimos séculos, como a narratividade que a estrutura na maior parte dos casos, foram desenpenhadas pela poesia por milênios. Mesmo a narratividade como efeito poético, hoje em dia, é usada por alguns poetas contemporâneos, como Marília Garcia em seu Um teste de resistores (Rio de Janeiro: 7Letras, 2014), livro que já discuti aqui [“Marília Garcia e um teste de resistores”, DW Brasil, 12.12.2014]. Mas no trabalho de Garcia vemos outro efeito, através do minar a poesia de seus elementos mais reconhecíveis, como a metáfora ou os vários efeitos sonoros, concentrando-se na voz e na performance. Talvez a maneira mais segura continue sendo a de Roman Jakobson: a função poética é aquela que faz com que a linguagem chame para si a atenção do leitor. Mas são muitas as maneiras com que a linguagem festeja-se. E talvez o mais difícil de definir seja o que poderíamos chamar de controle do tom. Portanto, mesmo estas definições podem ser enganadoras. Como definir o mais poético: a prosa plena de poeticidade de João Guimarães Rosa ou a poesia plena de prosaísmo de Manuel Bandeira?
Num belo retrato do autor, escrito por Bolívar Torres [“Ismar Tirelli Neto e a arte da irrealização”, O Globo, 11.07.2015], a ênfase voltou-se para a biografia de Ismar Tirelli Neto como forma de compreensão deste seu último trabalho. É certo que a personalidade do carioca é formadora de sua escrita, desde o seu primeiro bom poema publicado, aquele que anunciava a promessa, “Ansiedades quanto a uma academia”, incluído em seu primeiro livro, Synchronoscopio (Rio de Janeiro: 7Letras, 2008). Desde então, Ismar Tirelli Neto publicou ainda Ramerrão, pela mesma editora em 2011, e vem se mostrando um dos autores mais atentos e capazes de exercitar o léxico da língua, dono, sim, de uma personalidade que devora tudo e nos devolve artefatos de linguagem, em especial seu interesse pelo cinema e pela canção de fossa. Quando Ramerrão foi lançado, escrevi em linguajar pedante-especializado para a Modo de Usar & Co.: “Uma das características que mais me interessam em seu trabalho é como sua composição, nos melhores momentos, parece oscilar entre hipotaxe e parataxe, entre o linear e o desconexo, criando um encadeamento de imagens e ideias que surpreendem, mas ao mesmo tempo encaixam-se com uma naturalidade da voz, a voz dos bons de papo.”
Pois ler Ismar Tirelli Neto é como estar diante de alguém que fala tanto com inteligência como com exuberância. Suas encadeações de argumento desconexas, sua escrita elíptica, mostram-se tanto nos textos que ocupam toda a página como nos poemas propriamente ditos. Mas é interessante notar como a linguagem se materializa mais nos textos em prosa, com o estranhamento da mescla dos registros culto e popular, resgatando palavras de outros ambientes, porque ali funcionam e nos levam a estas vidas isoladas e descritas com carinho e agressão ao mesmo tempo, de um mundo que parece ter perdido o dom de compartilhar, ainda que “compartilhar” seja um dos verbos mais usados nestes tempos de redes sociais.
A mim, o que principalmente importa é o prazer da linguagem através da exuberância da língua, e neste talento ele aproxima-se de seu conterrâneo Victor Heringer, ainda que sejam autores de índoles muito distintas. Talvez a melhor maneira seja remeter o leitor ao próprio texto de Ismar Tirelli Neto, como neste início de “As mães em chamas”:
“Desde que pôs os pés aqui dentro, já quase não tenho forças para visitar ninguém. Isto deve ter sido em fins de março. De lá para cá, não houve um só instante de paz. Abro a porta e lá está ela – a mãe, em chamas. Tento me explicar, não posso, não estou em casa. Mas ela passa por mim estalando, senta-se no sofá sem dar acordo do que digo. O que é, mãe? É dinheiro? Precisa de dinheiro? São os tranquilizantes? Eu não tenho tranquilizantes. O que tenho? Receio que as línguas de fogo acabem se alastrando pelo sofá, mas parecem inteiramente circunscritas à sua figura breve, acaixotada. Ela já não foi assim, evidente, houve tempo que não era assim –, como nos comove pensar que houve tempo que não era assim, que eu não andava tão ocupado –, da missa –, a metade –, coloco a distância avisada. Longo tempo permaneço chegado à porta, a mão sobre a maçaneta, o rosto voltado em sua direção. Minha mãe se volta com o fogo para mim. Minha mãe se volta com o fogo para mim. Minha mãe faz com o fogo inúmeros gestos exasperados sem finalidade aparente. Crepita, estala, balbucia. Sua voz rompe o mosquiteiro negro e ocupa com um espesso ruído eletrônico. Essa voz, esse som, tão volumoso que não consigo me acercar. Continuo chegado à porta, a mão na maçaneta, o rosto voltado em sua direção. O que significa? Que derrota tomar? Ela se volta com o fogo para mim. No corredor, uma pinha de passantes. Limpo a garganta, tusso, peço desculpas. Como é antigo este vaudeville. Devo pegar um balde d’ água, minha mãe? Devo tremer? Devo telefonar para alguém? Quer que eu prepare um escalda-pés? Pequenos pedaços chamuscados de papel vão saltando dela, antes de pousarem no piso riscado riscam no ar uns adejos tolos – sei que se trata de um pedido, sei que querem algo de mim, algo talvez importantíssimo, mas o quê? Sinto-me culpado, não sei que derrota tomar, rebusco em mim mesmo algum escrúpulo de lealdade.” – Ismar Tirelli Neto, Os ilhados (Rio de Janeiro: 7Letras, 2015).
Aqui vemos exemplificado o que tento argumentar sobre o livro: a narratividade atenta à materialidade da língua, o controle de tom, o uso do léxico, com um vocabulário que vai do “escalda-pés” à “pinha de passantes”. É uma experimentação da língua com febre, que busca o real através da hipersensibilidade, e seu uso da língua portuguesa poderia ligá-lo aos mais diversos autores, de Otto Lara Resende a Hilda Hilst, mas, como cada um eles, de maneira pessoalíssima. Pensando em alguns de seus textos como contos, por vezes me veio a escrita de Donald Barthelme e Lydia Davis à mente.
Ezra Pound escreveu certa vez que deveríamos prestar atenção nos poetas, que talvez seus comportamentos aparentemente estranhos possam indicar simplesmente que estão vendo uma catástrofe formar-se, catástrofe que ainda não se tornou visível a todos. É nisto que escolho não ver este belo, triste e por vezes claustrofóbico livro de Ismar Tirelli Neto como fruto das possíveis derrotas pessoais do autor, mas ver nestas vozes-personagens um alerta de nossas catástrofes vindouras, quando talvez estaremos todos ilhados, verdadeira e literalmente ilhados, não em nossas vidas, mas em nossas sobrevivências. Como tantos de nós já estamos.
Pequena nota sobre “A Paixão”
Antes da editora paulistana Cosac Naify haver lançado a edição brasileira de A Paixão (São Paulo: Cosac Naify, 2014), do português Almeida Faria, publicado originalmente em Portugal em 1965, não consigo lembrar-me de ter ouvido falar do escritor ou da obra. Se aconteceu, de certa forma acabou passando despercebido, ou fugindo de minha memória. É constrangedor, agora que travei contato com o grande autor português, e não posso querer culpar as complexas relações literárias entre Brasil e Portugal. Ao mesmo tempo, não estou exatamente alheio à literatura portuguesa e, ao ler a respeito do livro, e principalmente ao ler o próprio livro, fiquei perplexo que ele ainda não houvesse entrado em meu universo mental, ou tivesse participado com mais presença de debates ao alcance dos meus olhos sobre a literatura contemporânea em língua portuguesa antes disso.
 O livro não poderia vir com melhores recomendações. Na contracapa, aquele que muitos brasileiros consideram o maior prosador português do pós-guerra, António Lobo Antunes, é citado dizendo: “Na minha geração, lembro-me de sair A paixão de Almeida Faria e eu com 19 anos a pensar: Nunca chegarei aos calcanhares deste homem”. O italiano Antonio Tabucchi compara o português ao brasileiro João Guimarães Rosa e a seu conterrâneo Carlo Emilio Gadda, dois dos grandes experimentadores de suas línguas e da literatura ocidental no século 20. Não são palavras quaisquer. Ao ler sobre o livro em artigos no Brasil, muito se comentou sobre a influência que a obra teve sobre Raduan Nassar e a composição de seu primeiro e grande romance, Lavoura arcaica (1975). É necessário haver lido os dois livros para perceber o quanto aquela lavoura apaixonou-se.
O livro não poderia vir com melhores recomendações. Na contracapa, aquele que muitos brasileiros consideram o maior prosador português do pós-guerra, António Lobo Antunes, é citado dizendo: “Na minha geração, lembro-me de sair A paixão de Almeida Faria e eu com 19 anos a pensar: Nunca chegarei aos calcanhares deste homem”. O italiano Antonio Tabucchi compara o português ao brasileiro João Guimarães Rosa e a seu conterrâneo Carlo Emilio Gadda, dois dos grandes experimentadores de suas línguas e da literatura ocidental no século 20. Não são palavras quaisquer. Ao ler sobre o livro em artigos no Brasil, muito se comentou sobre a influência que a obra teve sobre Raduan Nassar e a composição de seu primeiro e grande romance, Lavoura arcaica (1975). É necessário haver lido os dois livros para perceber o quanto aquela lavoura apaixonou-se.
Em A paixão, primeiro volume da chamada Tetralogia Lusitana, acompanhamos uma família do Alentejo por um único dia, uma Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão. Cada capítulo é dedicado a um membro da família, seus pensamentos, seus terrores, sua linguagem, suas paixões – que mantêm no livro sua acepção de sofrimento, de cruz que se carrega. Altamente lírico, o romance mescla vários registros de linguagem. Para um leitor brasileiro, a mim pelo menos, por vezes é difícil saber onde começa o experimental e sublime, e onde o registro de uma fala popular quiçá chã, que se mostra poética por nos ser distante, alheia. Mas talvez seja nisso que Almeida Faria se aproxime, como quer Tabucchi, de Guimarães Rosa. O que parece invenção ou até neologismo pode mostrar-se, com alguma pesquisa, o registro do mais castiço e arcaico dos vocábulos da nossa língua. Uma língua em constante fluxo de invenção, resgate e registro. É, ao menos, a impressão que deixou neste leitor sumamente ignorante das especificidades linguísticas do Alentejo, onde nasceu o autor.
Em sua estrutura, o livro pode ser ligado ainda a trabalhos como As I lay dying (1930), de William Faulkner, e The Waves (1931), de Virginia Woolf. Em nossa língua, sua leitura se prova uma experiência singular. Não será, certamente, leitura para todos. O romance mostra como realidade e língua se mesclam e são interdependentes, não por trazer esta discussão de maneira retórica, mas por demonstrá-la em ação. Realismo se torna impressão. Ouso aqui, provavelmente por lealdade pessoal, a ligar o autor ainda a Raul Pompeia. Aos que têm prazer com os meandros e giros de boca e língua da nossa língua, é prato cheio.
Almeida Faria nasceu no Alentejo em 1943. Seu primeiro livro, Rumor branco, apareceu em 1962, quando o autor tinha apenas 19 anos. Após A Paixão, a Tetralogia Lusitana seguiria com Cortes (1978), Lusitânia (1980) e Cavaleiro Andante (1983). Autor ainda de peças teatrais, novelas e ensaios, tradutor do alemão Hans Magnus Enzensberger, o português Almeida Faria adentrou o universo mental deste crítico ignorante para ficar. Um dos grandes autores vivos de nossa língua: lírica, castiça e inventiva.
As memórias de Luiz Roberto Salinas Fortes
Nasci em julho de 1977, em pleno inverno, ou, como se diz no interior de São Paulo, no meio duma frente fria. Meu pai, como minha mãe sempre gostava de dizer, não estava na cidade, mas em São Paulo, cuidando de assuntos da prefeitura de Bebedouro, onde trabalhou por muitos anos em meio à Ditadura Militar. O primero nome de político que aprendi foi o de Paulo Maluf, a quem meu pai apoiou politicamente toda a sua vida. No Palácio do Planalto, oficiava Ernesto Geisel os ritos da nacionalidade. Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda estavam mortos, fazia pouco. Há mais tempo estavam mortos Lamarca e Marighela. Iara Iavelberg. A guerrilheira Maria Auxiliadora Lara Barcelos, do VAR-Palmares, havia se lançado na frente de um trem em Berlim – onde eu jamais poderia imaginar que viria a viver – fazia mais de um ano. Toda a resistência à ditadura havia sido massacrada. Se o período de chumbo começava a arrefecer, ainda fazia vítimas e deixava detrás de si milhares de mortos e desaparecidos. Quais são minhas memórias da Ditadura, tendo nascido e vivido em seus últimos oito anos? Lembro-me de João Figueiredo em pronunciamento oficial na televisão, minha pergunta a minha mãe sobre quem era aquele homem. “O presidente”, ela disse. As aulas de Educação Cívica na escola, as de Organização Social e Política do Brasil. O hino nacional cantado todas as manhãs, antes das aulas. A mão direita no peito.
 Ler as memórias de Luiz Roberto Salinas Fortes (1937-1987) nesta última semana foi uma experiência difícil. Lançado pela primeira vez em 1988, após a morte do escritor, tradutor e professor de filosofia da Universidade de São Paulo, Retrato Calado é um documento essencial para nossa época. O volume foi relançado pela Cosac Naify em 2012. Estranho e pungente ler as memórias deste homem, saído do interior de São Paulo para estudar filosofia em São Paulo, como eu mesmo fizera, reconhecer algumas experiências e ao mesmo tempo perceber como o horror histórico em que se viu lançado era diferente do meu.
Ler as memórias de Luiz Roberto Salinas Fortes (1937-1987) nesta última semana foi uma experiência difícil. Lançado pela primeira vez em 1988, após a morte do escritor, tradutor e professor de filosofia da Universidade de São Paulo, Retrato Calado é um documento essencial para nossa época. O volume foi relançado pela Cosac Naify em 2012. Estranho e pungente ler as memórias deste homem, saído do interior de São Paulo para estudar filosofia em São Paulo, como eu mesmo fizera, reconhecer algumas experiências e ao mesmo tempo perceber como o horror histórico em que se viu lançado era diferente do meu.
Muito bem escrito, Salinas Fortes nos lança em pleno pesadelo em seu livro. Não há introdução, preparação de cena: começamos na primeira página já caminhando com ele em um corredor daquele prédio de horrores no Largo General Osório em São Paulo, onde o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) teve sua famosa e infame sede, a caminho da sala onde seria torturado. Mas o homem que ali caminha, com um pacote nas mãos que os agentes de segurança fizeram-no carregar, não sabe o que está prestes a acontecer. Quando chegam à sala e ordenam a Luiz Roberto Salinas Fortes que abra o embrulho, ele percebe que acabara de carregar o próprio aparelho de choques elétricos que usariam contra ele naquela noite. Os agentes explodem em riso. Fosse uma imagem literária, de ficção, eu tiraria aqui o chapéu para o escritor por criar uma imagem de tamanha força. Mas aquilo era a realidade, a realidade de tantos homens e mulheres durante o Regime Militar no Brasil. Despido, pendurado no pau-de-arara, o escritor logo estaria em pleno pesadelo. É leitura de arrancar as entranhas. Penso no poema de Wisława Szymborska chamado “Torturas”: “Nada mudou. / O corpo sente dor, / necessita comer, respirar e dormir, / tem a pele tenra e logo abaixo sangue, / tem uma boa reserva de unhas e dentes, / ossos frágeis, juntas alongáveis. / Nas torturas leva-se tudo isso em conta” (Poemas, tradução de Regina Przybycien, Companhia das Letras, 2012).
O candor e honestidade com que Salinas Fortes narra esta experiência horrível torna o relato ainda mais potente. Os gritos, o momento em que seu corpo não mais tolera a dor e ele defeca de dor, o terrível momento em que, sendo questionado onde certo amigo poderia ser encontrado, o escritor deixa escapar o nome de uma amiga, a viagem terrível à casa da amiga, com ele no camburão, a prisão da amiga na sua frente, as dúvidas sobre heroísmo e covardia, sua honestidade, sua sinceridade. É não apenas um documento da memória política de um período que ainda nos assombra, mas também uma reflexão admirável sobre a natureza política do ser humano.
A escrita das testemunhas de horrores, daqueles que os viveram na própria pele, é imprescindível para que conheçamos um período não apenas por números, estatísticas. Dar rosto ao horror é um trabalho que exige força hercúlea de um escritor. É esta força histórica que nos assombra nos relatos de homens como Primo Levi, nos poemas de Paul Celan. A importância de um livro como Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, levando-nos ao horror daquela outra violenta ditadura, a de Getúlio Vargas. O Brasil, sempre ocupado em esquecer, em olhar adiante, adiante e avante, deixando suas ossadas para trás.
A literatura brasileira ainda parece hesitar diante do período. Penso em textos fortes como o conto de Sérgio Sant’Anna, “O concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro”; ou o de Zulmira Ribeiro Tavares, “Cortejo em abril”, com o enterro de Tancredo Neves como pano de fundo. Nos últimos anos, escritores como Beatriz Bracher voltaram ao período em seus livros de ficção. Mas o livro de Luiz Roberto Salinas Fortes, memória, não ficção, com sua inegável qualidade literária, nos toca de forma diferente. Nos fustiga.
“E tudo ficará na mesma? Os mesmos senhores de sempre continuarão tranquilos, comandando como se nada tivesse acontecido? Maquiavéis baratos. Sim, pois Maquiavel não ensina, entre outras coisas, estar condenado à ruína o príncipe que, em vez de ferir mortalmente o inimigo, apenas o fustiga ainda que dura e cruelmente, deixando-o afinal intacto – ou quase –, pronto para a nova investida?”, escreve Salinas Fortes ao final do livro.
Ao ler estas palavras, me perguntei se o autor se referia à Ditadura ou a si mesmo (e a nós) como o que estaria pronto para a nova investida. À Ditadura, certamente, à elite civil brasileira e às Forças Armadas, os que decidiram como seria a chamada “transição”, nossa redemocratização capenga, que nos legou, por exemplo, esta Polícia que mata mais que exércitos em guerra. Volto ao poema de Szymborska:
Nada mudou.
Exceto talvez os modos, as cerimônias, as danças.
O gesto da mão protegendo o rosto,
esse permaneceu o mesmo.
O corpo se enrosca, se debate, se contorce,
cai se lhe falta o chão, encolhe as pernas,
fica roxo, incha, baba e sangra.
Nas ruas do Brasil, segue-se torturando. Corpos negros e pobres ainda se enroscam, se debatem, se contorcem, caem quando lhes falta o chão, encolhem as pernas, ficam roxos, incham, babam, sangram, defecam aos pés do torturador quando desce o cacetete sobre seus crânios, são desmembrados, somem como o corpo de Ísis Dias de Oliveira desapareceu em 1972, como o de Amarildo de Souza desapareceu em 2013. Homens que fizeram sua carreira política durante a Ditadura, como José Sarney e Paulo Maluf, a quem meu pai tanto apoiou, aí estão. Quantos ainda aí estão, prontos para a nova investida?
Mas o livro de Luiz Roberto Salinas Fortes foi também a sua própria última investida. Seu último ato de resistência. Para honrá-lo, devemos lê-lo. Lê-lo, ainda, porque os horrores daquele tempo ainda nos assombram. São monstros dentro do armário, sempre a sair se fechamos os olhos.
Um amante de domingo e a vontade de matar um cabrão: nota sobre o romance de Alexandra Lucas Coelho
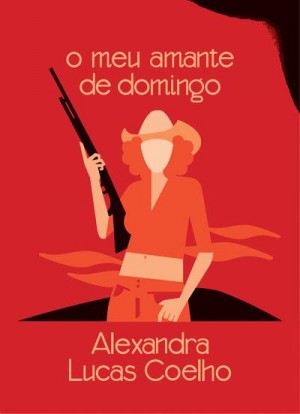 Uma das personagens mais famosas da literatura em língua portuguesa é uma mulher da qual não ouvimos qualquer palavra de sua própria boca, Capitu. De quem sabemos apenas o que seu marido tinha a dizer. Suas palavras, editadas e relatadas por ele. A que ficou conhecida pelo epíteto nada elegante que ele lhe deu, a “cigana de olhos oblíquos e dissimulados”. Se querem minha opinião, com um marido daqueles, faço votos de que Capitu tenha gozado belas horas ao lado de Escobar, que acordava às seis da manhã para nadar no mar e devia ser um Adônis.
Uma das personagens mais famosas da literatura em língua portuguesa é uma mulher da qual não ouvimos qualquer palavra de sua própria boca, Capitu. De quem sabemos apenas o que seu marido tinha a dizer. Suas palavras, editadas e relatadas por ele. A que ficou conhecida pelo epíteto nada elegante que ele lhe deu, a “cigana de olhos oblíquos e dissimulados”. Se querem minha opinião, com um marido daqueles, faço votos de que Capitu tenha gozado belas horas ao lado de Escobar, que acordava às seis da manhã para nadar no mar e devia ser um Adônis.
Apenas no fim do século 19 e início do 20, algumas mulheres começam a se fazer ouvir com força, com as poetas Francisca Júlia, Florbela Espanca e Cecília Meireles, até a benvinda chegada de Agustina Bessa-Luís, Clarice Lispector, Maria Velho da Costa, Hilda Hilst, Maria Gabriela Llansol. É ímpossvel pensar a literatura lusófona hoje sem a presença marcante de mulheres, ainda que editoras e feiras literárias se esforcem muito para fazer justamente isso. Pena que até hoje alguns insistem em ignorar nossas devassas e nossas monjas. Monjas como a portuguesa Sóror Maria do Céu, que escreveu o excelente “Cidra, ciúme”:
Cidra, ciúme
Sóror Maria do Céu
É ciúmes a Cidra,
E indo a dizer ciúmes disse Hidra,
Que o ciúme é serpente,
Que espedaça a seu louco padecente,
Dá-lhe um cento de amor o apelido,
Que o ciúme é amor, mas mal sofrido,
Vê-se cheia de espinhos e amarela,
Que piques e desvelos vão por ela,
Já do forno no lume,
Cidra que foi zelo, se não foi ciúme,
Troquem, pois, os amantes e haja poucos,
Pelo zelo de Deus, ciúmes loucos.
Este poema me veio à mente na semana passada, enquanto andava por Berlim com o romance de Alexandra Lucas Coelho no bornal, O Meu Amante de Domingo (Lisboa: Tinta-da-China, 2014). Conhecida por sua coluna “Atlântico-Sul” no jornal português O Público e autora de várias coletâneas de textos de viagem, como Viva México, Caderno Afegão e Vai, Brasil!, a lisboeta, nascida em 1967, já tinha publicado o romance E a noite roda (Lisboa: Tinta-da-China, 2012).
O Meu Amante de Domingo é marcado por suas experiências entre Brasil e Portugal, e tem por “personagem” Nelson Rodrigues, com quem a narradora dialoga ao longo de seus planos de vingança contra um “cabrão” que a usou durante um mês em busca de “material literário”. O plano da narradora é, muito compreensivelmente, matá-lo. Aquele que jamais teve fantasias homicidas contra um macho, um cabrão, ou canalha para usar expressão frequente em Nelson Rodrigues, que atire a primeira pedra. Eu próprio jamais havia considerado usar a pata de um elefante, e minhas fantasias foram inúmeras e várias num determinado ano de minha vida. Agradeço à autora por esta adição a meu repertório.
“Porque os caubóis têm um menu. Modo trocista, modo culto, modo porno, modo tão filho da puta que só mesmo a morte por esmagamento de pata de elefante, ainda que, claro, na actual crise portuguesa não seja tão fácil arranjar elefantes como, digamos, em 1497, quando as naus saíam ali do Terreiro do Paço para meses de escorbuto e carne podre à procura da Índia” [Alexandra Lucas Coelho, in O Meu Amante de Domingo].
No meio tempo, narra suas invejáveis tardes com um mecânico que adora reticências em mensagens de texto, e as nada invejáveis com um poeta cinquentão que parece conhecer melhor a poesia suméria do que o trato com seres humanos com os quais compartilha o oxigênio de seu século. Há ainda o Apolo das piscinas, novo rico que esbanja euros e ereções. O mundo lusófono tem certa abundância de tais personagens.
“Deu certo: ninguém a não ser nós dois, Apolo activo na mariposa, eu já na fase chill out ao cabo de mil metros costas, contraindo e expandindo os músculos mais próximos do sudeste asiático, essa região onde delicadas fêmeas expelem bolas de pingue-pongue da sua buceta de Pandora. Buceta é um óptimo nome para cona. Aliás, portugueses e brasileiros podiam resolver assim as suas diferenças, caso a literatura não funcione. Português, conheça a buceta. Brasileiro, conheça a cona. Pronto, ide como irmãos, e que a paz vos acompanhe” [Alexandra Lucas Coelho, in O Meu Amante de Domingo].
Num texto que flui que é uma delícia, Alexandra Lucas Coelho vai do jogo com a língua usada entre as duas margens do Atlântico à intertextualidade no diálogo com Nelson Rodrigues, Machado de Assis, Balzac e Joyce, entre outros. Há os momentos ainda de vingança histórica, como ao resgatar Ana da Cunha / Ana de Assis, que se viu em meio à tormenta dos tablóides brasileiros da época após os machos Euclides da Cunha e Dilermando de Assis trocarem tiros por sua causa, e um dos usos mais eficientes e discretos da metaficção que passaram por meus olhos nos últimos tempos, ao trazer a escrita do romance O Meu Amante de Domingo para dentro da escrita do romance O Meu Amante de Domingo. Enquanto isso tudo ocorre, dei gargalhadas terapêuticas com o humor fino da autora e sua narradora.
O livro me levou também a pensar na transformação pela qual passa a escrita de mulheres em nossa língua. Não há espaço para essa discussão neste pequeno texto, que se quer apenas uma nota sobre um romance que recomendo a todos e, especialmente, todas. Mas pensei numa possível leitura comparada entre o romance de Alexandra Lucas Coelho e o mais famoso de Chris Kraus, I Love Dick (1997). Os jogos de revelação e confissão que levam a uma escrita libertária do corpo feminino. A mulher por sua própria voz. Mas o que saberia eu destas coisas, sendo homem? Trabalhos para o futuro. No prefácio de Eileen Myles para o romance de Chris Kraus, ela fala sobre female abjection e cita Carl Dreyer, na estratégia de usar “artifice to strip artifice of artifice”. Isso me pareceria apto para discutir também o romance de Alexandra Lucas Coelho, que ainda pode gerar discussões importantes em nosso contexto lusófono machista. E, em meio a isso tudo, o prazer do texto. Tenham uma boa tarde de domingo com um cabrão e então leiam este livro na cama, com um cigarro.
Historietas e epitáfios
O biográfico como ponto de partida para a escrita é uma moeda instável no mercado dos valores literários. O que em uma época pode tornar seus autores famosos, pode também lançá-los no esquecimento na seguinte. Autores recorrem a ele com fins e efeitos diversos. Podemos pensar em escritores que permanecem em nossa memória e nossas estantes por seus diários e memórias, como Anaïs Nin e Helena Morley, para citar autoras de carreiras e temperamentos praticamente opostos. Há os que ficcionalizam suas próprias experiências, como Jack Kerouac em todos os seus romances. Há ainda o caso peculiar do livro de Gertrude Stein, The Autobiography of Alice B. Toklas.
Na década de 60, os poetas norte-americanos conhecidos como confessionais, entre eles Sylvia Plath, Anne Sexton e John Berryman (três suicidas), tornaram-se celebridades com seus poemas viscerais sobre seus divórcios, suas guerras contra a insanidade, suas derrotas. Sua reputação ascende e decai, dependendo do valor que a época dá ao biográfico e, especialmente, autobiográfico. Na verdade, parecemos fazer uma distinção de valor entre os dois, como se estivéssemos preparados a aceitar o autobiográfico no mesmo patamar da ficção, mas relegando a escrita de biografias ao campo da historiografia, do documentário e do jornalismo. O que tomamos por mais literário? As memórias em vários volumes de Pedro Nava, ou as biografias de Carmen Miranda e Nelson Rodrigues escritas por Ruy Castro?
 Em muitos casos, biografia e ficção tornam-se inseparáveis, como na poesia de Ana Cristina Cesar. Em outros, mesmo que apresentados como ficção, um conhecimento da vida do autor mostra imediatamente que ele buscou lidar com demônios bastante reais no texto. Um caso clássico é a peça mais conhecida de Eugene O’Neill, Long Day’s Journey Into Night, que leva ao palco sua família, da forma mais desnuda: seu pai, um ator fracassado; sua mãe, viciada em morfina; seu irmão alcóolatra. Memória e biografia são elementos que perpassam a literatura mundial em todas as suas manifestações e podem gerar textos assustadores, essenciais, revolucionários. Para terminar com a já imensa lista de exemplos: Joseph Brodsky considerava os dois livros de memórias de Nadezhda Mandelshtam a mais alta prosa russa do pós-guerra, e Claude Lévi-Strauss revolucionou o pensamento antropológico com um livro que foi em primeiro lugar idealizado como um livro de memórias, Tristes Trópicos.
Em muitos casos, biografia e ficção tornam-se inseparáveis, como na poesia de Ana Cristina Cesar. Em outros, mesmo que apresentados como ficção, um conhecimento da vida do autor mostra imediatamente que ele buscou lidar com demônios bastante reais no texto. Um caso clássico é a peça mais conhecida de Eugene O’Neill, Long Day’s Journey Into Night, que leva ao palco sua família, da forma mais desnuda: seu pai, um ator fracassado; sua mãe, viciada em morfina; seu irmão alcóolatra. Memória e biografia são elementos que perpassam a literatura mundial em todas as suas manifestações e podem gerar textos assustadores, essenciais, revolucionários. Para terminar com a já imensa lista de exemplos: Joseph Brodsky considerava os dois livros de memórias de Nadezhda Mandelshtam a mais alta prosa russa do pós-guerra, e Claude Lévi-Strauss revolucionou o pensamento antropológico com um livro que foi em primeiro lugar idealizado como um livro de memórias, Tristes Trópicos.
Biografia real e inventada. É uma questão que me interessa como escritor especialmente por estar entre aqueles que se baseiam fortemente nas próprias experiências para a escrita. Mas nem sempre o biográfico precisa assumir um caráter épico, almejando a grandeza da figura humana. O biográfico pode ser impiedosamente satírico, devastador em nossas ilusões de grandeza, própria e alheia. Gostaria de comentar aqui dois livros discretos que li nos últimos meses e que me levaram a pensar nestas questões uma vez mais. Um deles acaba de ser lançado no Brasil pela editora Civilização Brasileira, um pequeno volume do bibliófilo francês Jacques Bonnet, intitulado Algumas Historietas, ou Pequeno elogio da anedota em literatura (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015), com tradução de Marcelo Jacques de Moraes. Nele, Bonnet se debruça sobre o trabalho de Gédéon Tallemant des Réaux (1619-1692) em suas Historiettes, um escritor francês do século XVII que comentou, em pequenas histórias biográficas, sem piedade, as sandices de várias figuras importantes das cortes de Henrique IV e Luís XIII. Sobre o cardeal Richelieu, ministro-chefe de Luís XIII, escreveu: “O cardeal, se tivesse desejado, com o poder que tinha, fazer o bem que podia fazer, teria sido um homem cuja memória teria sido bendita para sempre. É verdade que o gabinete lhe dava muito trabalho”, ou, para ilustrar a relação entre o cardeal e o rei: “O rei só foi ver o cardeal um pouco antes de ele morrer, e tendo-o encontrado muito mal, saiu muito contente.”
Em poucas linhas, Tallemant des Réaux é capaz de descontruir a imagem épica dos tais grandes homens, mostrando-os em suas paixões mais mesquinhas, como, por exemplo, a mania de Luís XIII de imitar com caretas seus súditos, assim como anedotas sobre vários homens e mulheres da corte, entregues a suas loucuras e disparates. Na primeira parte do livro, Jacques Bonnet faz uma defesa da anedota como fonte de verdades muitas vezes mais confiável, com sua inteligência e graça particulares. Ele cita Albert Camus: “Eu trocaria de bom grado todo o livro das Máximas por uma frase feliz de A princesa de Clèves [romance histórico da Madame de La Fayette, publicado em 1678] e por dois ou três fatos verdadeiros como os sabia colecionar Stendhal.” Na última parte do livro, Bonnet demonstra sua erudição ao buscar ecos de Tallemant des Réaux em autores que o leram ou não, como os franceses Guy de Maupassant, Marcel Proust ou Pascal Quignard, o russo Nikolai Leskov, e até mesmo os brasileiros Aluízio Azevedo e Machado de Assis. O livro é de leitura leve e divertida, conseguindo apontar caminhos interessantes de crítica, sem pompa e fanfarra. Atacando justamente a pompa e a fanfarra com que se cercavam aquelas pessoas. Não é de se admirar que o livro de Tallemant des Réaux só seria publicado no século 19.
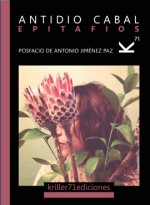 O segundo livro que gostaria de comentar é a coletânea de poemas Epitafios, do espanhol Antidio Cabal (1925-2012), lançado postumamente, no ano passado, pela editora barcelonense Kriller71 Ediciones. Nascido em Las Palmas de Gran Canária, Antidio Cabal emigrou muito jovem para a Venezuela e mais tarde para Costa Rica, exilando-se de seu país, como muitos intelectuais, em fuga da ditadura de Franco, e viveu o resto de sua vida na América Latina, tendo sido professor de filosofia em universidades na Venezuela e na Costa Rica. O livro consiste tão-somente de epitáfios para personagens fictícias. Como Bonnet, buscando ligações entre Tallemant de Réaux e outros escritores, não pude deixar de pensar, ao ler as historietas do francês, na argúcia e lucidez de Antidio Cabal em suas poucas e curtas linhas usadas para descrever a vida de suas personagens, após a hora de suas mortes:
O segundo livro que gostaria de comentar é a coletânea de poemas Epitafios, do espanhol Antidio Cabal (1925-2012), lançado postumamente, no ano passado, pela editora barcelonense Kriller71 Ediciones. Nascido em Las Palmas de Gran Canária, Antidio Cabal emigrou muito jovem para a Venezuela e mais tarde para Costa Rica, exilando-se de seu país, como muitos intelectuais, em fuga da ditadura de Franco, e viveu o resto de sua vida na América Latina, tendo sido professor de filosofia em universidades na Venezuela e na Costa Rica. O livro consiste tão-somente de epitáfios para personagens fictícias. Como Bonnet, buscando ligações entre Tallemant de Réaux e outros escritores, não pude deixar de pensar, ao ler as historietas do francês, na argúcia e lucidez de Antidio Cabal em suas poucas e curtas linhas usadas para descrever a vida de suas personagens, após a hora de suas mortes:
EPITÁFIO PARA JACINTO MODALES, VULGO O BOTAS
Vivi lutando contra a gordura e a ontologia,
agora está tudo no caixão.
§
EPITÁFIO DO VIGÁRIO TRÚSTEGUI, VULGO O SABICHÃO
Antes eu queria ser eu,
agora ser me dá na mesma.
Os exemplos são vários, personagens descrevendo suas vidas e lutas, nesta última tentativa de ter a última palavra que é o epitáfio, e desmascarando-se em ilusão e desilusão: “Há muito mérito em se estar morto, / já não sou um náufrago”, “Nascer existir falecer / já sei como se divide / o nada por três”, ou ainda “Os que me amaram me achavam um tonto, / só os que me odiaram me conheceram bem.”
Entre experiência e invenção, entre as vidas épicas e as mesquinhas, vamos contando nossas histórias sobre nós mesmos e os outros, às vezes mentindo um pouquinho para nós próprios, às vezes para os demais, muitas vezes descobrindo a verdade quando já é tarde demais. Como no verso de Dante Milano, “Até que a terra / Com sua garra / Nos rasgue a máscara.”







Feedback