Sobre o “Jóquei” de Matilde Campilho
 Poucos livros de poesia em língua portuguesa nos últimos anos foram recebidos com a atenção e o entusiasmo que se dedicou a Jóquei (Lisboa: Tinta-da-China, 2014), de Matilde Campilho. Sim, é certo que a Poesia Reunida de Paulo Leminski entrou para a lista de mais vendidos, e a felicidade de muitos leitores foi grande com a reunião da obra poética de Ana Cristina Cesar em um único volume, ambos pela Companhia das Letras. Mas são autores de culto já há algum tempo. Matilde Campilho era uma estreante, tendo surgido no cenário com alguns poucos poemas publicados em jornais e revistas, todos no Brasil. Em Portugal, a recepção foi tonitruante. Em poucos meses, o livro chegou à terceira edição, e a autora foi convidada de programas de televisão, rádio, tendo o livro comentado pelos principais jornais dos dois lados do charco Atlântico.
Poucos livros de poesia em língua portuguesa nos últimos anos foram recebidos com a atenção e o entusiasmo que se dedicou a Jóquei (Lisboa: Tinta-da-China, 2014), de Matilde Campilho. Sim, é certo que a Poesia Reunida de Paulo Leminski entrou para a lista de mais vendidos, e a felicidade de muitos leitores foi grande com a reunião da obra poética de Ana Cristina Cesar em um único volume, ambos pela Companhia das Letras. Mas são autores de culto já há algum tempo. Matilde Campilho era uma estreante, tendo surgido no cenário com alguns poucos poemas publicados em jornais e revistas, todos no Brasil. Em Portugal, a recepção foi tonitruante. Em poucos meses, o livro chegou à terceira edição, e a autora foi convidada de programas de televisão, rádio, tendo o livro comentado pelos principais jornais dos dois lados do charco Atlântico.
As expressões de críticos eram de pasmo, surpresa. No jornal português O Público, o crítico João Bonifácio chegou a chamar a autora de “meteorito” (“A montanha privada de Matilde Campilho”, O Público, 1.8.2014). A metáfora me pareceu estranha, já que meteoritos não são exatamente bem-vindos, e tendem a espatifar-se no chão, causando um ou dois estragos. No mesmo O Público, o crítico Gustavo Rubim escreveu uma pequena nota, dizendo: “Esta coisa é certa: nenhuma geração de poetas nos prepara para a geração seguinte. Fôssemos acreditar em certo recato, pacato até na rebeldia, que por aí imperou em livros e revistas, e o vento de pura selvajaria que sopra na poesia de Matilde Campilho ser-nos-ia absolutamente ininteligível. Jóquei é um acontecimento precioso em língua portuguesa, nem vale a pena dizer menos.” E uma palavra parece recorrente nos comentários ao livro: alegria, a alegria da autora e seus poemas, diagnosticando esta como o motivo para a paixão de tantos leitores pelo trabalho de Matilde Campilho. No Brasil, a última autora portuguesa a gerar esta atenção havia sido Adília Lopes, quando Carlito Azevedo publicou sua Antologia (São Paulo/Rio de Janeiro: CosacNaify/7Letras, 2002), na década anterior.
Parece difícil filiar a poesia da autora, e isso não deixa de ser sorte para Campilho, que escapou em grande parte da obsessão, de certos críticos (eu, muitas vezes, entre eles), de encontrar pai e mãe para novos poetas. Ao mesmo tempo, essa tentativa de fazer sua poesia pairar como sem âncora na poética lusófona contemporânea não me parece completamente correta. Talvez Rubim tenha apontado um caminho correto ao posicionar a obra da autora contra o pano de fundo das publicações dos últimos anos. Creio que ele se referia tão-só à poesia portuguesa, mas não deixa de fazer sentido também em relação à brasileira.
Portugal conta hoje com excelentes poetas. Sou um admirador do trabalho de Miguel Martins, assim como de António Barahona, Rui Pires Cabral, Inês Dias e vários outros. Mas são autores de outra geração, e talvez haja realmente algo diferente acontecendo agora, cada qual à sua maneira, no trabalho de poetas como Golgona Anghel, Raquel Nobre Guerra… e Matilde Campilho, foco deste artigo.
Tentarei elaborar algumas ideias a seguir, como poeta e crítico brasileiro, o que certamente condiciona minha leitura. Não vou retomar a narrativa sobre sua biografia nos últimos anos. Sabe-se, isso foi mencionado em todos os artigos, que Matilde Campilho, nascida em Lisboa em 1982, vive há alguns anos entre sua cidade natal e o Rio de Janeiro. A influência disso sobre sua escrita foi também discutida, seu português lisboeta-carioca, o uso de construções sintáticas que se mesclam entre os infinitivos e os gerúndios, expressões dos dois países casadas muitas vezes no mesmo poema. Isso certamente tem um impacto sobre sua linguagem e portanto sobre seus leitores, um impacto de estranhamento, que funciona poeticamente nos dois territórios lusófonos.
Mesmo antes de publicar – como nos acostumamos a entender publicação, ou seja, botar no papel, Matilde Campilho já havia publicado (tornado públicos) outros textos, com sua voz, em vídeos. Isso é um fator importante. Ainda que os textos dos vídeos não tenham entrado no livro, com a exceção de “Conversa de fim de tarde depois de três anos no exílio”, a composição deles, seja qual for o suporte de publicação, parece-me fincada na tradição oral. No seu manifesto “Personism”, Frank O’Hara – com quem creio que a portuguesa aprendeu algumas coisas, escreve: “While I was writing it I was realizing that if I wanted to I could use the telephone instead of writing the poem.” Há no trabalho de Campilho um tom de conversação, de diálogo, e dois dos poemas chegam a assumir esta forma [“Obituário de J. Anderson Pritt, pela mão da viúva” e “Quando (A) e (B) se sentam no degrau da banca de jornal para conversar sobre pormenores supradimensionados”]. Mas ainda assim eles não são mera conversa, linguagem transparente, apenas funcional em sua transmissão de uma mensagem. Se eu tentasse aqui uma filiação na tradição, diria que a poesia de Campilho é bárdica, se me permitem usar a expressão altissonante. Trata-se de algo que perpassa grande parte da poesia ocidental, de Taliesin no século 6 a Ginsberg no século 20.
Quando em um verso ela diz algo simples, direto, até comum, mas logo em seguida o liga a algo que jamais esperaríamos em sequência, ela está lançando mão de uma forma eficiente de iluminar o comum com o incomum, e vice-versa. É como o “I do this, I do that” de O’Hara, mas a experiência logo é transformada pela imaginação. O texto pode surgir de uma ocasião banal, mas a autora logo o conecta a outras experiências, e tudo se torna experiência de linguagem. Pois, a isso tudo, une-se o talento fanopaico invulgar de Matilde Campilho, sua poesia que é fortemente imagética, gerando suas surpresas através de metáforas e símiles que causam um sobressalto, não por qualquer surrealismo, mas por ser capaz de fazer conexões, em nossa mente, de coisas que não teríamos imaginado irmanadas. No entanto, sem retirá-las do mundo onde e tal qual são e estão. Se seus poemas nascem de impactos recebidos em sua vida, a imaginação da autora imediatamente parece fazer com que ela os conecte a impactos outros, sobre outros, ligando a História geral à sua história pessoal. E é isso que difere sua poesia da de alguns outros autores que partem de sua biografia. Muito diferente do que por vezes se chama de “poesia do cotidiano”, Campilho não está buscando a beleza do simples, do diário, do pessoal, apenas por serem simples, diários, pessoais. É aqui que eu tentaria classificar o diagnóstico de alegria em sua poesia. Não me parece tanto alegria quanto certo espanto. Matilde Campilho é uma poeta que ainda se espanta, e o confessa com candor, em meio a um tempo que espera demonstrações de inteligência através da ironia, do sarcasmo, de certa contemplação fria do mundo. Mas a contemplação da portuguesa jamais é fria. É por isso que eu diria: não alegria, mas espanto. E esse espanto parece-me eminentemente religioso. Há em sua poesia uma sensação, mesmo que tênue, de algo sagrado que sobrevive. Ainda que ela não faça aparentes voos ao transcendental, eu diria que sopra pela poesia de Matilde Campilho uma certa reverência pelo mundo como local em que algo, mesmo que tangível e visível apenas por segundos, revela-se. Se alegria, então aquela que Clarice Lispector descreve em sua advertência aos possíveis leitores de A Paixão segundo GH (1964): a alegria difícil.
Pois, ao ler Jóquei, de Matilde Campilho, não vejo ingenuidade em seu candor. É um risco que ela assume, como escritora. Pessoalmente, sendo também poeta, às vezes mal consigo crer que ela tenha escolhido começar um poema da forma como começa alguns deles. Mas conforme a leitura do texto avança, os choques entre o banal e o maravilhoso vão se acumulando, gerando um efeito bastante singular. Não é fácil escrever sobre sua poesia, pois ela parece caminhar na corda-bamba entre o que é e o que não é com um equilíbrio delicado. E fica-se com medo de distraí-la. Pensei nas expressões de Federico García Lorca em sua conferência “Teoria e prática do duende”, quando diz “O anjo deslumbra, mas voa sobre a cabeça do homem, está acima, derrama sua graça, e o homem, sem nenhum esforço, realiza sua obra, ou sua simpatia, ou sua dança. (…) A musa dita, e, em algumas ocasiões, sopra.” Há vários poetas hoje, escrevendo em nossa língua, que parecem ter uma linha direta, estilo 0800, com a Musa, e outros que têm encontros semanais com o Anjo. São excelentes. E há alguns como Campilho, de quem eu diria simplesmente: “tiene duende, cariño, tiene duende.” Bem-aventurados, pois estes acertam até quando erram.
Preciso encerrar este texto, esta aproximação. Deixem-me tentar fazer da seguinte maneira: eu acredito que Matilde Campilho sabe que “a aproximação, do que quer que seja, se faz gradualmente e penosamente – atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar,” como escreveu Lispector naquela mesma advertência. O que chamei de atenção ao sagrado, o que chamei de místico, de religioso em Jóquei, talvez seja certa lucidez, certa atenção ao mundo que Orides Fontela descreveu tão bem em seu pequeno poema: “A um passo / do pássaro/ res / piro”: atenção ao pássaro unida à atenção do próprio pássaro. No momento em que as duas se encontram, perde-se a contemplação. Trata-se do contrário, me parece, da ideia de Drummond sobre a tristeza das coisas “contempladas sem ênfase.” Matilde Campilho dá seu passo, a um passo da res (coisa, em latim), seja pássaro ou amante distante ou sorvete ou roda gigante ou a ilha Formosa ou a baleia que tropeça – jamais sem ênfase, e res-pira.
Marília Garcia e um teste de resistores
 Eu me lembro de uma conversa com Marília Garcia certa manhã, em um café de Bruxelas, onde estávamos para participar do festival Europalia, que tinha o Brasil como convidado aquele ano. Ela me contava uma anedota. Ao visitar o poeta francês Emmanuel Hocquard, que Marília Garcia vem traduzindo no Brasil de forma pioneira, ele perguntou a ela quais outros poetas franceses ela apreciava. Quando ela respondeu que lia Nathalie Quintane, que havia sido lançada no Brasil em tradução de Paula Glenadel pela coleção Ás de Colete no volume Começo: autobiografia (SP/RJ: Cosac Naify/7Letras, 2004), o poeta francês respondeu: “Mais ça c’est pas de la poésie” (Mas isto não é poesia). Ficamos ali algum tempo, conversando sobre a declaração de Hocquard, justo dele. Eu ri na hora, e comentei com ela que certa vez, conversando com um poeta brasileiro justamente sobre Hocquard, o brasileiro havia dito a mesma coisa do francês: “Mas isto não é poesia.” Naquela manhã, decidimos que algum dia organizaríamos um volume de ensaios, convidando poetas brasileiros a meditarem sobre isso. O mote seria a história da declaração de Hocquard sobre Quintane, unida à do brasileiro sobre o próprio Hocquard. Mais ça c’est pas de la poésie. Ok. Acabou a discussão?
Eu me lembro de uma conversa com Marília Garcia certa manhã, em um café de Bruxelas, onde estávamos para participar do festival Europalia, que tinha o Brasil como convidado aquele ano. Ela me contava uma anedota. Ao visitar o poeta francês Emmanuel Hocquard, que Marília Garcia vem traduzindo no Brasil de forma pioneira, ele perguntou a ela quais outros poetas franceses ela apreciava. Quando ela respondeu que lia Nathalie Quintane, que havia sido lançada no Brasil em tradução de Paula Glenadel pela coleção Ás de Colete no volume Começo: autobiografia (SP/RJ: Cosac Naify/7Letras, 2004), o poeta francês respondeu: “Mais ça c’est pas de la poésie” (Mas isto não é poesia). Ficamos ali algum tempo, conversando sobre a declaração de Hocquard, justo dele. Eu ri na hora, e comentei com ela que certa vez, conversando com um poeta brasileiro justamente sobre Hocquard, o brasileiro havia dito a mesma coisa do francês: “Mas isto não é poesia.” Naquela manhã, decidimos que algum dia organizaríamos um volume de ensaios, convidando poetas brasileiros a meditarem sobre isso. O mote seria a história da declaração de Hocquard sobre Quintane, unida à do brasileiro sobre o próprio Hocquard. Mais ça c’est pas de la poésie. Ok. Acabou a discussão?
A pergunta final é algo que sempre me vem à mente quando ouço essa frase, bastante frequente entre poetas sobre outros poetas: “Mas isto não é poesia”, como uma cartada final, um às no colete, um xeque-mate. Eu sempre respondo: Ok, aceitemos por um segundo que não seja poesia. Acabou a discussão? É o quê, então? E o que quer que seja, consequentemente não presta porque não é poesia?
No ano seguinte, Marília Garcia lançou o livro engano geográfico (Rio de Janeiro: 7Letras, 2012), no qual relata sua viagem e seu encontro com Emmanuel Hocquard, mas não a anedota. Ao ler o livro, tive a ideia de que um dia começaria um texto sobre o trabalho de Marília Garcia com a anedota da declaração de Hocquard sobre Quintane.
Em setembro deste ano, Marília Garcia lançou seu mais novo livro, Um teste de resistores (Rio de Janeiro: 7Letras, 2014). Carreguei o livro comigo em minha viagem pelo Brasil, abindo-o na primeira página já com a ideia de escrever sobre ele e resgatar aquela anedota. Qual não foi minha surpresa quando vejo que a história já havia sido incorporada pela própria autora no livro. Na verdade, o livro foi aos poucos desarmando por completo meu discurso crítico, por torná-lo supérfluo. As referências que eu pensava fazer sobre o trabalho da carioca iam surgindo na textura do texto, seu apreço pelo poeta norte-americano Charles Reznikoff (1894-1976), que ela vem traduzindo, pelo artista argentino Guillermo Kuitca (n. 1961), os franceses Henry Deluy (n. 1931) e o próprio Hocquard. O “mas isto não é poesia” se torna o motor do próprio texto de Marília Garcia, uma espécie de desafio, afronta, resposta, fazendo o que para muitos não será poesia. Realmente, todos os dispositivos clássicos da poesia estão ausentes: não há metáfora, não há métrica, não há ritmo constante ou marcado, não há assonância, não há aliteração. Os textos baseiam-se em dispositivos que reconhecemos como estruturais da prosa: a metonímia, a sinédoque.
A autora vinha valendo-se de uma forte narratividade desde seu primeiro livro, 20 poemas para o seu walkman (SP/RJ: Cosac Naify/7Letras, 2007), mas em seu novo livro, como no anterior, ela leva isso ao extremo. A prática não é de todo desconhecida no Brasil. John Cage usa o recurso em todos os seus livros, especialmente em A Year from Monday: New Lectures and Writings (1967) e M: Writings ’67–’72 (1973), mas Cage é autor consagrado. Em um autor mais jovem, aceitar certos riscos é, com o perdão da tautologia, mais arriscado. A prática está presente também, de forma ainda mais clara, no trabalho do norte-americano David Antin e seus talk poems e, no Brasil, poderíamos pensar na prosa porosa de Augusto de Campos e seu O Anticrítico (1986). Mas caio, novamente, nas referências de autoridade.
A verdade é que este texto, como disse, é supérfluo. Gostaria de poder publicar apenas um recado, dizendo: “Leiam Um teste de resistores, de Marília Garcia. O livro diz-se.” Pois se trata de um livro, em minha opinião, que instrumentaliza, arma o leitor para compreendê-lo. O livro diz o que faz e faz o que diz. Se Marília Garcia lança mão da quebra-de-linha, não é para dizer ao leitor “Olá, isso é poesia”, mas porque a noção de corte está presente no livro, a noção da memória e sua narratividade como ilha de edição. Os cortes e os espaços em branco, para aqueles que diriam que se trata “apenas” de prosa entrecortada, ali surgem porque é assim que contamos a nós e a outros nossas histórias: entrecortadas, editadas.
O livro é um exemplo do que venho chamando de “poética de implicações”, e que é um elemento forte no trabalho (por algum motivo que não nos cabe discutir aqui) em sua maioria de mulheres, hoje, no Brasil: Marília Garcia, Juliana Krapp, Veronica Stigger, Érica Zíngano… cada uma à sua maneira. É obra aberta no sentido de dizer algo querendo dizer o que diz, mas também incitando o leitor a pensar nas implicações do que é dito. E, como se trata de textualidade, de linguagem apresentada como texto, incita a pensar nas implicações do que foi dito e feito. A crítica norte-americana Marjorie Perloff falou em “poética da indeterminação”, discutindo Cage e Antin no ensaio “’No More Margins’: John Cage, David Antin, and the Poetry of Performance”, presente no livro The Poetics of Indeterminacy (1983). Trata-se realmente de poesia e performance, já que os textos de Marília Garcia foram escritos para “falas”, como vejo muito aqui na Europa também, entre poetas que apresentam seus trabalhos basicamente em galerias, muitos sem publicar, como os britânicos Hanne Lippard e Tris Vonna-Michell.
Talvez tudo o que eu quero dizer aqui seja apenas: leia o novo livro de Marília Garcia. Se a você parecer que isso não é poesia, deixe-me responder de antemão: Ok. Acabou a discussão?
Sobre “Transformador”, antologia de Dirceu Villa
Eu poderia começar esse texto praguejando contra o estado dos cadernos de cultura dos grandes jornais brasileiros, pelo silêncio em torno da publicação de um livro como Transformador (São Paulo: Selo Demônio Negro, 2014), que reúne uma seleção considerável de 15 anos do trabalho poético de Dirceu Villa, assim como traduções suas para poetas como Horácio, Ovídio, Verlaine, Joyce e Brossa. Não deixaria de ser algo ao estilo do próprio autor, que lamenta há tempos o descaso por certa literatura não-comercial no jornalismo do país, que parece hoje tão afeito ao sensacionalismo quanto as colunas sociais – que, de resto, são hoje parte dos cadernos de cultura.
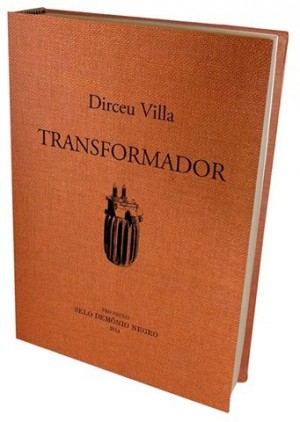 São 300 páginas, com textos de todos os seus livros publicados: MCMXCVIII (1998), Descort (2003) e Icterofagia (2008), assim como de seu próximo livro, couraça, ainda inédito. A edição, muito bonita, ficou mais uma vez a cargo de Vanderley Mendonça e seu Selo Demônio Negro, que já havia lançado em 2011 a tradução completa e anotada de Dirceu Villa para o Lustra de Ezra Pound (1885-1972). Pound é uma referência importante para o trabalho poético e crítico de Villa, sua preocupação com uma revisão atenta do cânone, seu apreço pela tradição poética, e suas máscaras, assumindo linguagens e poéticas múltiplas.
São 300 páginas, com textos de todos os seus livros publicados: MCMXCVIII (1998), Descort (2003) e Icterofagia (2008), assim como de seu próximo livro, couraça, ainda inédito. A edição, muito bonita, ficou mais uma vez a cargo de Vanderley Mendonça e seu Selo Demônio Negro, que já havia lançado em 2011 a tradução completa e anotada de Dirceu Villa para o Lustra de Ezra Pound (1885-1972). Pound é uma referência importante para o trabalho poético e crítico de Villa, sua preocupação com uma revisão atenta do cânone, seu apreço pela tradição poética, e suas máscaras, assumindo linguagens e poéticas múltiplas.
Uma leitura deste livro mostra claramente a variedade de formas que Dirceu Villa assume com talento e conhecimento, da métrica ao verso (dito) livre: há textos curtíssimos, excelentes poemas satíricos, como “façam suas apostas”, um dos meus favoritos dos últimos tempos, textos com uma imagética brutal, como “O cutelo”, e poemas mais longos e narrativos, como “Três histórias douradas”. Há textos que deveriam pegar qualquer leitor de forma direta e imediata, mas trata-se também, em grande parte, de leitura que requer atenção, algo de que nosso tempo parece nos privar cada vez mais.
Dirceu Villa é um dos autores mais sérios de minha geração. Suas contribuições nos últimos anos começaram a ter mais atenção com a publicação de Lustra, que foi devidamente saudada. Este Transformador nos dá a oportunidade de ler em um único volume grande parte de sua contribuição pessoal, a de sua poesia. Em português, o título pode funcionar tanto como adjetivo ou substantivo. Para transformar algumas de nossas ideias, precisa ser lido, conhecido, feito um dispositivo destinado a transmitir energia de um circuito a outro, do autor ao nosso como leitores, induzindo tensões e correntes.
Harryette Mullen no Brasil
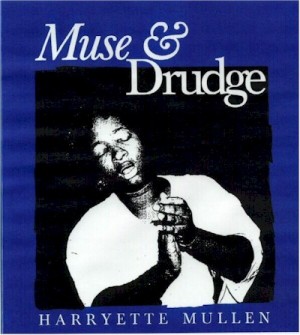 A Dobra Editorial, de São Paulo, lançou há pouco o volume Cores desinventadas: a poesia afro-americana de Harryette Mullen, com organização e tradução de Lauro Maia Amorim. Trata-se da primeira publicação da norte-americana no Brasil, onde esteve há pouco para participar do Festival Artes Vertentes. É uma iniciativa importante para conhecer uma autora contemporânea de destaque em sua geração, por vários motivos.
A Dobra Editorial, de São Paulo, lançou há pouco o volume Cores desinventadas: a poesia afro-americana de Harryette Mullen, com organização e tradução de Lauro Maia Amorim. Trata-se da primeira publicação da norte-americana no Brasil, onde esteve há pouco para participar do Festival Artes Vertentes. É uma iniciativa importante para conhecer uma autora contemporânea de destaque em sua geração, por vários motivos.
O diálogo entre dois gigantes das Américas
O diálogo da poesia brasileira com a norte-americana intensificou-se nas últimas décadas. Nesta relação, a contribuição tradutória de Haroldo de Campos e Augusto de Campos, especialmente, foi decisiva. Eles fizeram circular entre nós a obra de Ezra Pound, e.e. cummings, Gertrude Stein, ou, do pós-guerra, a de John Cage, entre tantos outros. É importante mencionar ainda o trabalho crítico de Mario Faustino em sua página “Poesia-Experiência”, no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil. Foi um trabalho pioneiro em vários sentidos, já que mesmo nos Estados Unidos estes poetas modernistas ainda encontravam muita resistência no establishment literário, dominado pelo chamado New Criticism. Já Roberto Piva foi um dos primeiros a trazer o trabalho dos Beats para o país.
Em meados dos anos 80 e 90, porém, nosso conhecimento da poesia americana baseava-se ainda com força nestes primeiros modernistas, e lembro-me das excelentes publicações, pela Companhia das Letras, da antologia de William Carlos Williams traduzida por José Paulo Paes, a de Wallace Stevens traduzida por Paulo Henriques Britto, e ainda a de Marianne Moore, traduzida por José Antonio Arantes.
No final dos anos 90, Régis Bonvicino passou a fazer circular entre nós alguns poetas do pós-guerra, com sua antologia de Robert Creeley, que teria uma influência fortíssima entre os poetas brasileiros daquele momento, e ainda de autores surgidos nos anos 70, como Michael Palmer, Charles Bernstein e Douglas Messerli. O pensamento crítico de autores ligados à revista L=A=N=G=U=A=G=E chegava ao país, com certo atraso compreensível para um momento em que a internet havia apenas começado a transformar nossa recepção da literatura estrangeira. Antes dela, éramos completamente dependentes dos esforços heroicos de tradutores, e da boa vontade de editoras.
Hoje, o trabalho a ser feito ainda é imenso, especialmente pela produção alucinante da poesia norte-americana. Os autores ligados à revista L=A=N=G=U=A=G=E são hoje escritores respeitados e têm seus nomes já estabelecidos, mas muitos ainda não foram traduzidos no país. Enquanto isso, os nomes dos movimentos literários nos Estados Unidos se sucedem em ritmo estonteante, uma obsessão deles que não parecemos compartilhar: Flarf Poetry, New Narrative, Conceptual Poetry, ou, o mais recente, Alt Lit. O Brasil não precisa, talvez, de todos estes autores, mas a recepção nacional tem se concentrado especialmente em homens como Bernstein ou, na prosa, David Foster Wallace, enquanto autoras importantes e bastante influentes nos Estados Unidos, como Kathy Acker e Chris Kraus, ainda não adentraram nosso debate literário. É por isso que contribuições recentes, como a tradução de Maurício Salles Vasconcelos para o My Life, de Lyn Hejinian, ou esta antologia de Harryette Mullen por Lauro Maia Amorim, precisam ser celebradas.
Mullen em português
Harryette Mullen nasceu no Alabama em 1953. Estreou com o livro Tree Tall Woman (1991), seguido de Trimmings (1991) e S*PeRM**K*T (1992), mas foi com o excelente Muse & Drudge (1995) que alcançou um público maior e fez seu nome tornar-se incontornável no debate literário americano. Experimental e ao mesmo tempo ligado à tradição da poesia satírica, altamente político e poético, o trabalho de Harryette Mullen é extremamente necessário para o Brasil. Muse & Drudge foi bastante discutido, especialmente por conseguir combinar um questionamento da linguagem, da vivência e experiência feminina em nossa sociedade, ligadas ainda à ascendência cultural afro-americana da autora, sem jamais ter que recorrer ou cair na acusação frequente que se faz a trabalhos deste fôlego: a de usar uma linguagem de palanque. O livro demonstra como certas oposições críticas são fictícias. O último livro de Mullen foi Sleeping with the dictionary (2002).
A antologia organizada e traduzida por Lauro Maia Amorim traz textos de todos estes livros, em belas traduções, com vários achados inteligentes. Para dar um exemplo em que Amorim foi imensamente melhor do que eu na tradução de um poema de Mullen (venho traduzindo alguns desde 2011), penso no poema “sun goes on shining”, de Muse & Drudge, em que penei para encontrar uma solução para o jogo de palavras “mister meaner” (ao mesmo tempo “senhor (mais) cruel” e jogo sonoro com “misdemeanor”, contravenção, delito), que Amorim verteu como “Don de Litto”, ou o verso “while the debbil beats his wife”, vertido como “o belzeburro surra sua garota”. Gosto bastante destas soluções. Recomendo muito o livro.
A passagem de Harryette Mullen pelo Brasil rendeu para mim, pessoalmente, um dos momentos mais fortes do Festival Artes Vertentes, com curadoria de literatura feita por mim em colaboração com Luiz Gustavo Carvalho, quando Mullen vocalizou, diante da Igreja do Rosário dos Pretos, seu texto “Denigration”, que começa desta forma na versão de Lauro Maia Amorim e que escolho para encerrar:
Denigração
A gente surpreendia os professores que tinham dúvidas inegavelmente chatinhas sobre os cérebros pequititos das criancinhas negras que os faziam lembrar dos negrinhos pequerruchos tão limpinhos das caixas de sabão em pó? O quanto é barrento o Mississippi em comparação com o terceiro rio mais longo do continente mais escuro? Na terra do igbo, do hauçá e do iorubá, qual é o preço, por barril, de negrume? (…)
Harryette Mullen, tradução de Lauro Maia Amorim, in Cores Desinventadas (São Paulo: Dobra Editorial, 2014).
Reedição da obra de Murilo Mendes
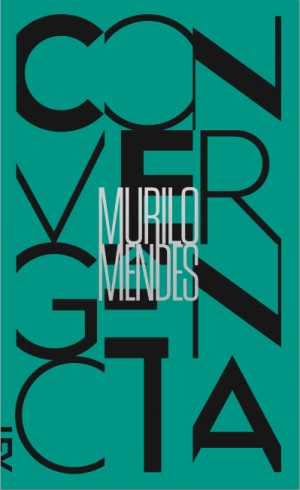 A partir de hoje (19/04), estão disponíveis os primeiros volumes do projeto de reedição da obra de Murilo Mendes pela editora paulista CosacNaify. Os títulos são bem escolhidos e apropriados para o início da empreitada: Poemas (1930), o livro de estreia de Murilo Mendes, o autobiográfico A Idade do Serrote (1968), seu trabalho em prosa mais conhecido, o volume Convergência (1970), um de seus trabalhos mais experimentais, e ainda uma nova Antologia Poética, com seleção e introdução de Júlio Castañon Guimarães e Murilo Marcondes de Moura. A partir destas primeiras reedições, é possível já ter um pequeno panorama da multifacetada obra do escritor mineiro, que vem se firmando cada vez mais como um dos nomes mais importantes do Modernismo brasileiro.
A partir de hoje (19/04), estão disponíveis os primeiros volumes do projeto de reedição da obra de Murilo Mendes pela editora paulista CosacNaify. Os títulos são bem escolhidos e apropriados para o início da empreitada: Poemas (1930), o livro de estreia de Murilo Mendes, o autobiográfico A Idade do Serrote (1968), seu trabalho em prosa mais conhecido, o volume Convergência (1970), um de seus trabalhos mais experimentais, e ainda uma nova Antologia Poética, com seleção e introdução de Júlio Castañon Guimarães e Murilo Marcondes de Moura. A partir destas primeiras reedições, é possível já ter um pequeno panorama da multifacetada obra do escritor mineiro, que vem se firmando cada vez mais como um dos nomes mais importantes do Modernismo brasileiro.
Murilo Mendes nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 13 de maio de 1901. Uma rápida menção de outros nomes nascidos à mesma época nos dá a dimensão da importância desta geração: no mesmo ano de 1901, nascem também Cecília Meireles, Henriqueta Lisboa, Pedro Xisto e José Lins do Rego. No ano seguinte, nasce Carlos Drummond de Andrade. Foi com o último que Murilo Mendes estreou em publicação: em 1930, ano que seria tomado como divisor de águas entre a primeira geração modernista e a dos mais jovens, Drummond publica Alguma poesia e Murilo Mendes, Poemas. Manuel Bandeira, que já havia anunciado a primeira geração modernista com seu poema “Os sapos” e participado ativamente dela com seu Ritmo dissoluto (1924), anuncia a segunda geração com Libertinagem, no mesmo ano de 1930.
A reedição dos Poemas de estreia de Murilo Mendes pela CosacNaify traz posfácio de Silviano Santiago, e ainda duas cartas do autor a Mario de Andrade, nas quais comenta o contexto político e literário da época, ano portentoso, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Já o seu A idade do serrote, publicado originalmente em 1968, é uma bela introdução à prosa altamente inventiva de Murilo Mendes, no qual relata sua infância e adolescência, que marcaram fortemente sua escrita. O posfácio da presente edição é de Cleusa Rios Passos, e o volume traz ainda uma crônica de Carlos Drummond de Andrade sobre o livro publicada no jornal Correio da Manhã em 1968, além de uma resposta de Murilo Mendes. Ambas são inéditas em livro. Há que se prestar maior atenção na obra em prosa de Murilo Mendes, que tem textos originais e de grande potência literária.
Convergência, publicado em 1970, demonstra de forma clara como Murilo Mendes levava a sério seu adágio: “Não sou meu sobrevivente e sim meu contemporâneo.” Com uma obra já estabelecida e altamente singular dentro da poesia brasileira, autor de grandes livros como Mundo enigma (1942) e Poesia Liberdade (1947), o poeta transforma-se, em sua convergência consigo mesmo e seus contemporâneos, como os mais jovens João Cabral de Melo Neto e Haroldo de Campos, entrando em diálogo com a poética da secura e objetividade de Cabral, algo que já vinha desde o volume Tempo espanhol (1954), e com os experimentos do Grupo Noigandres de São Paulo. Como escreveu Murilo: “Webernizei–me. Joãocabralizei-me/ Francispongei-me. Mondrianizei- me.” O livro demonstra a extrema juventude de espírito de Murilo Mendes, ao publicar um livro tão experimental e distinto da imagem que sua obra havia até então produzido, e isso aos 69 anos de idade. O posfácio da reedição é de Júlio Castañon Guimarães.
A nova Antologia Poética, dos organizadores do projeto Júlio Castañon Guimarães e Murilo Marcondes de Moura, traz poemas de todos os seus livros, inclusive dos dois livros escritos em língua estrangeira: Ipotesi, com os poemas de Murilo Mendes em italiano (o poeta viveu por muitos anos em Roma), e Papiers, em francês. O poeta brasileiro teve um papel cultural importante na Itália, algo similar ao de João Cabral de Melo Neto na Espanha. Seus Retratos-relâmpago são textos deliciosos, apresentando personagens com as quais se encontrara ao longo da vida, como Ezra Pound ou André Breton.
Esta antologia vem unir-se a duas importantes antologias anteriores, uma organizada por João Cabral de Melo Neto na década de 70, e outra de Luciana Stegagno Picchio na década de 90. Morto em 1975 em Lisboa, onde está enterrado, Murilo Mendes vem ressurgindo com grande força na poesia brasileira, especialmente após a publicação de sua Poesia completa e prosa em 1994 pela Nova Aguilar. Que estas reedições agora o coloquem de vez na posição de destaque que lhe é cabida na poesia do século 20.







Feedback