A escrita do amor fora das normas do patriarcado brasileiro (primeira parte)
Como escrevi no último texto neste espaço [“Berlim, capital queer”, Contra a capa, DW Brasil, 30.07.2016], participei no mês de julho de um evento no Literarisches Colloquium ao lado de vários autores internacionais identificados como queer. Veja bem, não creio que meu próprio trabalho seja imediatamente enquadrado neste rótulo. Mas ignorar este aspecto seria também impossível na leitura de grande parte da minha lírica, que recorre a uma tradição que remonta aos gregos, passa pelos poetas latinos, e se espalha por diversas culturas, incluindo a árabe e islâmica de poetas como Abū Nuwās. Uma tradição que não foi fundada, como alguns creriam, por Oscar Wilde no fim do século 19. Mas é com seitas monoteístas como o Cristianismo e o Islã que a relação social com a homossexualidade ganhou os contornos que tem hoje.
Ao participar do evento, não pude deixar de voltar a pensar nesta tradição dentro da literatura brasileira. Mas algumas das questões que discutimos ali são justamente as que complicam tal conversa no espaço exíguo de um artigo para a imprensa. O texto é queer se o autor é queer? Se o tema do texto é queer, sem que o autor necessariamente o seja? Há um estilo, de alguma maneira, identificável como queer? Uma relação diferente com o texto?
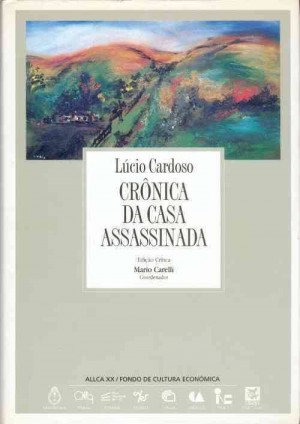 Mencionei Wilde, com seus trabalhos no fim do século 19. É também por esta época que surgem dois trabalhos importantes ligados a esta discussão no Brasil, certamente pioneiros: O Ateneu (1888), de Raul Pompeia, e O Bom Crioulo (1895), de Adolfo Caminha. Este último é considerado, de certa forma, o inaugurador da temática no país. Já a relação do trabalho de Raul Pompeia com a questão é mais oblíqua: passa por sua biografia e a querela que teve, por questões políticas, com Olavo Bilac pela imprensa em 1892, na qual Bilac não receou em fazer insinuações sobre a vida sexual de Pompeia. Imagina-se que Adolfo Caminha já escrevia por esta época seu romance, publicado então em 1895, ano em que Raul Pompeia comete suicídio.
Mencionei Wilde, com seus trabalhos no fim do século 19. É também por esta época que surgem dois trabalhos importantes ligados a esta discussão no Brasil, certamente pioneiros: O Ateneu (1888), de Raul Pompeia, e O Bom Crioulo (1895), de Adolfo Caminha. Este último é considerado, de certa forma, o inaugurador da temática no país. Já a relação do trabalho de Raul Pompeia com a questão é mais oblíqua: passa por sua biografia e a querela que teve, por questões políticas, com Olavo Bilac pela imprensa em 1892, na qual Bilac não receou em fazer insinuações sobre a vida sexual de Pompeia. Imagina-se que Adolfo Caminha já escrevia por esta época seu romance, publicado então em 1895, ano em que Raul Pompeia comete suicídio.
Há dois trabalhos críticos importantes nesta discussão: Devassos no Paraíso (1986), de João Silvério Trevisan, e O Homem que Amava Rapazes e Outros Ensaios (2002), de Denilson Lopes. Trevisan discute a relação social entre heterossexualidade e homossexualidade no Brasil de diversas épocas, enquanto Lopes debruça-se mais especificamente sobre a literatura. No ensaio “Uma estória brasileira”, Denilson Lopes escreve: “No romance O Bom Crioulo de Adolfo Caminha, hoje incensado dentro e fora do Brasil, como uma obra pioneira, a representação da homossexualidade adquire um elemento central na narrativa e não só um dado circunstancial ou estereotipado como vamos ver em tantas outras obras na literatura brasileira pelo século XX adentro. O romance tem como espaço central o navio e como figuras homoidentitárias, todas marcadas pela ambiguidade, o macho gay, o adolescente e a mulher masculinizada.”
Ainda que o romance de Adolfo Caminha mereça seu lugar de pioneiro, por vezes me parece que o grande romance de Raul Pompeia fica à margem pela exposição menos explícita da sexualidade que ele desenha entre as salas d’O Ateneu. Os romances tratam ainda, é claro, de classes sociais bastante distintas do fim do Império e começo da República, esta transição no país das transições fracassadas. Os meninos descritos por Pompeia são a elite da sociedade carioca: aristocrática, imperial. As personagens de Caminha são daquele submundo que ainda hoje encontramos na Lapa e no Centro do Rio de Janeiro. É importante dizer que, para mim, a relação entre poder e sexo tecida por Raul Pompeia é pioneira não apenas na questão da homossexualidade, que trata de forma, como já disse, oblíqua. É pioneira no próprio trato da sexualidade em nossa literatura, e ponto final.
E oblíquo continuaria o tratamente do tema nos próximos 50 anos. Apenas no ano passado, aos 70 anos de sua morte, por exemplo, parecemos ter finalmente encerrado a di scussão sobre a homossexualidade de Mário de Andrade. E, no entanto, é dele um dos retratos mais comoventes da relação entre rapazes, entre a lealdade fraternal e o homoerotismo, reprimido em meio ao ambiente cristão, como vemos em seu maravilhoso conto “Frederico Paciência”, do livro Contos Novos (1947). No entanto, assim como em Raul Pompeia, é oblíqua, de relance o tratamento de Mário de Andrade, que demonstra uma preocupação clara com a sexualidade como um todo em meio à sociedade brasileira da época, dando-nos também um retrato da repressão sexual feminina em um conto magistral como “Atrás da Catedral de Ruão”, do mesmo livro.
scussão sobre a homossexualidade de Mário de Andrade. E, no entanto, é dele um dos retratos mais comoventes da relação entre rapazes, entre a lealdade fraternal e o homoerotismo, reprimido em meio ao ambiente cristão, como vemos em seu maravilhoso conto “Frederico Paciência”, do livro Contos Novos (1947). No entanto, assim como em Raul Pompeia, é oblíqua, de relance o tratamento de Mário de Andrade, que demonstra uma preocupação clara com a sexualidade como um todo em meio à sociedade brasileira da época, dando-nos também um retrato da repressão sexual feminina em um conto magistral como “Atrás da Catedral de Ruão”, do mesmo livro.
Por esta época já havia surgido, em meio às explosões de masculinidade irrefreada da prosa e poesia brasileira pós-1922, a figura tanto luminosa quanto escura, dono justamente de um senso de contraste como era Lúcio Cardoso. Em seus poemas e especialmente naquele romance caudaloso e estranho que é Crônica da Casa Assassinada (1959), o mineiro Lúcio Cardoso nos deu tanto uma lírica amorosa aberta, honesta, singular, quanto aquele retrato impiedoso da tradicional família mineira e brasileira em seu romance. E a década seguinte veria o surgimento talvez do mais forte, direto e vociferante visionário a contra-atacar a hipocrisia de nossa sociedade cristã: o poeta Roberto Piva. Em livros como Paranoia (1963), Piazzas (1964), Abra os olhos e diga ah! (1976) ou Coxas (1979), Piva se assemelha em uma característica a Raul Pompeia e Lúcio Cardoso: o desejo incendiário e a recusa a conciliações fáceis.
São autores diferentes, quase de países diferentes. Como ver juntos um republicano que nasceu e formou-se no Império, como Raul Pompeia, e então um libertário que viveu sob a Ditadura de Vargas, como Lúcio Cardoso, e por fim um visionário como Roberto Piva, que logo veria a si mesmo, ao seu corpo e aos corpos de tantos outros aprisionados ou massacrados sob a hipocrisia violenta e falsamente beata do Regime Militar brasileiro? Como conciliar aquele positivista do século 19 que tanto defendeu Floriano Peixoto, ao católico homossexual sob o Estado Novo, e ambos ao xamânico e pagão da década de 1960 e 1970, vivendo sob homens autoritários como Médici e Geisel?
Há nestes autores, arrisco, uma relação incontornável com o corpo humano como repositório de todas as opressões e repressões, uma recusa a entregar-se a abstrações e minimalismos, ainda que elegantes, se estes exigem uma sublimação de tudo o que em nós sua, sangra, e goza. Seu próprio estilo, ainda que tão distintos, distinguem-se ainda mais da secura da grande prosa principal brasileira, aquela que tanto admiramos, que vai de Machado de Assis a João Cabral de Melo Neto, passando por Graciliano Ramos. Pois não é apenas a temática destes autores que os tornam estranhos no ninho. É como sua escrita engendra-se, caudalosas, quase camp, se não fosse um anacronismo recorrer a este conceito como seria formulado por Susan Sontag apenas na década de 1960.
E, entre eles, como pensar em um romance como Grande Sertão: Veredas (1956), de João Guimarães Rosa, no qual a sexualidade tem sido uma pedra de tropeço para vários críticos? Volto ao assunto no próximo texto, assim como a trabalhos de mulheres e de homossexuais contemporâneos, ainda entre nós.


