Sobre “Transformador”, antologia de Dirceu Villa
Eu poderia começar esse texto praguejando contra o estado dos cadernos de cultura dos grandes jornais brasileiros, pelo silêncio em torno da publicação de um livro como Transformador (São Paulo: Selo Demônio Negro, 2014), que reúne uma seleção considerável de 15 anos do trabalho poético de Dirceu Villa, assim como traduções suas para poetas como Horácio, Ovídio, Verlaine, Joyce e Brossa. Não deixaria de ser algo ao estilo do próprio autor, que lamenta há tempos o descaso por certa literatura não-comercial no jornalismo do país, que parece hoje tão afeito ao sensacionalismo quanto as colunas sociais – que, de resto, são hoje parte dos cadernos de cultura.
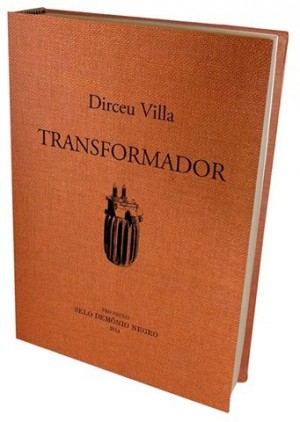 São 300 páginas, com textos de todos os seus livros publicados: MCMXCVIII (1998), Descort (2003) e Icterofagia (2008), assim como de seu próximo livro, couraça, ainda inédito. A edição, muito bonita, ficou mais uma vez a cargo de Vanderley Mendonça e seu Selo Demônio Negro, que já havia lançado em 2011 a tradução completa e anotada de Dirceu Villa para o Lustra de Ezra Pound (1885-1972). Pound é uma referência importante para o trabalho poético e crítico de Villa, sua preocupação com uma revisão atenta do cânone, seu apreço pela tradição poética, e suas máscaras, assumindo linguagens e poéticas múltiplas.
São 300 páginas, com textos de todos os seus livros publicados: MCMXCVIII (1998), Descort (2003) e Icterofagia (2008), assim como de seu próximo livro, couraça, ainda inédito. A edição, muito bonita, ficou mais uma vez a cargo de Vanderley Mendonça e seu Selo Demônio Negro, que já havia lançado em 2011 a tradução completa e anotada de Dirceu Villa para o Lustra de Ezra Pound (1885-1972). Pound é uma referência importante para o trabalho poético e crítico de Villa, sua preocupação com uma revisão atenta do cânone, seu apreço pela tradição poética, e suas máscaras, assumindo linguagens e poéticas múltiplas.
Uma leitura deste livro mostra claramente a variedade de formas que Dirceu Villa assume com talento e conhecimento, da métrica ao verso (dito) livre: há textos curtíssimos, excelentes poemas satíricos, como “façam suas apostas”, um dos meus favoritos dos últimos tempos, textos com uma imagética brutal, como “O cutelo”, e poemas mais longos e narrativos, como “Três histórias douradas”. Há textos que deveriam pegar qualquer leitor de forma direta e imediata, mas trata-se também, em grande parte, de leitura que requer atenção, algo de que nosso tempo parece nos privar cada vez mais.
Dirceu Villa é um dos autores mais sérios de minha geração. Suas contribuições nos últimos anos começaram a ter mais atenção com a publicação de Lustra, que foi devidamente saudada. Este Transformador nos dá a oportunidade de ler em um único volume grande parte de sua contribuição pessoal, a de sua poesia. Em português, o título pode funcionar tanto como adjetivo ou substantivo. Para transformar algumas de nossas ideias, precisa ser lido, conhecido, feito um dispositivo destinado a transmitir energia de um circuito a outro, do autor ao nosso como leitores, induzindo tensões e correntes.
Na morte de Manoel de Barros
Jamais havia escrito sobre Manoel de Barros (1916 – 2014), poeta cuiabano que morreu nesta quinta-feira (13/11) no Brasil, até preparar um obituário para a página de cultura da DW Brasil (“Aos 97 anos, morre o poeta Manoel de Barros”, DW, 13/11). É triste, e uma sensação estranha, escrever sobre um poeta pela primeira vez quando ele morre. Pesa na consciência a possível injustiça. Mas Manoel de Barros foi o poeta brasileiro mais popular das últimas três décadas, lançando livros com tiragens surpreendentes, quando se trata de poesia, e tinha uma legião de leitores apaixonados. Parecia-me importante usar o espaço para falar sobre outros bons poetas que não recebiam qualquer atenção, ou estavam completamente esquecidos.
 Ao mesmo tempo, lembro-me de uma conversa que tive com o poeta gaúcho Marcus Fabiano Gonçalves no ano passado no Rio de Janeiro, em que ele alertava para o fato de que nossa geração precisava ler Manoel de Barros com mais atenção, e que alguém precisava debruçar-se sobre o trabalho dele de forma crítica, para tirá-lo da narrativa de manchetes de jornal que o havia enclausurado: “poeta do Pantanal”, “poeta ecológico”, “poeta de fala infantil”. O próprio Marcus Fabiano Gonçalves dedicou a Manoel de Barros o obituário mais bonito que li ontem, com um texto crítico que aponta para as qualidades do trabalho do cuiabano, e tive o prazer de poder publicar o texto na revista que co-edito (“Vareios do dizer: o idioleto manoelês archaico”, Revista Modo de Usar & Co., 13/11). Em seu texto, o poeta gaúcho chama a atenção especialmente para a simplicidade “enganosa” da linguagem de Manoel de Barros, e friso aqui, nas palavras de Marcus Fabiano Gonçalves, o “acordo sempre tenso e muitíssimo negociado entre os registros da tradição erudita, as falas indígenas e as gambiarras de ouro do povo-inventalínguas”.
Ao mesmo tempo, lembro-me de uma conversa que tive com o poeta gaúcho Marcus Fabiano Gonçalves no ano passado no Rio de Janeiro, em que ele alertava para o fato de que nossa geração precisava ler Manoel de Barros com mais atenção, e que alguém precisava debruçar-se sobre o trabalho dele de forma crítica, para tirá-lo da narrativa de manchetes de jornal que o havia enclausurado: “poeta do Pantanal”, “poeta ecológico”, “poeta de fala infantil”. O próprio Marcus Fabiano Gonçalves dedicou a Manoel de Barros o obituário mais bonito que li ontem, com um texto crítico que aponta para as qualidades do trabalho do cuiabano, e tive o prazer de poder publicar o texto na revista que co-edito (“Vareios do dizer: o idioleto manoelês archaico”, Revista Modo de Usar & Co., 13/11). Em seu texto, o poeta gaúcho chama a atenção especialmente para a simplicidade “enganosa” da linguagem de Manoel de Barros, e friso aqui, nas palavras de Marcus Fabiano Gonçalves, o “acordo sempre tenso e muitíssimo negociado entre os registros da tradição erudita, as falas indígenas e as gambiarras de ouro do povo-inventalínguas”.
É também muito difícil falar de um autor com 70 anos de carreira, com dezenas de livros, quando apenas a parte tardia de sua obra é melhor conhecida. Outro poeta do Rio Grande do Sul, Marcelo Noah, chamou a atenção nas redes sociais para o fato de que Manoel de Barros, uma das últimas testemunhas de tantas conturbações históricas e explosões artísticas no Brasil do século 20, publicou seu primeiro livro em 1937, quando “Ary Barroso ainda não havia nem pintado sua Aquarela do Brasil, Jorge Amado lançava seus Capitães de Areia, Noel Rosa estava sendo velado no Caju. Carmen [Miranda] nem cogitava equilibrar ‘Bananas da terra’ sobre o cocuruto e Raízes do Brasil [livro de Sérgio Buarque de Holanda] estava na primeira edição. Drummond chutava pedras pelo caminho, Cacilda Becker era uma menina de 16 anos e Getúlio Vargas estava implantando o Estado Novo em um país que ainda contava 40 milhões de habitantes”.
Como escrevi no obituário da DW, Manoel de Barros surgiu e foi contemporâneo de poetas e escritores como Vinícius de Moraes, Lúcio Cardoso, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes e Henriqueta Lisboa, da segunda geração modernista. Mas com seu primeiro livro [Poemas concebidos sem pecado] tendo uma tiragem de 20 exemplares, e os seguintes sendo lançados fora dos centros de concentração e difusão de informação no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, sua obra permaneceu por décadas à margem, desconhecida, como continua sendo o caso de outros bons poetas, como o paraense Max Martins (1926 – 2009), ou, hoje mesmo, o fluminense Leonardo Fróes (n. 1941), por viver algo isolado na serra de Petrópolis, mesmo que a um pulo do Rio de Janeiro.
E foi a partir do Rio de Janeiro, com artigos de Millôr Fernandes, que o poeta que sempre viveu entre Cuiabá e Campo Grande foi “descoberto” pelo resto do país, tornando-se o poeta mais lido no Brasil a partir dos anos 1990, especialmente com O livro das ignorãças (1993) e Livro sobre nada (1996).
Certos artistas, por características de sua obra e também por sua pessoa, tendem a gerar nos admiradores uma atitude reverente, e quando morrem, acabam recebendo homenagens que beiram a hagiografia. Um exemplo, aqui na Alemanha, é a coreógrafa e dançarina Pina Bausch (1940 – 2009), tratada por vezes como se não tivesse sido uma mulher de carne e osso, mas uma espécie de entidade. Sinto um pouco disso no tratamente que se deu, e agora na hora de sua morte, se dá a Manoel de Barros.
Manoel de Barros foi e é um poeta importante, tanto por questões literárias como extraliterárias. Em minha opinião, ele teve, por exemplo, um papel muito marcante na formação de um público leitor de poesia a partir da década de 1980. É claro que a cena literária, especialmente a de poesia, é habitada por criaturas muito esquisitas, que reclamam da falta de leitores mas, quando um poeta se torna demasiado popular, apressam-se a acusá-lo de fazer concessões ou de “ser fácil”, esse “pecado” literário. É como aqueles adolescentes que só gostam de uma banda até ela entrar nas paradas de sucesso. Como, especialmente nas últimas décadas, a obra de Manoel de Barros possuía o que já chamei acima de “simplicidade enganosa”, que Marcus Fabiano Gonçalves destrinçou bem, a armadilha estava armada.
Eu próprio, é honesto dizer aqui, não tive em Manoel de Barros uma referência pessoal decisiva na minha formação. Eu o li na década de 90, mas não sinto que a leitura tenha deixado marcas, ao menos visíveis, no meu trabalho. E, ao deixar o Brasil em 2002, também deixei de o ler. Mas sempre acreditei que ele teve um papel importante também para arejar a poesia brasileira na década de 90, muito marcada pelos ditames do antilirismo a partir de uma leitura algo equivocada, ou pelo menos “bitolada”, das obras de João Cabral de Melo Neto e Augusto de Campos. Este arejamento também foi fruto da redescoberta de dois outros poetas importantes, Hilda Hilst (1930 – 2004) e Roberto Piva (1937 – 2010), este último nascido no ano em que Manoel de Barros lançava seu primeiro livro, para adicionar à lista de Marcelo Noah.
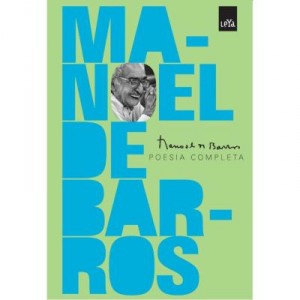 Foi só com o lançamento de sua Poesia Completa em 2010, em uma viagem ao Brasil, que revisitei sua poesia. E o li com outros olhos, mais livres, estando eu mais velho também. É questão de idade e personalidade: quando ainda jovem combativo, eu me sentia mais em sintonia com os trabalhos escancaradamente iconoclastas de Hilst e Piva. Sua sexualidade desbragada, seus uivos diante da cruz. Não podia à época, talvez, perceber a força, mesmo política, do candor de Manoel de Barros.
Foi só com o lançamento de sua Poesia Completa em 2010, em uma viagem ao Brasil, que revisitei sua poesia. E o li com outros olhos, mais livres, estando eu mais velho também. É questão de idade e personalidade: quando ainda jovem combativo, eu me sentia mais em sintonia com os trabalhos escancaradamente iconoclastas de Hilst e Piva. Sua sexualidade desbragada, seus uivos diante da cruz. Não podia à época, talvez, perceber a força, mesmo política, do candor de Manoel de Barros.
Muito preocupado com inovação e com o trabalho a ser feito por minha geração, sentia que o que podia aprender com o cuiabano já havia encontrado em Murilo Mendes e João Guimarães Rosa, mas hoje percebo que isso foi um equívoco. É certo, ainda acredito, que estes dois foram precursores de Manoel de Barros, que eles pertencem a uma estética irmanada. Não é à toa que nos Estados Unidos, onde uma antologia de Manoel de Barros foi lançada em 2010 [Birds for a demolition, tradução de Idra Novey], alguns críticos se referiram à sua poesia como surrealista. Não é absurda a referência, ainda que seja parte do hábito eurocêntrico de buscar antecedentes europeus para um poeta do subúrbio do mundo. Mas hoje nós sabemos que aquilo que alimenta esta poética, seja a do surrealista francês Paul Éluard ou a do brasileiro Murilo Mendes, que usou algumas destas técnicas, pode ser encontrada em poesias de outras partes do mundo, ou mesmo mais antigas na Europa, tal como nos mostraram poetas-críticos como Jerome Rothenberg, um dos formuladores da etnopoesia, compilando antologias que põem, lado a lado, a obra dos poetas experimentais das vanguardas europeias e a de poetas ameríndios, africanos, asiáticos, de culturas tradicionais, demonstrando como nosso conceito de “novo” é, muitas vezes, louco. Ou apenas ignorante.
Manoel de Barros sempre se referiu ao imagético quando falava de seu trabalho. Seria possível dizer que sua poesia é marcada pela fanopeia, para usar a expressão de Ezra Pound para poéticas baseadas na imagem. Manoel de Barros chamou seu “ser letral”, o dos livros, de “fruto de uma natureza que pensa por imagens”, e que “imagens são palavras que nos faltaram”. Manoel de Barros operava menos por metáforas dissonantes que por simples operações de desvio sintático. Como no verso de Murilo Mendes, um de meus favoritos: “O céu cai das pombas”. Mas, em Manoel de Barros, há um trabalho distinto, muito particular, de embaralhar os sentidos, numa linguagem sinestésica, atribuindo ao olfato o que consideramos trabalho da visão, e à visão, o que legamos apenas ao tato, empregando verbos para ações e agentes separados por causa e consequência realistas, como nos versos “Como pegar na voz de um peixe” e “eu escuto a cor dos passarinhos”. Mas é importante dizer que há também um trabalho de pensamento muito sutil em sua poesia, ou, para usar um termo “técnico”, logopeia.
Nós poderíamos falar aqui tanto do conceito de jogo de linguagem de Wittgenstein como das tarefas de casa do Primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade (1927) e dos versos sinestésicos de Raul Bopp em Cobra Norato (1928). E sua atenção para o misterioso poder metafórico da fala popular era distinto do que vemos em Guimarães Rosa, até mesmo por questões geográficas, Rosa sendo um homem do Sertão mineiro, e Barros, do encontro entre o Cerrado e o Pantanal, regiões com formações étnicas, línguísticas e sociais particulares.
A importante obra de Manoel de Barros é vasta e permanece. Haveria muita coisa que eu gostaria ainda de discutir, tendo me concentrado na sua obra dos anos 1990 em diante. Talvez influenciado por minhas leituras recentes de Claude Lévi-Strauss e Eduardo Viveiros de Castro, gostaria muito de pensar mais a respeito, voltar à obra de Manoel de Barros e, no futuro, discutir o que Marcus Fabiano Gonçalves chamou de “deliberada injeção de sentidos antropomórficos na natureza”, a partir das relações entre totemismo e animismo, e do conceito de perspectivismo ameríndio. Talvez possamos até mesmo descobrir implicações políticas novas no trabalho do poeta cuiabano. Também seria interessante falar sobre a relação entre Manoel de Barros e seu amigo Bernardo, que por vezes me lembra a de Rumi e Shams de Tabriz. Mas escrevo no calor da hora. Enquanto escrevo este texto, o poeta ainda está sendo velado por sua família no Brasil.
Tenho amigos que acreditam que perdemos o maior poeta do país. Não consigo pensar mais dessa forma. Iniciamos este milênio contando ainda com a presença de inúmeros poetas importantes, diferentes como são diferentes entre si quaisquer pessoas. Vários já nos deixaram desde então, como Haroldo de Campos, Waly Salomão, Hilda Hilst, Roberto Piva, Décio Pignatari e, agora, Manoel de Barros. Mas há outros, escondidos, ou apenas ainda jovens, e precisamos estar atentos para que não sejam descobertos apenas com 60 anos, como Manoel, ou recebam textos de apreciação apenas quando já mortos. E possamos conviver por um tempo com a pessoa e a obra.
Sobre o trabalho do mexicano Luis Felipe Fabre
 Luis Felipe Fabre é um poeta e ensaísta latino-americano, nascido na Cidade do México em 1974. Conheci seu trabalho em 2007, quando participou em Berlim do Festival de Poesia Latino-Americana no Instituto Cervantes. Àquela altura, havia publicado quatro livros: as coletâneas de poemas Vida quieta (2000), Una temporada en el Mictlán (2003) e Cabaret Provenza (2007) – lançado pela prestigiosa editora da UNAM, e ainda a coletânea de ensaios Leyendo agujeros, na qual discute trabalhos de poetas como Néstor Perlongher, Ramón López Velarde, Ulises Carrión, Nicanor Parra, assim como o romance Los Detectives Salvajes (1999), de Roberto Bolaño, autor que estuda com interesse especial.
Luis Felipe Fabre é um poeta e ensaísta latino-americano, nascido na Cidade do México em 1974. Conheci seu trabalho em 2007, quando participou em Berlim do Festival de Poesia Latino-Americana no Instituto Cervantes. Àquela altura, havia publicado quatro livros: as coletâneas de poemas Vida quieta (2000), Una temporada en el Mictlán (2003) e Cabaret Provenza (2007) – lançado pela prestigiosa editora da UNAM, e ainda a coletânea de ensaios Leyendo agujeros, na qual discute trabalhos de poetas como Néstor Perlongher, Ramón López Velarde, Ulises Carrión, Nicanor Parra, assim como o romance Los Detectives Salvajes (1999), de Roberto Bolaño, autor que estuda com interesse especial.
Nos últimos anos, preparou ainda uma antologia da poesia de Mario Santiago Papasquiaro (1953 – 1998), contemporâneo e grande amigo de Bolaño, com quem fundou o movimento infrarrealista que seria imortalizado no romance do chileno, no qual Papasquiaro ressurge na personagem Ulises Lima. Outra antologia organizada por Fabre foi La Edad de Oro, também para a UNAM, reunindo alguns dos melhores poetas mexicanos da nova geração, como Óscar de Pablo, Alejandro Albarrán, Paula Abramo, Daniel Saldaña París e Maricela Guerrero, entre outros, antologia que, como não podia deixar de ser, gerou polêmica no país.
Mas o trabalho que, em minha opinião, fincou o nome de Luis Felipe Fabre entre os melhores poetas latino-americanos de minha geração foi o importantíssimo La Sodomia en la Nueva España (2010), lançado apenas na Espanha. Trabalho de fôlego poético e histórico, nele Fabre debruça-se sobre a História mexicana de perseguições religiosas contra homossexuais no país durante o século XVII. Apropriando-se da linguagem poética da época, especialmente das formas barrocas praticadas pela grande Sor Juana Inés de la Cruz (1651 – 1695), o livro é composto em retábulos, autos e vilancetes, nos quais o poeta mexicano empreende um trabalho de reconstituição poético-histórica, dando voz a vítimas de perseguição e execução impiedosas na Nova Espanha. O caso sobre o qual Fabre dedica sua atenção ocorreu nos anos de 1657 e 1658, quando foram executados vários homossexuais na Cidade do México. A pena à epoca era a fogueira.
É assim que o livro nos apresenta Juan de la Vega, conhecido como la Cotita, baseando-se textualmente em documentos da época, em reconstrução e resgate, retomando a linguagem alegórica barroca do período. Ouvimos então a voz da Santa Doutrina, praguejando contra o “pecado nefando”, ouvimos a voz do Silêncio e do Fogo que consumiram estes homens. Ao retomar formas históricas como o vilancete e o retábulo, geralmente associadas à poesia religiosa, o livro cria várias implicações ético-estéticas ao livro, especialmente quando pensamos que a grande Sor Juana, que as praticou, também foi “acusada” e atacada por “suspeitas de lesbianismo”, acabando por silenciar a si mesma e deixar de escrever, uma perda nossa pelo machismo daquela época. E da nossa. Creio que seria um momento muito importante para traduzir este livro no Brasil.
Seu último trabalho chama-se Poemas de terror y de misterio (2013). Fabre disse sobre o livro, com humor característico, que se o público leitor está tão interessado em zumbis, mortos-vivos e vampiros, ele escreveria um livro de poemas a respeito. Mas o volume, como nos melhores casos de ficção científica distópica, é muito mais que isso, tornando-se uma inteligente metáfora política para os dias atuais. Traduzi uma série do livro, intitulada Notas em torno do apocalipse zumbi, lançada no ano passado pela Lumme Editor. Encerro com minha tradução para dois dos textos, enquanto os zumbis grunhem lá fora e nas redes sociais.
Trechos de Notas em torno do apocalipse zumbi
Luis Felipe Fabre
1
Os zumbis: cadáveres canibais.
2
Os zumbis: mortos insones.
3
Os zumbis: pústulas do desconhecido:
matilha de podridões
caminhando em sua direção.
4
Olhe como executam
sua lenta coreografia de tropeços:
a dança de uma caçada sonâmbula na qual a caça é você.
5
Os zumbis: uma nova oportunidade
para que o governo
demonstre sua ineficácia e corrupção.
6
Os zumbis: uma nova oportunidade
para que a sociedade demonstre
sua conivência e corrupção.
7
Os zumbis: a decomposição do tecido social em pessoa.
8
Os zumbis:
a persistência post-mortem da fome e da miséria
caminhando em sua direção.
*
Dizem
que os zumbis
são uma estratégia do tráfico
para aterrorizar o governo. Dizem que
os zumbis são uma estratégia do governo para aterrorizar
a população. Dizem que os zumbis são uma estratégia
da população para aterrorizar o tráfico. Dizem
que os zumbis são uma estratégia do governo
para aterrorizar o governo. Dizem
que os zumbis são uma estratégia
do tráfico
para
aterrorizar
a população. Dizem que
os zumbis são uma estratégia do tráfico para
aterrorizar o tráfico. Dizem que os zumbis são uma estratégia
da população para aterrorizar o governo. E você, o que acha dos zumbis?
Informe-se: escute a Rádio Mictlán:
transmitindo
ao vivo
a insurreição dos mortos.
(tradução minha, in Notas em torno do apocalipse zumbi (São Paulo: Lumme Editor, 2013)
Gullar na Academia
O poeta maranhense Ferreira Gullar, nascido em 1930 e autor de livros importantes como A luta corporal (1954) e Poema sujo (1976), foi eleito na semana passada o mais novo “imortal” da Academia Brasileira de Letras, na cadeira anteriormente ocupada pelo poeta Ivan Junqueira, morto em julho deste ano. A cadeira, que tem como patrono Tomás Antônio Gonzaga, foi o assento ainda de Silva Ramos, Alcântara Machado, Getúlio Vargas, Assis Chateaubriand e João Cabral de Melo Neto. Como se pode ver, gente de valor literário variado para o país. Se eu disser que isto é o “coroamento” de sua carreira ou o fim lógico e apropriado para sua trajetória, talvez entendam como um elogio. Deixem-me elaborar um pouco a ideia.
A Academia Brasileira de Letras foi fundada em 1897 e teve como primeiro presidente ninguém menos que Machado de Assis. Teve seus moldes copiados da Academia Francesa, e é apropriadíssimo que tenha como sede, no Rio de Janeiro, uma réplica algo cafona do Petit Trianon de Versalhes. O valor e prestígio de qualquer grupo ou instituição não ultrapassa o de seus participantes, e a Academia sempre oscilou entre o valor inquestionável de alguns de seus membros, como o gigante Machado ou, mais tarde, João Cabral de Melo Neto e Jorge Amado, unidos a criaturas de contribuição no mínimo questionável, como José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Paulo Coelho.
Há pessoas ali que merecem nosso respeito, como Nelson Pereira dos Santos, Cleonice Berardinelli, Alfredo Bosi, Evaldo Cabral de Mello, Gerardo Hollanda Cavalcanti ou Lygia Fagundes Telles. Ao mesmo tempo, que Academia de Letras não leva seus membros a regurgitarem o chá das cinco ao verem na cadeira ao lado gente como Sarney e FHC, sendo que não foram eleitos, recusaram-se a candidatar-se ou sequer foram cogitados Carlos Drummond de Andrade, Lima Barreto, Gilberto Freyre, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Antonio Candido e Dalton Trevisan?
A tática é eleger gente questionável da política nacional para angariar influência e cacife, junto a escritores de importância verdadeira para, talvez num processo de osmose, seus membros medíocres conseguirem satisfazer seus delírios de relevância. A coisa toda é um tanto ridícula.
Onde entra Ferreira Gullar nisso tudo?
Ferreira Gullar escreveu livros importantes, como os já citados A luta corporal, publicado quando ele tinha apenas 24 anos, ou o Poema sujo, documento poético e histórico memorável. Tenho grande apreço também por seu Muitas vozes (1999), com poemas de que gosto muitíssimo, como “Nova concepção da morte” e outros de uma simplicidade desarmante, muito bonitos, como “Q‘el bixo s‘esgueirando assume ô tempo” e “Meu pai”. Um escritor importante, ainda que menos do que imagina de si. Porém sua crítica de arte e colunas políticas são constrangedoras, atestados públicos de ignorância e falta de discernimento. O problema é que Ferreira Gullar, apesar de sua megalomania, jamais teve o mesmo estofo intelectual de outros autores e críticos de sua geração, como Haroldo de Campos e Mario Faustino.
Há duas possibilidades de consagração para um escritor: a glória acadêmica ou a eleição como mestre por parte das gerações mais novas de escritores. Duas possibilidades de influência e também de sobrevivência da obra. Na última, podemos pensar em escritores como Hilda Hilst e Roberto Piva, ou Leonardo Fróes entre os vivos, ignorados pela Academia, por críticos e pela imprensa em seus momentos históricos, mas levados por autores e leitores das gerações mais jovens ao cume, numa garantia verdadeira de sobrevida para seu trabalho. São também autores que se mantiveram coerentes tanto ética quanto esteticamente. Tentem imaginar Hilst e Piva no chá das cinco, lá no Pequeno Trianon, com Pitanguy e Sarney.
A outra opção é a institucionalização. Neste novo século, este parece ser o caminho escolhido por Ferreira Gullar. Sua posição hoje não me surpreende, como seu rancoroso viés político. Um homem que oscilou entre a self-righteousness esquerdista e a self-righteousness direitista demonstra apenas uma invariável em sua trajetória. O que importa, dirão, é sua qualidade estética. Mas talvez a fraqueza do último livro de Ferreira Gullar – o premiado Em algum lugar algum (2010), que é uma sombra da sombra do que já foi capaz de fazer, com versões aguadas de poemas anteriores – comece a demonstrar em sua poesia a mesma falta de discernimento que demonstrou por anos em outras áreas de sua produção intelectual.
Murilo Mendes escreveu que era contemporâneo de si mesmo, não seu sobrevivente. Parece-me que Ferreira Gullar sobreviveu a Ferreira Gullar. Parabenizo-o por sua eleição ao panteão dos “imortais” em rodízio. A próxima vez que passar pela sede da Academia, estando no Rio, farei o que sempre faço: deter-me por alguns minutos diante da estátua de Machado de Assis, que sempre demonstrou discernimento e coerência ética e estética em toda a sua produção. É um dos que salvam do completo ridículo aquela instituição.
A Roma de Pasolini em Berlim
 Há pouco tempo, em São Paulo, participava de uma conversa entre escritores, regada a cachaça: “Se você pudesse ressuscitar um único poeta, qual você traria de volta à vida?” Ouvia as respostas, às vezes um pouco surpreso com as escolhas dos meus colegas. Quando chegou minha vez, disse sem pestanejar: Catulo. Acho que alguns se surpreenderam, mas todos riram. É, Catulo. Caio Valério Catulo, nascido em Verona, hoje Itália, nos últimos anos da República centrada em Roma, no ano 84 antes da Era Comum. Afinal, o rapaz morreu com menos de 30 anos, escreveu alguns dos mais belos e mais divertidos poemas clássicos em latim, e quem os leu tende a querer acreditar que ele devia ser um bom companheiro de boteco. Há ainda certas questões biográficas que me fazem querer estar entre quatro paredes com ele, a quem eu ainda, é claro, imagino bem bonito e saudável.
Há pouco tempo, em São Paulo, participava de uma conversa entre escritores, regada a cachaça: “Se você pudesse ressuscitar um único poeta, qual você traria de volta à vida?” Ouvia as respostas, às vezes um pouco surpreso com as escolhas dos meus colegas. Quando chegou minha vez, disse sem pestanejar: Catulo. Acho que alguns se surpreenderam, mas todos riram. É, Catulo. Caio Valério Catulo, nascido em Verona, hoje Itália, nos últimos anos da República centrada em Roma, no ano 84 antes da Era Comum. Afinal, o rapaz morreu com menos de 30 anos, escreveu alguns dos mais belos e mais divertidos poemas clássicos em latim, e quem os leu tende a querer acreditar que ele devia ser um bom companheiro de boteco. Há ainda certas questões biográficas que me fazem querer estar entre quatro paredes com ele, a quem eu ainda, é claro, imagino bem bonito e saudável.
Mas, mais tarde, comecei a pensar: “Pobre Catulo, que senso ele faria deste nosso mundo?” Seria necessário explicar e contextualizar tanta coisa que as conversas de boteco se tornariam longas e chatas, talvez, além de deprimentes para ele. Foi aí que pensei em outro poeta nascido naquele território que ainda chamamos de Itália e que seria e ainda é tão imprescindível ter conosco nos dias de hoje: Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975). Foi com isso em mente que visitei a exposição itinerante Pasolini Roma, em cartaz neste momento no Martin-Gropius-Bau de Berlim.
A exposição centra-se em Roma como local de produção e inspiração para o grande poeta, romancista, cineasta e crítico, assassinado por seus inimigos, os que combateu toda a vida, naquela horrível noite de 2 de novembro de 1975. É comovente para quem admira o trabalho de Pasolini deparar-se com manuscritos de seus poemas, trechos de cartas a amigos, uma cuidada iconografia fotográfica, gravação sonora de uma leitura de seu grande poema “As cinzas de Gramsci”, vídeo em que lê sua “Súplica à minha mãe”, poemas impressos enormes nas paredes, excertos de seus filmes, entrevistas com ele e amigos, recortes de jornal sobre os 33 processos movidos contra ele por “obscenidade e atentado contra a moral”, separados em salas que se concentram em períodos específicos de sua vida em Roma. É uma excelente exposição e me emocionei em vários momentos.
É impossível saber o que estaria fazendo Pasolini hoje, quando suas declarações tidas como exageradas nos anos 60 e 70 tornaram-se assustadoramente proféticas. O que teria escrito Pasolini perante a Itália de Berlusconi? Não se pode saber exatamente, mas uma coisa é certa: se eu o pudesse ressuscitar e trazê-lo de volta à vida hoje, ele imediatamente arregaçaria as mangas e se lançaria ao trabalho.
O sonho da razão
Pier Paolo Pasolini
Jovem do rosto honesto
e puritano, também tu, da infância,
preservas além da pureza a vileza.
Tuas acusações te fazem mediador que leva
tua pureza – ardor de olhos azuis,
fronte viril, cabeleira inocente –
à chantagem: a relegar, com a grandeza
do menino, o diverso ao papel do renegado.
Não, não a esperança, mas o desespero!
Porque quem virá, no mundo melhor,
terá a experiência de uma vida inesperada.
E nós esperamos por nós, não por ele.
Para nos assegurar um álibi. E isto
também é justo, eu sei! Cada um
fixa o impulso em um símbolo,
para poder viver, para poder pensar.
O álibi da esperança confere grandeza,
acolhe na fila dos puros, daqueles
que, na vida, se ajustam.
Mas há uma raça que não aceita álibis,
uma raça que, no instante em que ri,
se recorda do choro, e no choro do riso,
uma raça que não se exime um dia, uma hora,
do dever da presença invadida,
da contradição em que a vida jamais concede
ajustamento nenhum, uma raça que faz
da própria suavidade uma arma que não perdoa.
Eu me orgulho de pertencer a esta raça.
Oh, eu também sou jovem, claro! Mas
sem a máscara da integridade.
Tu não me apontes, fazendo-te forte
dos sentimentos nobres – como é a tua,
como é a nossa esperança de comunistas -,
na luz de quem não está nas fileiras
dos puros, nas multidões dos fiéis.
Porque eu estou. Mas a ingenuidade
não é um sentimento nobre, é uma heroica
vocação a não se render nunca,
a jamais fixar a vida, nem sequer no futuro.
Os homens bons, os homens que dançam
como nos filmes de Chaplin com mocinhas
tenras e ingênuas, entre bosques e vacas,
os homens íntegros, em sua própria
saúde e na do mundo, os homens
sólidos na juventude, sorridentes na velhice
– os homens do futuro são os HOMENS DO SONHO.
Ora minha esperança não tem
sorriso, ó humana omertà:
porque ela não é o sonho da razão,
mas é razão, irmã da piedade.
(tradução de Maurício Santana Dias, originalmente publicada
no quarto número impresso da Modo de Usar & Co.)







Feedback