Patrocínio, Ventura e Colina em antologias
Talvez não haja trabalho crítico e editorial mais ingrato que a organização de antologias. Elas parecem agitar uma verdadeira fobia na cena literária, que vem do eterno medo de todo escritor: ser deixado de lado, ser rejeitado. Antologias influem no cânone, palavra que tem uma conotação fortemente religiosa em nossa cultura, não podemos nos esquecer. Na Igreja católica, ela designa tanto as leis adotadas pela autoridade eclesiástica quanto o processo de santificação de um ser humano. Sua quase divinização. Escritores querem se sentar à direita de Deus Pai. Ou, ao menos, ir pro céu das reputações literárias. É esta conotação que também guia a fúria de alguns contra aqueles que propõem revisões no cânone. Afinal, santo não deixa de ser santo.
Também nos esquecemos das conotações militaristas da palavra “vanguarda”, e de como isto influi em nossas discussões. As querelas entre modernos e antigos, ou vanguardistas e tradicionalistas, podem ser explicadas por vezes pelo embate entre estas duas concepções críticas.
Mas é também isto que confere a força e extrema responsabilidade que envolvem a organização de uma antologia. Não vou entrar em exemplos, mas nos últimos tempos houve no Brasil algumas que pecaram (olha o vocabulário religioso de novo) justamente por sua preguiça em questionar. De que nos vale realmente uma antologia se ela apenas reenforça o status quo, ou nos diz apenas o que já estamos cansados de ouvir? Resgatar o bom trabalho de autores negligenciados ou esquecidos é um trabalho importantíssimo, que pode ter efeitos positivos sobre a produção contemporânea.
Pode nos parecer surpreendente hoje, mas o trabalho de Murilo Mendes esteve negligenciado no debate poético por duas décadas após sua morte, até o lançamento de sua obra completa pela Nova Aguilar em 1994. Também pode parecer chocante, mas Hilda Hilst e Roberto Piva eram escritores ainda marginais no fim do século passado, e as reedições recentes do trabalho de Jorge de Lima também são bastante importantes para resgatarmos esta voz tão singular dentro de nosso Modernismo. Ainda há muito trabalho por fazer, quando pensamos que os poemas da excelente Henriqueta Lisboa seguem negligenciados, assim como os de tantos outros.
Não quis dar maus exemplos, mas os bons merecem ser gritados dos telhados. Uma das contribuições mais importantes dos últimos anos nesse campo foi Poesia (Im)Popular Brasileira [São Bernardo do Campo: Lamparina Luminosa, 2012], organizada por Júlio Mendonça. Trata-se de um volume que reúne poemas de importantes poetas brasileiros menos conhecidos do público, ou que, nas palavras do editor, “por maior ou menor tempo, ficaram ou estão deslocados em relação aos cânones vigentes”. A antologia traz poemas de Aldo Fortes, Edgard Braga, Gregório de Matos, Joaquim Cardozo, Max Martins, Omar Khouri, Patrícia Galvão, Qorpo-Santo, Sapateiro Silva, Sebastião Nunes, Sebastião Uchoa Leite, Joaquim de Sousândrade, Stela do Patrocínio e Torquato Neto. Cada um dos poetas é apresentado por um autor convidado, responsável pela seleção dos poemas. Graças a ela, descobri o trabalho de Stela do Patrocínio.

“Poesia (Im)Popular Brasileira” [São Bernardo do Campo: Lamparina Luminosa, 2012], organização de Júlio Mendonça
Patrocínio nasceu em 1941, e viveu, desde 1962, internada na Colônia Juliano Moreira, assim como Arthur Bispo do Rosário (1911-1989). Sua fala poética chegou a nós transcrita de cassetes por Viviane Mosé, que organizou essa textualidade no volume Reino dos bichos e dos animais é o meu nome [Rio de Janeiro: Azougue, 2002].
Não sou eu que gosto de nascer
Eles é que me botam para nascer todo dia
E sempre que eu morro me ressuscitam
Me encarnam me desencarnam me reencarnam
Me formam em menos de um segundo
Se eu sumir desaparecer eles me procuram onde eu estiver
Pra estar olhando pro gás pras paredes pro teto
Ou pra cabeça deles e pro corpo deles
(Stela do Patrocínio, em diagramação de sua fala por Viviane Mosé, in Reino dos bichos e dos animais é o meu nome [Rio de Janeiro: Azougue, 2002])
Resgatar esta voz é tanto uma contribuição poética como política. Quem conhece meu trabalho sabe que evito esta distinção, mas sempre é bom frisar. Aqui entramos num terreno escorregadio e difícil. Recorro à introdução de Júlio Mendonça à antologia: “Toda literatura – de qualquer país ou comunidade linguística do mundo – tem seus autores deslocados, não-canônicos (como se diz no jargão literário). Deslocamento autoconsciente (programático), decorrente de opções estéticas, temáticas, ou por razões geopolíticas”.
Cito isso para mencionar outra antologia, esta monumental, que teve um impacto sobre meu pensamento crítico nos últimos anos: Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica (Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011), organizada por Eduardo de Assis Duarte. Em quatro volumes, ela traz desde o trabalho de clássicos do século 19 e 20, como Machado de Assis, Cruz e Sousa, Luiz Gama e Lima Barreto, a contemporâneos como Nei Lopes e Ana Maria Gonçalves. Foi graças a ela que descobri dois autores admiráveis: Adão Ventura (1946-2004) e Paulo Colina (1950-1999). E lendo o trabalho dos dois, na antologia e o que pude encontrar na Rede, fiquei pensando sobre os motivos que levariam estes autores a serem negligenciados. Primeiro, um poema de cada:
Negro forro
Adão Ventura
minha carta de alforria
não me deu fazendas,
nem dinheiro no banco,
nem bigodes retorcidos.
minha carta de alforria
costurou meus passos
aos corredores da noite
de minha pele.
§
Forja
Paulo Colina
entre uma calmaria
e outra
do mar de nossas peles
me bastaria amor cantar o fogo
que somos na nascente
de suas coxas
mas há essa dor de outros tempos
e corpos
essa rosa dos ventos sem norte
na memória sitiada da noite
embora o gesto possa ser
no mais todo ternura
o poema continua um quilombo
no coração
Quando penso na importância que críticos e poetas brasileiros na década de 90 deram à concisão, à chamada “economia de meios”, me pergunto: por que poetas de mão tão firme, de escrita tão tesa quanto Adão Ventura e Paulo Colina permaneceram desconhecidos e negligenciados, quando outros fizeram suas carreiras sobre tais qualidades? A resposta que me vem à mente não é muito agradável.
Então, sem rodeios: será porque eram escritores negros? Eu me pergunto. Em um texto anterior aqui neste espaço [“Nota sobre literatura e consciência negra”, DW Brasil, 24/11/2014], escrevi o seguinte: “Pessoalmente, sempre penso em como uma parte considerável da melhor literatura brasileira no século 19 foi produzida por cidadãos à margem: o louco Qorpo-Santo, o filho de escravos Cruz e Sousa, o homossexual Raul Pompeia, o quase anônimo Joaquim José da Silva, que conhecemos como Sapateiro Silva, autor de alguns dos maiores poemas satíricos do país ao lado de Luiz Gama. No entanto, na história oficial da literatura brasileira, especialmente do Grupo de 22 em diante, esta visibilidade da presença negra na produção literária desaparece. Conhecemos a representação dos brasileiros negros em quadros de Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, em poemas de Jorge de Lima e Mario de Andrade, nos romances de Jorge Amado, mas o que houve com a visibilidade da produção de artistas e escritores negros no período? Seria de se esperar que essa visibilidade aumentasse quanto mais nos afastássemos do período escravagista, mas não é o que houve”.
O que complica a discussão é pensarmos que há outro fator: pois Ventura e Colina foram escritores negros que escreveram sobre a experiência da Diáspora. E isso agita outra fobia da cena literária: a politização da poesia, quando pensamos na ideologia trans-histórica que regeu a crítica na década de 90 e até meados do início deste século, baseada no ensaio “Da morte da arte à constelação: o poema pós-utópico”, de Haroldo de Campos. A escrita que demonstra claramente a experiência do que é o Outro na hierarquia social brasileira contesta nossa noção de Universal. Pois universal, já nos foi dito subliminarmente, é a experiência do homem branco heterossexual.
E com isso negligenciamos a literatura de escritores tão admiráveis quanto Adão Ventura e Paulo Colina, que poderiam ter sido referência àqueles que admiraram a escrita de Paulo Leminski, Sebastião Uchoa Leite e outros naquela década e hoje, por sua concisão, sua economia de meios, e assim por diante. Poemas como estes abaixo são admiráveis em tantos aspectos.
Limite
Adão Ventura
e quando a palavra
apodrece
num corredor
de sílabas ininteligíveis.
e quando a palavra
mofa
num canto-cárcere
do cansaço diário.
e quanto a palavra
assume o fosco
ou o incolor da hipocrisia.
e quando a palavra
é fuga
em sua própria armadilha.
e quando a palavra
é furada
em sua própria efígie.
a palavra
sem vestimenta,
nua,
desincorporada.
§
Solitude
Paulo Colina
Dentro desta noite cúmplice
tudo se funde
em meus ouvidos:
o assobio plano do vento
e as ondas pontuais das vozes
e gargalhadas
no interior dos bares.
Já estive em três deles. E até agora,
nenhuma cadeira me aqueceu direito;
nada do que bebi me caiu bem.
As horas se arrastam ao rés dos edifícios
do centro capital,
alheios à soturna clausura das palavras
dentro de mim.
Pelas ruas,
cada ponto de ônibus
é um cão vadio roendo silêncios.
Meu peito é um vão
por onde toda a cidade transita.
Que bonito seria, por exemplo, ver uma editora do porte de uma Companhia das Letras, que nos últimos anos publicou até antologias de poetas estrangeiros como Wisława Szymborska e W.H. Auden, com lindas fotos dos autores na capa, publicar também uma antologia com o lindo rosto negro do zimbabuense Dambudzo Marechera. E que seu maravilhoso trabalho de editar a obra completa de Paulo Leminski, Ana Cristina Cesar e Waly Salomão nao pare por aí, mas quem sabe possa fazer o mesmo com Adão Ventura e Paulo Colina. E que outras editoras sigam o exemplo.
Aos que amam apenas o universal parcial, quando se trata do desafio de colocar-se na pele do outro, que melhor caminho haveria além de um poema, vindo da pele do Outro?
Grass e Galeano
Primeiro, começaram a pipocar ontem nas minhas redes sociais referências a Eduardo Galeano, vindo de contatos na América Latina. Logo ficou claro que o uruguaio havia morrido, já que é raro que tantas pessoas decidam citar um mesmo autor ao mesmo tempo, a não ser que tenha secado de repente a fonte das citações. Günter Grass já havia morrido, mas com sua relação mais difícil com a Alemanha, em especial recentemente, muito pouco havia dele circulando na rede por meus contatos europeus, até que vi a notícia explícita de sua morte, em Lübeck, onde havia fixado residência há anos.
 Hesitei se escreveria sobre eles, com a sensação de que esta página ultimamente mais vinha parecendo a seção de obituários de um jornal, tantas têm sido as mortes de escritores desde o ano passado. E não sei se poderia acrescentar muito ao que já vem sendo dito na imprensa desde ontem. Havia anos que não lia nem Grass nem Galeano. Falar sobre os dois num mesmo texto é estranho, jamais havia pensando em qualquer possível ligação entre eles, ou comparado seus contextos, e talvez jamais o fizesse se não tivessem morrido no mesmo dia.
Hesitei se escreveria sobre eles, com a sensação de que esta página ultimamente mais vinha parecendo a seção de obituários de um jornal, tantas têm sido as mortes de escritores desde o ano passado. E não sei se poderia acrescentar muito ao que já vem sendo dito na imprensa desde ontem. Havia anos que não lia nem Grass nem Galeano. Falar sobre os dois num mesmo texto é estranho, jamais havia pensando em qualquer possível ligação entre eles, ou comparado seus contextos, e talvez jamais o fizesse se não tivessem morrido no mesmo dia.
Grass nasceu em 1927, Galeano, em 1940. Pertenciam a gerações e contextos bastante distintos. Escritores de reputação mundial no pós-guerra, o período significava coisas muito diferentes para cada. Grass viveu os horrores da Segunda Guerra em um de seus epicentros, a Alemanha, tendo nascido em uma região para a qual a guerra teria consequências drásticas. Para Galeano, eram outras guerras, as dos horrores latino-americanos, suas ditaduras, suas batalhas por independência contra o imperialismo. Mas ambos escreveram épicos sobre os territórios onde nasceram e que os feriam, com grande repercussão sobre o pensamento político de suas gerações e das seguintes. A popularidade de seus trabalhos vinha ainda de sua escrita fortemente alegórica, que permitia uma espécie de fácil decodificação política. Para mim, um romance como O Tambor (1959) se ressente desse alegorismo, ainda que demonstre o invulgar talento narrativo de Grass. Galeano é sempre lembrado pelo livro As veias abertas da América Latina (1971), que influenciou várias gerações da esquerda latino-americana. Ele teve grande impacto sobre mim quando o li bastante jovem. E, ainda jovem, havia aprendido que Grass era O escritor alemão vivo, da mesma forma que os alemães haviam elegido Jorge Amado como O escritor brasileiro.
As ambições épicas de Grass e Galeano estão em seus grandes romances a buscar a costura das conquistas e tragédias históricas em seus territórios, como em Uma longa história e no já citado O Tambor, de Günter Grass, ou na trilogia Memória do fogo, de Eduardo Galeano. Mas talvez o que mais os una seja sua crença no papel do escritor como intelectual público. A maneira como para eles literatura e política eram indissociáveis. Sempre prontos a interferir no debate político em suas línguas, os dois escritores estavam entre os mais presentes, politicamente, em suas respectivas literaturas.
Aqui na Alemanha, Grass mereceu homenagens em vários programas de notícias, mesmo nos televisivos, em geral avessos a reportagens sobre cultura. Realmente, ele foi o mais famoso escritor alemão do pós-guerra e a Alemanha perde um intelectual público que foi importante, ainda que bastante falho. Como é de se esperar de qualquer ser pensante no calor de suas horas. Sua reputação jamais se recuperou por completo depois da revelação, somente na década de 90, de ter feito parte da Waffen-SS, a tropa de elite nazista, quando tinha 17 anos, no último ano da guerra. Para um autor que havia passado toda a sua vida criticando seus conterrâneos por seus passados sombrios, omitir a informação de que ele próprio possuía tal passado foi considerado um ato de extrema covardia e hipocrisia. Seu papel como bastião moral do país jamais seria o mesmo. Em 2012, ao publicar um poema incrivelmente medíocre tanto formal como intelectualmente, numa crítica a Israel eivada de um vocabulário bastante questionável, tirado justamente do passado nazista, o tiro de misericórdia fora dado em sua autoridade intelectual e política no país. Também a posição de Galeano como intelectual se transformaria, porém em decorrência do papel flutuante da própria esquerda na América Latina.
Duas gerações de escritores e intelectuais vêm nos deixando nos últimos dois anos. Na Alemanha, talvez apenas Hans Magnus Enzensberger mantenha uma posição similar à de Günter Grass como “voz da consciência” na literatura. Eduardo Galeano era uma das mais lúcidas e corajosas da América Latina. Deixa-nos com poucas alternativas. Não se trata de dizer que não haja mais escritores preparados para assumir este papel entre nós. Simplesmente transformou-se a relação entre poder, mídia e escritores. Antes, o exílio e a execução sumária eram as armas do poder contra intelectuais. Mas isso se provou ineficaz para o poder, pois gerava mártires que podiam ser usados pelas gerações seguintes uma vez mais contra eles. A estratégia hoje é outra: com a mídia dominada em grande parte pelo poder político das elites, basta soterrar os escritores sob o silêncio, negando-lhes o espaço que dedicam a banalidades, justificando-se com o discurso da crise de relevância da literatura. Afinal, sem espaço na mídia, um intelectual não tem como se fazer público. Os dois deixam-nos em maus lençóis, ainda que provavelmente pouco poderiam ter feito além do que já fizeram. Devemos a eles leituras críticas e inteligentes, não admiradas e boquiabertas, como eles próprios tentaram fazer ao longo de suas vidas.
Manhã sem Herberto Helder
 “Deito-me, levanto-me, penso que é enorme cantar.” Esses versos de Herberto Helder sempre me vêm à mente quando ouço seu nome, e em vários momentos da minha vida, quando a coisa aperta, quando alguém chega com suas conversas sobre a inutilidade da poesia. Eu deito-me, levanto-me, sei que é enorme cantar. São daqueles versos que formam um arcabouço de botes salva-vidas. Como os de Robert Creeley: “let light / as air / be relief”. Ou esses de Carlos Drummond de Andrade: “e na secura nossa, / amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita”; ou os de Wislawa Szymborska: “Morrer apenas o estritamente necessário / Sem ultrapassar a medida.” O último livro de Herberto Helder, publicado no ano passado, chama-se A morte sem mestre. Era estritamente necessária essa morte? A morte levou outro mestre. Que manhã horrível. Um avião alemão caiu na França. Herberto Helder morreu. E as desgraças pelo mundo, acumulando-se como os destroços sem fim sob os pés do Anjo da História de Walter Benjamin. Li a notícia esta manhã sobre a morte de Helder, não mais que dez minutos depois da notícia sobre o desastre do avião, soltei um “não”, e então deitei-me, levantei-me, cantei os versos do seu “Poemacto”, sozinho na sala, a sala minúscula porque é enorme cantar. Paul Zumthor escreveu em sua Introdução à poesia oral, ao discutir as canções dos escravos, as canções das mulheres debruçadas no rio com as roupas sujas da família, as canções daqueles que se dobram sobre plantações durante a colheita, que o ser humano pode tolerar qualquer trabalho, qualquer tristeza e qualquer desgraça, desde que possa cantar, tolerá-la cantando.
“Deito-me, levanto-me, penso que é enorme cantar.” Esses versos de Herberto Helder sempre me vêm à mente quando ouço seu nome, e em vários momentos da minha vida, quando a coisa aperta, quando alguém chega com suas conversas sobre a inutilidade da poesia. Eu deito-me, levanto-me, sei que é enorme cantar. São daqueles versos que formam um arcabouço de botes salva-vidas. Como os de Robert Creeley: “let light / as air / be relief”. Ou esses de Carlos Drummond de Andrade: “e na secura nossa, / amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita”; ou os de Wislawa Szymborska: “Morrer apenas o estritamente necessário / Sem ultrapassar a medida.” O último livro de Herberto Helder, publicado no ano passado, chama-se A morte sem mestre. Era estritamente necessária essa morte? A morte levou outro mestre. Que manhã horrível. Um avião alemão caiu na França. Herberto Helder morreu. E as desgraças pelo mundo, acumulando-se como os destroços sem fim sob os pés do Anjo da História de Walter Benjamin. Li a notícia esta manhã sobre a morte de Helder, não mais que dez minutos depois da notícia sobre o desastre do avião, soltei um “não”, e então deitei-me, levantei-me, cantei os versos do seu “Poemacto”, sozinho na sala, a sala minúscula porque é enorme cantar. Paul Zumthor escreveu em sua Introdução à poesia oral, ao discutir as canções dos escravos, as canções das mulheres debruçadas no rio com as roupas sujas da família, as canções daqueles que se dobram sobre plantações durante a colheita, que o ser humano pode tolerar qualquer trabalho, qualquer tristeza e qualquer desgraça, desde que possa cantar, tolerá-la cantando.
Herberto Helder nasceu em Funchal, no dia 23 de novembro de 1930. Frequentou a Universidade de Coimbra, trabalhou como jornalista, bibliotecário, tradutor; viajou por países da Europa como França, Holanda e Bélgica; viveu por alguns anos em clandestinidade no submundo de Antuérpia, chegando a ser deportado em 1960. Seu primeiro livro, O amor em visita, foi publicado em 1958. De volta a Portugal, frequentou o famoso Café Gelo, onde se reuniam os poetas surrealistas e outros intelectuais portugueses, como Mario Cesariny, Luiz Pacheco e António José Forte. Seguiram-se alguns livros e poemas que fizeram do autor um dos mais importantes poetas da língua portuguesa no pós-guerra. Seu livro A máquina lírica, de 1963, é não apenas um livro de potência linguística a beirar o xamânico, como uma obra-prima da poesia experimental, lançando mão da permutação como elemento organizador e produtor. O equilíbrio, neste livro, entre pensamento, imagem e música (poesia ao mesmo tempo logopaica, fanopaica e melopaica) é exemplar e ainda uma lição para escritores da língua.
No Brasil, tende-se a ver a poesia de Helder, tal qual a de Celan, como exemplo do exuberante e místico, por vezes sem perceber o que há de pensamento e trabalho de linguagem em seus poemas. O título deste livro é especialmente apropriado: A máquina lírica (o título original era Electronicolírica), o que me faz pensar na expressão de Le Corbusier “machine à émouvoir” (máquina de comover), que João Cabral de Melo Neto usou como epígrafe em seu livro O engenheiro. Há mais coisas unindo Helder e Cabral do que poderia parecer às leituras mais superficiais. Herberto Helder era um poeta altamente consciente da linguagem como forma não apenas de percepção do mundo, mas também como estratégia de transformação do mesmo. Neste aspecto, podemos falar sobre o encantatório e místico em sua poesia. “As casas são fabulosas, quando digo: casas. São fabulosas / as mulheres, se comovido digo: / as mulheres.” É necessário o cantar. Não apenas dizer o mundo, para visualizá-lo, mas cantá-lo, para que se mova e nos comova. Wallace Stevens escreveu no início de seu “The man with the blue guitar”:
“The man bent over his guitar,
A shearsman of sorts. The day was green.
They said, “You have a blue guitar,
You do not play things as they are.”
The man replied, “Things as they are
Are changed upon the blue guitar.”
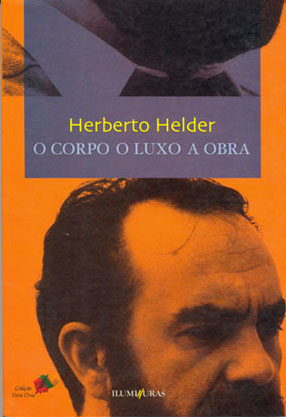 A crença de que as coisas são o que são, mas transformam-se quando as cantamos. Naqueles poemas de linguagem permutacional, o vocabulário transforma-se, mesmo que permaneça aparentemente o mesmo, a cada rodada sintática. Não é possível “ilustrar” isso com um excerto. É preciso cantar um poema inteiro. Sem poder publicar um poema longo completo aqui, peço a vocês que leiam “A Bicicleta pela Lua Dentro – Mãe, Mãe”.
A crença de que as coisas são o que são, mas transformam-se quando as cantamos. Naqueles poemas de linguagem permutacional, o vocabulário transforma-se, mesmo que permaneça aparentemente o mesmo, a cada rodada sintática. Não é possível “ilustrar” isso com um excerto. É preciso cantar um poema inteiro. Sem poder publicar um poema longo completo aqui, peço a vocês que leiam “A Bicicleta pela Lua Dentro – Mãe, Mãe”.
Sua poesia é ainda de um teor carnal, visceral, de pés na terra, ainda que a cabeça possa parecer nas nuvens para alguns desatentos. O título de um de seus livros é uma lição em si: A colher na boca (1961). A coisa, mas a coisa sentida. Ou O Corpo O Luxo A Obra (1978). E até quando fala do corpo, é corpo sentido pelo corpo, como no título lindo A cabeça entre as mãos (1982). Herberto Helder foi ainda um grande exemplo de integridade artística. Vivendo isolado, sem conceder entrevistas, com raras fotografias disponíveis, recusando prêmios, parecia saber que poesia desta ordem exige não imiscuir-se demais nos negócios deste mundo. O Brasil pode buscar sua antologia O Corpo O Luxo A Obra (São Paulo: Iluminuras, 2000). Portugal tem, os sortudos, acesso a sua obra completa.
O próprio autor escreveu há não muito tempo:
Li algures que os gregos antigos não escreviam necrológios,
quando alguém morria perguntavam apenas:
tinha paixão?
quando alguém morre também eu quero saber da qualidade da sua paixão:
se tinha paixão pelas coisas gerais,
água,
música,
pelo talento de algumas palavras para se moverem no caos,
pelo corpo salvo dos seus precipícios com destino à glória,
paixão pela paixão,
tinha?
Herberto Helder morreu. Cá estou eu perdendo tempo com um necrológio, quando podia apenas dizer: tinha paixão, por tudo o que era corporal. E não esquecer: deitem-se, levantem-se, lembrem-se de que é enorme cantar.
Otto Lara Resende, soterrado sob anedotas
O Brasil possui alguns autores que são hoje mais lembrados pelas anedotas de alguns de seus amigos, autores mais famosos, que por suas obras. Talvez o caso mais exemplar seja o de Jayme Ovalle (1894-1955). Suas composições permanecem, mas em nossa memória é mais provável que o paraense compareça como personagem de seu amigo Manuel Bandeira, em um par de seus mais belos poemas, como aquele “Poema só para Jayme Ovalle”:
Quando hoje acordei, ainda fazia escuro
(Embora a manhã já estivesse avançada).
Chovia.
Chovia uma triste chuva de resignação
Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite.
Então me levantei,
Bebi o café que eu mesmo preparei,
Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando…
– Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei.
Jayme Ovalle foi poeta bissexto e compositor de lavra intermitente. Sua peça mais conhecida talvez seja “Azulão”, escrita justamente com Manuel Bandeira e cantada por Elizeth Cardoso e Nara Leão, entre outros. Mas seu nome e as histórias bizarras e pitorescas que o cercavam aparecem em textos dos mais importantes autores do entreguerras e pós-guerra imediato, como Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, Murilo Mendes e Fernando Sabino, além de alguns outros sobre os quais também deveríamos falar um pouco mais, como Dante Milano. A verdade é que talvez eu esteja apenas contribuindo ainda mais para este caráter elusivo da figura de Jayme Ovalle, para usar o adjetivo de Victor Heringer em seu texto sobre o autor [“O Jayme Ovalle de Manuel Bandeira”, Revista Memento, V.3, n.2, ago.-dez. 2012], já que este artigo não pretende debruçar-se sobre ele. A quem se interessar, há hoje a biografia de Jayme Ovalle escrita por Humberto Werneck, O santo sujo (São Paulo: Cosac Naify, 2008).
O nome de Jayme Ovalle e sua espécie de carreira em terceira pessoa me veio à mente ao pensar sobre outro autor brasileiro que estive lendo esta semana, Otto Lara Resende (1922-1992). Assim como Ovalle em Bandeira, é possível que muitos leitores brasileiros lembrem-se de Otto Lara Resende, hoje em dia, apenas por comparecer em tantos textos e anedotas de seu amigo Nelson Rodrigues, que chegou a intitular uma de suas peças mais famosas Bonitinha, mas ordinária, ou Otto Lara Resende, de 1962, uma de suas tragédias cariocas.
Era a Otto que Nelson costumava atribuir algumas de suas frases de efeito, tenham ou não realmente saído da boca do mineiro, como o célebre “O mineiro só é solidário no câncer”. E assim, Resende, que também engrossou o caldo do anedotário sobre Jayme Ovalle, parece hoje ter destino parecido, mais lembrado por este anedotário que por sua escrita.
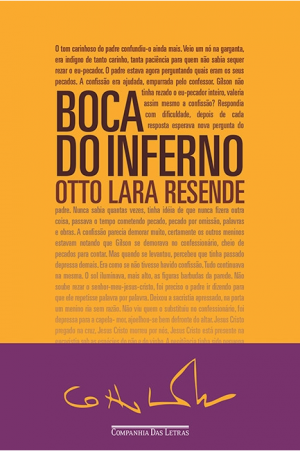 No entanto, o mineiro foi um dos intelectuais mais importantes do Brasil no pós-guerra, e como me pareceu claro ao voltar a seus contos esta semana, um escritor formidável. A Companhia das Letras relançou no ano passado uma de suas coletâneas mais importantes, Boca do Inferno, com contos publicados originalmente em livro em 1957. Voltar ao autor mineiro traz prazeres de leitura incontestáveis.
No entanto, o mineiro foi um dos intelectuais mais importantes do Brasil no pós-guerra, e como me pareceu claro ao voltar a seus contos esta semana, um escritor formidável. A Companhia das Letras relançou no ano passado uma de suas coletâneas mais importantes, Boca do Inferno, com contos publicados originalmente em livro em 1957. Voltar ao autor mineiro traz prazeres de leitura incontestáveis.
Ele era apenas dez anos mais jovem que Nelson Rodrigues, e apenas dois anos mais jovem que autores tão importantes quanto diversos como João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector. Quando eles chegaram à cena nas décadas de 40 e 50, o Modernismo já era fato consumado e estabelecido no país. Era um período de grande ebulição cultural. Ao mesmo tempo em que autores que estrearam nas décadas de 1920 e 1930 começam a dar-nos suas obras mais importantes, estes mais jovens explodem na cena com obras como Vestido de noiva (1943), Perto do coração selvagem (1943) e O engenheiro (1945). E eu nem mencionei João Guimarães Rosa ou Lúcio Cardoso. Talvez seja compreensível que um autor discreto como Otto Lara Resende tenha sido soterrado sob estes que nos parecem gigantes.
Contemplar a literatura brasileira entre o fim da Segunda Guerra e o início da Ditadura Militar nos dá realmente uma sensação de Idade de Ouro, com autores como estes mencionados acima, além de Oswald de Andrade, Vinicius de Moraes, Cornélio Penna, Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Henriqueta Lisboa, Hilda Hilst e Haroldo de Campos, em sua plena produção. Em minha opinião, a época só pode ser comparada em qualidade e diversidade com as duas últimas décadas do século 19, quando estavam em atividade no país, ao mesmo tempo, autores como Machado de Assis, Joaquim de Sousandrade, Raul Pompeia, Luiz Gama, Joaquim Nabuco, Cruz e Sousa e Alphonsus de Guimaraens, período que se pode dizer culminar, de certa forma, com a publicação de Os Sertões em 1902, ano em que more Sousândrade.
Ao escrever sobre autores da década de 50, como Hilda Hilst, o grande crítico Sérgio Buarque de Holanda chamou a atenção para o fato de que à época, com a consolidação da poética modernista, já não era necessário que autores lançassem mão de certas técnicas que hoje nos parecem cacoetes de linguagem envelhecidos, como a insistência na fala popular como único registro possível para o escritor brasileiro. Isso se torna claro ao ler Otto Lara Resende, que demonstra grande liberdade lexical em seus textos. Se há o registro popular da fala das ruas, Resende não se furta a usar palavras mais raras – se o texto assim o pede. Isso causa um sobressalto hoje e tem forte efeito poético, algo que dá a seus textos uma alta tensão de materialidade de linguagem. Um exemplo é o conto “Gato Gato Gato”, um de meus favoritos. O texto, ainda que narrativo, tem uma carga poética fortíssima, já demonstrada no título, na busca entre língua e coisa.
“Familiar aos cacos de vidro inofensivos, o gato caminhava molengamente por cima do muro. O menino ia erguer-se, apanhar um graveto, respirar o hálito fresco do porão. Sua úmida penumbra. Mas a presença do gato. O gato, que parou indeciso, o rabo na pachorra de uma quase interrogação. Luminoso sol a pino e o imenso céu azul, calado, sobre o quintal. O menino pactuando com a mudez de tudo em torno — árvores, bichos, coisas.”
A história é das mais simples: um menino num quintal qualquer, observando um gato sobre o muro e lançando-se em jogos de linguagem para contê-lo, possuí-lo:
“Gato — leu no silêncio da própria boca. Na palavra não cabe o gato, toda a verdade de um gato. Aquele ali, ocioso, lento, emoliente — em cima do muro. As coisas aceitam a incompreensão de um nome que não está cheio delas. Mas bicho, carece nomear direito: como rinoceronte, ou girafa se tivesse mais uma sílaba para caber o pescoço comprido. Girafa, girafa. Gatimonha, gatimanho.”
O que parece inofensivo em sua narração, a mera descrição de uma cena corriqueira do interior do Brasil, aquele tédio das bananeiras típico dos primeiros poemas de Carlos Drummond de Andrade, logo se transforma em ambiente de matança, sangue. A sutileza psicológica do texto de Otto Lara Resende é admirável. Creio que seria bastante interessante uma leitura comparada entre seus contos e os de Clarice Lispector.
O relançamento de seu livro de contos mais famoso é ótima notícia, que infelizmente só ouvi este ano. Tento repassá-la aqui. Quero buscar também sua coletânea de crônicas Bom dia para nascer, escritas para a Folha de S. Paulo e também publicada pela Companhia das Letras em 2011. Espero que toda a sua obra, concisa mas potente, volte a circular e ele encontre seu lugar merecido entre os escritores brasileiros do pós-guerra. Gosto muito das anedotas, mas agora já não pretendo mais perder de vista o homem – o homem em si e em texto.
A tarde em que descobri a existência de Hilda Hilst
O ano era 1997. Eu tinha 20 anos. Os jornais discutiam o livro autobiográfico de Caetano Veloso, Verdade Tropical. O romance de estreia de Paulo Lins, Cidade de Deus, era publicado e também amplamente debatido. João Cabral de Melo Neto, ainda vivo e considerado o maior poeta do país, tinha sua obra completa reunida em dois volumes, Serial e antes e A Educação pela Pedra e depois. Sua poética comandava a atenção e estipulava, para muitos críticos, os parâmetros de qualidade para a poesia: secura, economia de meios, antilirismo, objetividade. Na prosa, tais características eram louvadas em Rubem Fonseca, que parecia ser a maior influência da prosa de então.
Era meu primeiro ano vivendo na cidade de São Paulo, num apartamento pequeno próximo àquela que apenas ali poderia ser chamada de Praça da Árvore, um local lúgubre com uma coitada verde esticando seus galhos no meio do tráfego da Zona Sul. Mas foi ali, numa tarde qualquer que, lendo uma resenha sobre o romance de uma escritora da qual jamais havia ouvido falar, encontrei os versos: “Palha / Trapos / Uma só vez o musgo das fontes / O indizível casqueando o nada // Essa sou eu. / Poeta e mula”. O poema encerrava o romance de título estranho, Estar sendo. Ter sido (São Paulo: Nankin, 1997), de uma escritora de nome igualmente estranho, Hilda Hilst.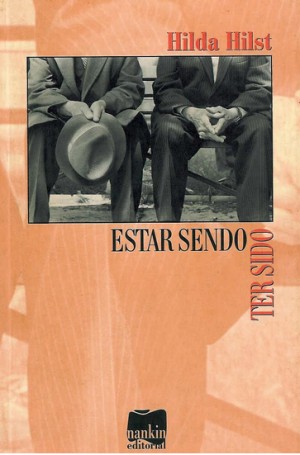
Naquela mesma semana, procurei o livro e o encontrei em uma pequena livraria da Avenida Paulista. Em pé, sem dinheiro para comprar o volume, folheei o artefato esquisito, com prosa, diálogos e poemas intercalados, e ao fim o poema do qual haviam saído os versos, chamado “A Mula de Deus”. Nada poderia ter me preparado para a febre que senti ao ler o poema todo, sensação que se repetiria a partir de então, quando passei a caçar os volumes anteriores da autora, em poesia e prosa. Diante do louvor ininterrupto à secura e ao antilirismo de João Cabral, aquele misticismo carnal de Hilda Hilst parecia, naquele ambiente, praticamente alienígena. “Para fazer sorrir O MAIS FORMOSO / Alta, dourada, me pensei. / Não esta pardacim, o pelo fosco / Pois há de rir-se de mim O PRECIOSO. // Para fazer sorrir O MAIS FORMOSO / Lavei com a língua os cascos / E as feridas. Sanguinolenta e viva / Esta do dorso / A cada dia se abre carmesim.” Senti-me imediatamente em casa.
Até hoje, “A Mula de Deus”, ao lado do volume de poemas publicado por Hilda Hilst naquela década – Cantares do Sem Nome e de Partidas (1995), parece-me um milagre, e um dos textos mais potentes dos anos 90. Com os volumes de prosa da autora ao longo dos anos 70 e 80, seus poemas desde os anos 50 e as peças teatrais dos anos 60, a autora nascida em Jaú e auto-exilada na Casa do Sol em Campinas deu-nos alguns dos livros mais impressionantes e assustadores do país. São livros únicos. O volume em prosa Qadós (1973, reeditado como Kadosh) parece-me um dos maiores livros da língua, levando-a a um estado de pura febre.
Naquele momento, Hilda Hilst era ainda uma escritora à margem. Feliz o país que podia contar, naquele fim de século, com João Cabral de Melo Neto e Hilda Hilst, com Augusto de Campos e Roberto Piva, mas parecia haver ainda uma trincheira impedindo que todas estas manifestações textuais chegassem a um público amplo. Apenas no fim de suas vidas, quando praticamente já haviam deixado de produzir, foi que Hilst e Piva receberam algo da atenção que mereciam, mesmo que talvez nós não os merecêssemos. Ao lado da potência elegante e minimalista de autores como Machado de Assis, Graciliano Ramos e Augusto de Campos, o Brasil sentiu as esporas da luxúria linguística de homens e mulheres como Raul Pompeia, Lúcio Cardoso e Hilda Hilst. Talvez seja normal e compreensível que a personalidade e visão de mundo de uns os levem a identificar-se com o deserto elegante dos primeiros. Pessoalmente, finco os pés no chão, ergo as mãos ao alto, e dou graças pela existência da febre úmida dos últimos. Juntos, todos eles ensinam-nos sobre as marés do mundo, sertão e mar sempre em rodízio.







Feedback