Do Vai-Quem-Quer à Quarta-feira de Cinzas
Ainda me lembro da primeira vez em que vi os meninos da rua passando em frente da minha casa, vestidos de mulher. O que era aquilo? Minha mãe disse: é o vai-quem-quer. Naquela minha infância na década de 80, era como começava o Carnaval na sexta-feira. Os homens (só os homens) vestiam-se de mulher e caíam na gandaia. Vocês usam a palavra “gandaia”? Não sei se era uma tradição local, que apenas acontece em Bebedouro. Ainda existe? Acabei de encontrar no jornal da cidade, a internacionalmente conhecida Gazeta de Bebedouro, um artigo sobre o bloco: “‘Vai quem quer’ comemora 38 anos” [Gazeta de Bebedouro, 12/02/15]. Ou seja, existe desde 1977! O ano em que eu nasci! Isso explica muita coisa. Estranho como pesquisas na adultez destróem mitos da infância. Eu sempre acreditei que fosse uma tradição popular brasileira. Se ocorria em Bebedouro, ocorria no mundo! Bebedouro era o mundo. Perdoem, sou poeta municipal. Então nada mais era que um bloco de carnaval local.
 Mas Bebedouro tinha outra tradição carnavalesca: o desfile dos “carros críticos”, caminhões sobre os quais eram reencenados, de forma satírica, acontecimentos políticos ou policiais da cidade. Ainda me lembro de um, deve ter sido por volta de 1983, em que um grupo de jovens satirizou os roubos que vinham acontecendo no cemitério local, onde ladrões andavam abrindo túmulos para roubar dentes de ouro dos falecidos de antanho. A vida era tão pitoresca. Ai, que saudades da Viúva Porcina.
Mas Bebedouro tinha outra tradição carnavalesca: o desfile dos “carros críticos”, caminhões sobre os quais eram reencenados, de forma satírica, acontecimentos políticos ou policiais da cidade. Ainda me lembro de um, deve ter sido por volta de 1983, em que um grupo de jovens satirizou os roubos que vinham acontecendo no cemitério local, onde ladrões andavam abrindo túmulos para roubar dentes de ouro dos falecidos de antanho. A vida era tão pitoresca. Ai, que saudades da Viúva Porcina.
Como era fascinante imaginar o que acontecia na tal Terça-feira Gorda. Eu imaginava orgias, bebedeiras em plena Bebedouro, bacantes regando o planeta com vinho tinto Sangue de Boi. Só podia imaginar, porque minha mãe não permitia que fôssemos. Coisa do demo. Desculpem, não do demo, mas do Inimigo. Não se diz o nome do dito-cujo lá em casa. É apenas “o Inimigo” ou “aquele que não mencionamos”, feito o Voldemort em Harry Potter. Mas ainda me lembro da primeira vez em que me foi permitido ir. Era no Clube de Campo. Serpentina, confete. Que alegria!
Era como naquele poema maravilhoso de Manuel Bandeira:
Sempre tristíssimas estas cantigas de carnaval
Paixão
Ciúme
Dor daquilo que não se pode dizer
Felizmente existe o álcool na vida
e nos três dias de carnaval éter de lança-perfume
Quem me dera ser como o rapaz desvairado!
O ano passado ele parava diante das mulheres bonitas
e gritava pedindo o esguicho de cloretilo:
– Na boca! Na boca!
Umas davam-lhe as costas com repugnância
outras porém faziam-lhe a vontade.
Ainda existem mulheres bastante puras para fazer vontade aos viciados
Dorinha meu amor…
Se ela fosse bastante pura eu iria agora gritar-lhe como o outro: – Na boca! Na boca!
É, Bandeirão poetinha-poetão, felizmente existe o álcool na vida. Que vontade de gritar “na boca, na boca!” E quem disse que nunca gritei isso aqui em Berlim, em determinadas circunstâncias? Mas hoje é Quarta-feira de Cinzas. É o primeiro dia da Quaresma. Teria novena entre as senhoras da rua, hoje. Ainda tem? Ainda estão vivas as senhoras que rezavam o terço? Ai, a ladainha. Até da ladainha dá saudades de vez em quando. Beata era elogio naquela época.
Beato era também Eliot, com quem encerro esse texto, os últimos versos de seu longo poema chamado “Ash Wednesday” (Quarta-feira de Cinzas), e passo a fazer meu jejum de poeta pobre. Poeta vive em eterna quaresma.
“And pray to God to have mercy upon us
And pray that I may forget
These matters that with myself I too much discuss
Too much explain
Because I do not hope to turn again
Let these words answer
For what is done, not to be done again
May the judgement not be too heavy upon us
Because these wings are no longer wings to fly
But merely vans to beat the air
The air which is now thoroughly small and dry
Smaller and dryer than the will
Teach us to care and not to care
Teach us to sit still.
Pray for us sinners now and at the hour of our death
Pray for us now and at the hour of our death.”
— T.S. Eliot, Ash Wednesday.
Mulheres, homens e a violência milenar dos últimos sobre as primeiras
Há algumas semanas, em uma conversa com o escritor e músico alemão Jonas Lieder sobre nossos passatempos televisivos dos últimos tempos, ele me recomendou que assistisse ao seriado britânico The Fall, produzido pela BBC, com Gillian Anderson em um dos papeis principais. Anderson interpreta uma agente que vem de Londres a Belfast para investigar uma série de assassinatos de mulheres na capital da Irlanda do Norte. Há, é claro, um subtexto político, ao fazer de Belfast o cenário de crimes investigados por uma inglesa. Mas o principal substrato político, creio, não se dá no conflito entre irlandeses e ingleses, pois se trata não apenas de um policial inglês investigando os crimes de um irlandês, mas de uma mulher no comando das investigações de assassinatos de mulheres e que, ela tem certeza, estão sendo cometidos por um homem.
A série, que tem alguns problemas, é perturbadora, com cenas de violência bastante explícitas, e a atuação do belíssimo Jamie Dornan como Paul Spector, o psicopata, torna as coisas ainda mais incômodas. Mas trata-se de uma série com momentos de dramaturgia realmente inteligente da autoria de Allan Cubitt.
Um diálogo me marcou: a personagem de Gillian Anderson está conversando na cama com a personagem de Colin Morgan, que interpreta outro policial envolvido nas investigações, após terem feito sexo. A personagem de Morgan, um homem, confessa sentir certo fascínio pela figura do psicopata, que parece emanar certo charme. A personagem de Anderson responde não ter qualquer interesse ou fascínio pelo assassino, que ele é apenas um homem que mata mulheres. Ela então completa: “Conheço alguém que perguntou a um grupo de homens por que eles se sentiam ameaçados por mulheres. Eles responderam: ‘Porque temos medo de que elas riam de nós’. Então, perguntou a um grupo de mulheres por que elas se sentiam ameaçadas por homens. Elas responderam: ‘Porque temos medo de que eles nos matem'”.
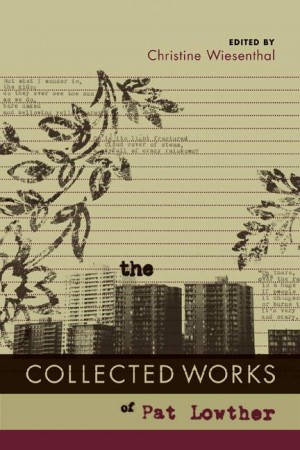 Este diálogo me voltou à mente estes dias, ao reler alguns poemas da canadense Pat Lowther. Seu assassinato pelo próprio marido, outro poeta, completará 40 anos em 2015. A autora e ativista por direitos trabalhistas, nascida Patricia Tinmuth em Vancouver, havia publicado os livros This Difficult Flowering (1968), The Age of the Bird (1972) e Milk Stone (1974). Em 1975, o manuscrito de seu A Stone Diary seria aceito para publicação pela prestigiosa Oxford University Press. Seu marido Roy Lowther, de quem adotou o sobrenome, não aceitava a fama da mulher, enciumado com a atenção crítica que ela recebia. Na noite de 24 de setembro de 1975, Pat Lowther era aguardada no Salão dos Metalúrgicos de Vancouver, onde faria uma leitura para os operários, mas jamais apareceu. Seu corpo seria encontrado três semanas mais tarde em uma gruta. Seu marido, condenado por seu homicídio.
Este diálogo me voltou à mente estes dias, ao reler alguns poemas da canadense Pat Lowther. Seu assassinato pelo próprio marido, outro poeta, completará 40 anos em 2015. A autora e ativista por direitos trabalhistas, nascida Patricia Tinmuth em Vancouver, havia publicado os livros This Difficult Flowering (1968), The Age of the Bird (1972) e Milk Stone (1974). Em 1975, o manuscrito de seu A Stone Diary seria aceito para publicação pela prestigiosa Oxford University Press. Seu marido Roy Lowther, de quem adotou o sobrenome, não aceitava a fama da mulher, enciumado com a atenção crítica que ela recebia. Na noite de 24 de setembro de 1975, Pat Lowther era aguardada no Salão dos Metalúrgicos de Vancouver, onde faria uma leitura para os operários, mas jamais apareceu. Seu corpo seria encontrado três semanas mais tarde em uma gruta. Seu marido, condenado por seu homicídio.
A violência cometida por homens heterossexuais no Brasil tem números alarmantes. Trata-se de um país extremamente perigoso para mulheres e homossexuais. No contexto literário, não é uma discussão fácil. A violência se mostra de muitas formas, e uma delas é o silêncio sobre esta violência. O apagar das vozes femininas. É espantoso como feiras literárias, editoras, antologias e artigos seguem apagando as vozes das mulheres no país. Outros, imediatamente veem como menores os textos que enfrentam o problema, por considerá-los contextuais demais, “não universais” o bastante. Como se tal preocupação fosse nada mais que um sintoma do politicamente correto que impregnou os Estados Unidos, onde Harold Bloom cunhou o termo “escola do ressentimento”. No entanto, a violência é real. Mata.
Quando trato do assunto, recebo com frequência comentários educados e inteligentes de colegas, alertando-me para o perigo de misturar política e literatura, com os argumentos que já conhecemos há tempos, resumidos sob o adágio de que só importa a qualidade literária. Estas defesas da pureza do literário vêm, invariavelmente, de homens brancos heterossexuais.
O conceito de universalidade vem sendo questionado há tempos. Para uns, isto significa uma perda inestimável. Outros, apesar de o questionarem, não apreciam os rótulos que são impostos a escritores. Pessoalmente, não tenho problemas com certos rótulos, como literatura feminina e homossexual, mas com o fato de que são dados apenas aos “outros”. Desde que se perceba que há, sim, literatura masculina, branca e heterossexual, não me parece problemático discutir o dilema nestes termos. Não consigo compreender, para dar um exemplo específico, que algumas pessoas realmente acreditem que um livro como On The Road, de Jack Kerouac, apresente uma sensibilidade “universal”. Ou discutimos tudo por suas especificidades, ou nada. Ou todos são universais, ou ninguém.
Deixem-me contar uma anedota pessoal. Em 2013, minha antologia poética lançada na Alemanha foi discutida por quatro críticos literários do país, em uma série importante que ocorre três vezes por ano em Munique. Certo crítico de renome comentou sobre meu livro na ocasião que, apesar de muito bom, infelizmente não trazia “nutrição suficiente para um homem normal heterossexual”. Sim, estas foram suas palavras. Que um homem possa dizer isso em público, na Alemanha e em pleno século 21, pareceu-me apenas mostrar que meu trabalho também pode ter suas implicações políticas aqui, como sei terem no Brasil, ainda que eu quisesse viver em um mundo no qual meus poemas de amor fossem apenas isso: poemas de amor. Se o crítico considerava o livro bom, o que o impedia de encontrar nutrição nos poemas? Apenas porque eram claramente escritos por um homem para outro homem? Ele sente-se assim também com a lírica amorosa de Konstantínos Kaváfis, Sandro Penna e Frank O’Hara, para mencionar autores que escrevem com candor e honestidade sobre seus amores? Eu sou perfeitamente capaz de apreciar a lírica amorosa de Vinícius de Moraes, por exemplo, apesar de sentir-me distante de sua sensibilidade claramente heterossexual, longínqua de qualquer universalidade indiscutível.
Jamais preguei o revisionismo do cânone baseado em questões político-ideológicas. Mas também sei há bastante tempo que escritores e artistas estão longe de serem baluartes da ética. Precisamos lê-los com olhos e mente abertas, atentos, sabendo que em muitos deles o racismo e a misoginia de sua época (que ainda é a nossa) poluem seus textos, por mais geniais que alguns deles sejam.
Em sua entrevista televisiva a Günter Gaus em 1964, Hannah Arendt diz de forma enfática, batendo a mão na poltrona em que está sentada: “Se você é atacado por ser judeu, é como judeu que você tem que se defender, não como alemão, ou cidadão cosmopolita, ou membro da Humanidade”.
Será necessário sentir na pele a opressão para compreendê-la? Estamos condenados a nossa única e própria pele? Como pensar isso em nosso contexto atual? Pois há algo mais que complica nossa discussão, e sobre o qual venho pensando muito. Quando o funcionário do censo passa por nossas casas, são poucos os que podem dizer que não fazem um X num quadradinho, de alguma descrição de si mesmos, que os coloque entre os opressores. Pois a mulher branca heterossexual por vezes se mostra insciente de seus privilégios por ser branca, e oprime seus concidadãos negros, ou se mostra cega a suas dores. Assim como um homem homossexual branco por vezes se mostra cego às dores dos negros e das mulheres. Ou um homem heterossexual negro se mostra cego às dores de mulheres e homossexuais. As fronteiras são às vezes tênues, e precisamos todos estar atentos e fortes. Conscientes de nossos privilégios, de nossas opressões, e de nossas eventuais quedas na Síndrome de Estocolmo.
A tarde em que descobri a existência de Hilda Hilst
O ano era 1997. Eu tinha 20 anos. Os jornais discutiam o livro autobiográfico de Caetano Veloso, Verdade Tropical. O romance de estreia de Paulo Lins, Cidade de Deus, era publicado e também amplamente debatido. João Cabral de Melo Neto, ainda vivo e considerado o maior poeta do país, tinha sua obra completa reunida em dois volumes, Serial e antes e A Educação pela Pedra e depois. Sua poética comandava a atenção e estipulava, para muitos críticos, os parâmetros de qualidade para a poesia: secura, economia de meios, antilirismo, objetividade. Na prosa, tais características eram louvadas em Rubem Fonseca, que parecia ser a maior influência da prosa de então.
Era meu primeiro ano vivendo na cidade de São Paulo, num apartamento pequeno próximo àquela que apenas ali poderia ser chamada de Praça da Árvore, um local lúgubre com uma coitada verde esticando seus galhos no meio do tráfego da Zona Sul. Mas foi ali, numa tarde qualquer que, lendo uma resenha sobre o romance de uma escritora da qual jamais havia ouvido falar, encontrei os versos: “Palha / Trapos / Uma só vez o musgo das fontes / O indizível casqueando o nada // Essa sou eu. / Poeta e mula”. O poema encerrava o romance de título estranho, Estar sendo. Ter sido (São Paulo: Nankin, 1997), de uma escritora de nome igualmente estranho, Hilda Hilst.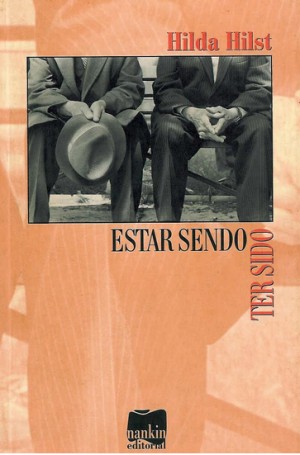
Naquela mesma semana, procurei o livro e o encontrei em uma pequena livraria da Avenida Paulista. Em pé, sem dinheiro para comprar o volume, folheei o artefato esquisito, com prosa, diálogos e poemas intercalados, e ao fim o poema do qual haviam saído os versos, chamado “A Mula de Deus”. Nada poderia ter me preparado para a febre que senti ao ler o poema todo, sensação que se repetiria a partir de então, quando passei a caçar os volumes anteriores da autora, em poesia e prosa. Diante do louvor ininterrupto à secura e ao antilirismo de João Cabral, aquele misticismo carnal de Hilda Hilst parecia, naquele ambiente, praticamente alienígena. “Para fazer sorrir O MAIS FORMOSO / Alta, dourada, me pensei. / Não esta pardacim, o pelo fosco / Pois há de rir-se de mim O PRECIOSO. // Para fazer sorrir O MAIS FORMOSO / Lavei com a língua os cascos / E as feridas. Sanguinolenta e viva / Esta do dorso / A cada dia se abre carmesim.” Senti-me imediatamente em casa.
Até hoje, “A Mula de Deus”, ao lado do volume de poemas publicado por Hilda Hilst naquela década – Cantares do Sem Nome e de Partidas (1995), parece-me um milagre, e um dos textos mais potentes dos anos 90. Com os volumes de prosa da autora ao longo dos anos 70 e 80, seus poemas desde os anos 50 e as peças teatrais dos anos 60, a autora nascida em Jaú e auto-exilada na Casa do Sol em Campinas deu-nos alguns dos livros mais impressionantes e assustadores do país. São livros únicos. O volume em prosa Qadós (1973, reeditado como Kadosh) parece-me um dos maiores livros da língua, levando-a a um estado de pura febre.
Naquele momento, Hilda Hilst era ainda uma escritora à margem. Feliz o país que podia contar, naquele fim de século, com João Cabral de Melo Neto e Hilda Hilst, com Augusto de Campos e Roberto Piva, mas parecia haver ainda uma trincheira impedindo que todas estas manifestações textuais chegassem a um público amplo. Apenas no fim de suas vidas, quando praticamente já haviam deixado de produzir, foi que Hilst e Piva receberam algo da atenção que mereciam, mesmo que talvez nós não os merecêssemos. Ao lado da potência elegante e minimalista de autores como Machado de Assis, Graciliano Ramos e Augusto de Campos, o Brasil sentiu as esporas da luxúria linguística de homens e mulheres como Raul Pompeia, Lúcio Cardoso e Hilda Hilst. Talvez seja normal e compreensível que a personalidade e visão de mundo de uns os levem a identificar-se com o deserto elegante dos primeiros. Pessoalmente, finco os pés no chão, ergo as mãos ao alto, e dou graças pela existência da febre úmida dos últimos. Juntos, todos eles ensinam-nos sobre as marés do mundo, sertão e mar sempre em rodízio.
Literatura durante e após a catástrofe
Ontem pela manhã [27.01.2015], eu estava na Estação Ferroviária Central de Frankfurt, aguardando o trem que me traria de volta a Berlim. Na banca de jornais, manchetes sobre Auschwitz, a rememoração dos 70 anos de libertação do campo. Na capa da revista Der Spiegel, o rosto de sobreviventes que ainda estão entre nós, hoje octogenários e nonagenários. Tomei o trem pensando que deveria escrever a respeito, mas como? Falar sobre os escritores que ali morreram, como Etty Hillesum (1914-1943)? Sobre os que sobreviveram e relataram os horrores, como Primo Levi (1919-1987), autor de É isso um homem? (1947), um dos primeiros livros a surgir após a guerra sobre aqueles horrores, ao lado de A espécie humana (1947), de Robert Antelme (1917-1990), que sobreviveu a Dachau?
O livro de Primo Levi abre com um poema, no qual ele comanda e exige, a nós “que vivemos em nossas casas mornas”, a não esquecer, a relatar a nossos filhos que aquilo ocorreu, caso contrário, que “a doença nos entrave, que nossos filhos virem seus rostos contra nós.” Outra sobrevivente de Auschwitz, menos conhecida, mas que relatou suas experiências, foi a francesa Charlotte Delbo (1913-1985), que passaria vinte anos trabalhando em sua trilogia Auschwitz et après (Auschwitz e depois). Um poema assustador de Delbo, chamado “Oração aos vivos para que sejam perdoados por estarem vivos”, diz: “Eu suplico a vocês / façam qualquer coisa / aprendam um passo / uma dança / alguma coisa que os justifique / que dê a vocês o direito / de vestir a sua pele o seu pelo / aprendam a andar e a rir / porque será completamente estúpido / no fim / que tantos tenham sido mortos / e que vocês aí vivam / fazendo nada de suas vidas.”
Ao mencionar os poemas de Levi e Delbo, que sobreviveram ao campo, assim como o título da trilogia da francesa, “Auschwitz e depois”, é impossível não pensar na citação de Adorno, a qual imagino tenha sido usada e abusada ontem, de que após Auschwitz seria um ato de barbárie escrever poesia. A citação é frequentemente tirada de contexto, vindo do último parágrafo de um ensaio bastante denso do alemão, sobre a reificação de tudo e todos em uma sociedade totalitária. Num parágrafo anterior, ele escreve: “Na prisão ao ar livre em que o mundo está se transformando, não é mais tão importante saber o que depende de quê, tal é a extensão em que o total se unifica. Todos os fenômenos se enrigecem, tornam-se insígnias do império absoluto daquilo que é.” Sempre compreendi a afirmação de Adorno como a negação da cultura que havia gerado Auschwitz, que simplesmente não se podia seguir escrevendo poesia como se Auschwitz não houvesse ocorrido. Um chamado à História. É importante lembrar que Paul Celan, o poeta mais conhecido entre os sobreviventes da Shoah, escreveu como o horrorizara perceber que autores seguiram escrevendo seus poemas sonoros e belos em meio ao horror da guerra e dos campos. Hoje um clássico do pós-guerra, lido basicamente em traduções, muitos não percebem que a escrita de Celan, a maneira como ele parte e quebra a sintaxe da língua alemã, era uma resposta a isso. Sua escrita hoje é simplesmente vista como “bela”. Sua busca por uma fala partida, feia e dentro do horror, é discutida por alguns como mera “inovação”, parte da “originalidade” de Celan. Transforma-se em literatura. No Brasil, por algum tempo usou-se Celan para resgatar certa aura de autoridade poética. Mas a autoridade de Celan não é apenas literária, é histórica.
Assim como se cita Adorno sobre a impossibilidade da poesia após Auschwitz fora de contexto, e poetas usam as “técnicas” de Celan de forma a-histórica, é comum dizer que Adorno mudou de ideia, ao escrever mais tarde que “o sofrimento perene tem tanto direito à expressão quanto um homem sob tortura tem direito ao grito, dessarte talvez tenha errado em dizer que após Auschwitz não se podia mais escrever poesia.” No entanto, raramente se cita o resto do parágrafo, que talvez seja uma declaração ainda mais tenebrosa que aquela sobre a poesia após Auschwitz: “Mas não é errado levantar a questão menos cultural se após Auschwitz se pode continuar vivendo – especialmente se alguém escapou por sorte, se alguém que poderia ter sido morto pode continuar vivendo. Sua sobrevivência exige frieza, o princípio básico da subjetividade burguesa, sem a qual não poderia ter havido Auschwitz; esta é a trágica culpa daquele que sobreviveu. Sua expiação será a de ser atormentado por pesadelos nos quais ele nem mesmo vive, nos quais ele foi enviado aos fornos em 1944, e toda a sua existência desde então foi imaginária, uma emanação do desejo louco de um homem assassinado 20 anos antes.” É uma passagem assustadora. E penso novamente no poema de Charlotte Delbo, “Oração aos vivos para que sejam perdoados por estarem vivos.” Penso em Simone Weil, que se recusou a comer no hospital onde estava, à beira da morte, pois se outros judeus como ela morriam aos milhares, ela não podia comer. Penso em Hannah Arendt, dizendo em sua entrevista a Günter Gaus em 1964 que “isto [Auschwitz] jamais deveria ter acontecido. Algo ocorreu ali com o qual nenhum de nós jamais poderá conciliar-se.”
Como posso eu escrever sobre aqueles horrores, escritor brasileiro nascido mais de 30 anos depois da libertação do campo? No entanto, e se pensarmos que estamos no auge daquela reificação total, de tudo e todos, dentro do sistema capitalista, contra o qual escreveu Adorno, e Pasolini, e tantos outros? A noção de civilização e cultura que gerou Auschwitz (não me refiro apenas à ideologia nazista) realmente foi vencida? Trinta anos depois da libertação dos sobreviventes do campo, Pasolini faria seu filme Salò ou os 120 Dias de Sodoma (1975), com o qual argumenta que aquela cultura permanece. A do poder obsceno. A da transformação de seres vivos (não apenas humanos) em coisas, mercadorias. Temos mesmo outro conceito de civilização após Auschwitz? Não foi para destruir por completo certo conceito de civilização que ainda permanecia, que a personagem de A Paixão segundo GH (1964), da judia Clarice Lispector, comungou com um inseto e comeu a matéria viva de uma barata? É importante lembrar-se da formulação terrível de Jean Améry (1912-1978), que passou por Auschwitz, Bergen-Belsen e Buchenwald, e que, ao falar sobre os torturadores nazistas nos campos, escreveu “… uma pequena pressão da mão que controla o aparelho é suficiente para transformar a outra – junto com sua cabeça, na qual talvez estejam arquivados Kant e Hegel, e todas as nove sinfonias, e O Mundo como Vontade e Representação – num leitão guinchante no matadouro.” Os nazistas eram homens educados em Kant, Hegel, Beethoven e Schopenhauer. Pertenciam à mesma cultura, e, no entanto…
E aqui, ao final, me pergunto: de que forma eu, escritor brasileiro, posso escrever sobre isso e ainda conciliar-me com os horrores do meu próprio país, onde a reificação de seres humanos já estava no sequestro e escravização de três milhões de africanos, e o genocídio de outros milhões de indígenas? Posso, como escritor brasileiro, escrever sobre Auschwitz sem pensar nisso? Não tenho a ilusão de ter respostas certas para estas questões. O que posso dizer é que nos últimos tempos, pensando a respeito delas, percebi com certo terror e me perguntei se não havia errado em querer alertar leitores para uma possível distopia futura (quando falava sobre uma “poesia pré-distópica”), se talvez não os estava apenas distraindo para o fato de que já estamos (ou continuamos) em plena distopia. Hoje, confesso crer, com Adorno e Pasolini, que este é o caso.
Relação com as águas (de córregos brasileiros a rios alemães)
 Nasci no município de Bebedouro, no estado de São Paulo. Diz o dicionário: be.be.dou.ro, substantivo masculino. 1- Lugar, recipiente, vasilha etc., em que os animais bebem água. 2- Aparelho com água encanada, munido de torneira que jorra para cima, da qual se aproxima a boca para beber. Desde cedo, alguma relação com a água. Mas trata-se de uma cidade pequena, as proporções das coisas são menores. Se grandes cidades cresceram às margens de rios longos, serpenteando por vários países, cortando continentes, a vila de Bebedouro cresceu às margens de um córrego, o antigo córrego Bebedor. Ali paravam os tropeiros e peões de boiadeiro para dar de beber ao gado, pernoitar. Ali muita capivara foi caçada. Mas isso foi há décadas, um século. Em algum momento, um esperto teve a ideia de represar o córrego, formando hoje o que nós bebedourenses todos chamamos simplesmente de “O Lago”, menos lago que açude, talvez. Onde você mora? Perto do lago. O que você vai fazer hoje? Caminhar pelo lago. O lago centra a cidade. Mas capivaras não há mais. Apenas umas garças solitárias por vezes aparecem, e, quando criança, lembro-me daquela invasão ensurdecedora de andorinhas. Esta foi uma das minhas primeiras experiências estéticas quando pequeno: ficar ali, perto da comporta que represa o córrego, vendo aquele sobrevoar louco de andorinhas pela superfície do lago. Afinal, o município já foi a vila de São João Batista da Bela Vista de Bebedor. O Batista, o das águas. A primeira catástrofe natural que presenciei foi a grande enchente de 1983. Grande, para nossas proporções de gente pequena. As comportas foram abertas, a região do lago ficou intransponível, o museu de carros e aviões antigos da família Matarazzo, danificado, acabou fechado por anos.
Nasci no município de Bebedouro, no estado de São Paulo. Diz o dicionário: be.be.dou.ro, substantivo masculino. 1- Lugar, recipiente, vasilha etc., em que os animais bebem água. 2- Aparelho com água encanada, munido de torneira que jorra para cima, da qual se aproxima a boca para beber. Desde cedo, alguma relação com a água. Mas trata-se de uma cidade pequena, as proporções das coisas são menores. Se grandes cidades cresceram às margens de rios longos, serpenteando por vários países, cortando continentes, a vila de Bebedouro cresceu às margens de um córrego, o antigo córrego Bebedor. Ali paravam os tropeiros e peões de boiadeiro para dar de beber ao gado, pernoitar. Ali muita capivara foi caçada. Mas isso foi há décadas, um século. Em algum momento, um esperto teve a ideia de represar o córrego, formando hoje o que nós bebedourenses todos chamamos simplesmente de “O Lago”, menos lago que açude, talvez. Onde você mora? Perto do lago. O que você vai fazer hoje? Caminhar pelo lago. O lago centra a cidade. Mas capivaras não há mais. Apenas umas garças solitárias por vezes aparecem, e, quando criança, lembro-me daquela invasão ensurdecedora de andorinhas. Esta foi uma das minhas primeiras experiências estéticas quando pequeno: ficar ali, perto da comporta que represa o córrego, vendo aquele sobrevoar louco de andorinhas pela superfície do lago. Afinal, o município já foi a vila de São João Batista da Bela Vista de Bebedor. O Batista, o das águas. A primeira catástrofe natural que presenciei foi a grande enchente de 1983. Grande, para nossas proporções de gente pequena. As comportas foram abertas, a região do lago ficou intransponível, o museu de carros e aviões antigos da família Matarazzo, danificado, acabou fechado por anos.
Com 17 anos, fui estudar nos Estados Unidos, graças a uma bolsa de estudos. Acabei hospedado por uma família sem filhos em Shreveport, na Louisiana. Cortava a cidade o Red River of the South, o Rio Vermelho do Sul, outro desconhecido, mas que é tributário de nada menos que o Mississippi, o mítico, e ainda do Rio Atchafalaya. Mudei-me para São Paulo com 19 anos. Que águas tem São Paulo? O Tietê, pobre esgoto. O córrego Bebedor tem mais dignidade. Nem Mário de Andrade conseguiu dar ao Tietê algum lustro poético. “É noite. E tudo é noite. Debaixo do arco admirável / Da Ponte das Bandeiras o rio / Murmura num banzeiro de água pesada e oliosa,” como escreveu em seu “Meditação sobre o Tietê.” Ah, como eu queria que fosse melhor este poema. Talvez houvesse salvado o rio ao menos na memória. Não, o verdadeiro rio dos paulistanos é o Anhangabaú, aquele ribeirão canalizado. Seu vale é uma calçada. Parece-me apropriado, agora que veio o que eufemisticamente se vem chamando de “crise hídrica”, uma cidade de 20 milhões de habitantes à beira da morte por sede. Geraldo Alckmin sempre teve algo de Mad Max.
Nem carioca nem soteropolitano, nem Baía de Guanabara nem a de Todos os Santos. Não cresci às margens do mítico São Francisco (também secando), nem do Amazonas. E ao mudar-me para Berlim, fui dar às margens desse outro rio desviado, canalizado, anônimo. Pobre Spree. Que nome é esse? Gosto dele, mas não sou dos que se apinham no Parque Monbijou durante os verões berlinenses para a cerveja às suas margens de concreto. Rio alemão famoso é o Reno, claro. O grande Reno, o Rhein, símbolo do nacionalismo romântico alemão. Mítico e literário como o nosso Velho Chico. Cantado por poetas gigantesco como Heinrich Heine, “Eu não sei como explicar / Porque ando triste à beça; / Uma história de ninar / Não me sai mais da cabeça. // Dia ameno, a noite cai / Sobre o Reno devagar; / Na montanha, a luz se esvai / Faiscando pelo ar”, na tradução de André Vallias para um dos poemas mais famosos do alemão. Mas o Reno é distante das cidades alemães onde vivi. É um rio literário, para mim. Sua importância em minha mitologia pessoal é alimentar o Lago de Constança, na fronteira tríplice-germânica da Alemanha, Áustria e Suíça, o Lago de Constança, às margens do qual nasceu uma criatura que me trouxe delícia e desgosto.
Sempre achei impressionante o Elba, no norte do país, às margens do qual cresceu a cidade portuária de Hamburgo. Chega a assustar, ver aqueles navios enormes atravessando o rio, cidade adentro. Hamburgo se agarra a ele, é como se crescesse da lama do rio, se alimentasse dela. E foi o rio que fez de Hamburgo uma das cidades mais importantes e ricas da Alemanha.
Mas, aqui, ao fim deste texto, chego ao rio alemão pelo qual tenho especial carinho. Escrevo este texto enquanto da janela vejo correr o Main, aquele que chamamos de Meno em nossa língua, o rio que corta Frankfurt, onde estou, Frankfurt am Main. Ou, Francoforte no Meno. Gosto deste hábito de nomear a cidade com o rio que a corta. Como se disséssemos São Paulo do Tietê e Manaus do Amazonas, ali onde o Negro e o Solimões se encontram. Ao longo do Meno, o caminho para os andarilhos, os museus. Talvez eu goste tanto de Frankfurt apenas por ter aqui amigos especiais, como o músico alemão Markus Nikolaus, com quem colaboro. A cidade tem má fama, sendo centro comercial e financeiro do país. É cara. Engravatados por todos os lados, aqui também a “deselegância discreta de tuas meninas” e a “força da grana que ergue e destrói coisas belas”, mas talvez seja isto que também faz dos jovens aqui alguns dos mais relaxados que já conheci no país, pois resistem ao que veem em seu redor desprezando tanto a força da grana como a deselegância discreta. E é aqui, desta janela às margens do Meno, que mando aos amigos do Bebedor, do Tietê, do Amazonas, da Guanabara e do Abaeté esse texto em forma de cartão-postal. Em um poema sobre Murilo Mendes, João Cabral de Melo Neto conta uma anedota sobre o poeta de Juiz de Fora:
Murilo Mendes e os rios
Murilo Mendes, cada vez que
de carro cruzava um rio,
com a mão longa, episcopal,
e com certo sorriso ambíguo,
reverente, tirava o chapéu
e entredizia na voz surda:
Guadalete (ou que rio fosse),
o Paraibuna “te saluda”.
Nunca perguntei onde a linha
entre o de sério e de ironia
do ritual: eu ria amarelo,
como se pode rir na missa.
Explicação daquele rito,
vinte anos depois, aqui tento:
nos rios, cortejava o Rio,
o que, sem lembrar, temos dentro.
[in João Cabral de Melo Neto, Agrestes, 1985]
Adotei o hábito, sendo discípulo de Murilo Mendes como sou. Hoje, pela manhã, saí para fumar meu cigarro e carreguei a xícara de café para as margens do Main, do Meno, e lá disse: “Meno, o córrego Bebedor grüßt dich (te saúda).” Enquanto isso, São Paulo seca e o nível dos mares sobe. Talvez o verso de Murilo Mendes passe de convite a profecia: “Vamos voltar para a água.”








Feedback