Origens
Chico Buarque cantou em sua canção que seu pai era paulista; seu avô, pernambucano; seu bisavô, mineiro; seu tataravô, baiano, e que a toada havia sido soprada por seu mestre soberano, Antônio Brasileiro, o grande Tom Jobim. Tenho inveja de quem possa traçar genealogias distantes, sejam elas aristocráticas ou plebeias. Há alguns meses, comecei um texto que tomava essa toada de mote, mas cheguei apenas aos avós. Livro da genealogia de Ricardo Domeneck, filho de João, filho de João: João gerou João, João gerou Ricardo e seus irmãos, Ricardo não gerou nem gerará ninguém. A festa e o terror acabam aqui.
Família de caboclos tem árvores com galhos demais, enxertados de outros climas. A narrativa é sempre lacunar. Dizia a história da família Cardoso, a de minha mãe, que meu avô José havia imigrado para São Paulo vindo a pé do sul da Bahia. – “De onde, vó?” – “Ah, meu fio, acho que era de uma cidade chamada Salinas”. Só há dois anos, dando-me o trabalho de pesquisar, vim a descobrir que Salinas não fica no sul da Bahia, mas logo depois da fronteira, no norte de Minas Gerais. Meu avô baiano era na verdade mineiro. Iletrado, talvez sua família tenha acreditado que a cidade era na Bahia, não em Minas. Quiçá a fazenda da qual correu, aos 15 anos, era do outro lado da fronteira. Quem saberá? Os que sabem estão mortos, todos. O próprio José Cardoso, meu avô paterno, o que talvez fosse mineiro, talvez baiano, chegou a me pegar no colo, mas morreu quando eu tinha menos de um ano de idade. A história de sua andança de Salinas para Bebedouro, tristíssima até onde pude averiguar, morreu com ele em seus detalhes.
De minha avó materna, sequer sei o nome de solteira. Foi sempre a dona Rosária Cardoso, viúva do seu José. Os cabelos pretíssimos e lisos que temos vêm dela, de sua linhagem paulista, cabocla, mameluca, interiorana. É possível que sua família sem nome estivesse ali, no interior de São Paulo, há tanto tempo que um dia falaram a língua geral paulista, irmã do nheengatu. Pobretões também podem ser quatrocentões.
E quando estes caboclos misturam-se com imigrantes pobres e analfabetos da Europa latina, não há muita história literária a acrescentar, só oral, passageira. No último mês, visitei as terras dos meus avós paternos. Estive em Barcelona, Catalunha, de onde saiu Joan Domènech a caminho do interior de São Paulo, onde encontrou a italianona ruiva que foi minha avó paterna, dona Concheta Sciarra, povo da cidade de Campobasso, no Molise italiano. Escrevo este texto em Roma, onde vim fazer leituras e aproveitei a viagem para iniciar um livro sobre Pier Paolo Pasolini. Posso dizer que estou na terra de minha avó, se estou no Lácio, e ela era do Molise? Posso dizer que estou na terra do meu avô, se visito Brasília, e ele era de Salinas?
Talvez seja a idade chegando, e com ela a tentação de recompor a “merencória infância”. Talvez seja coisa de estrangeiro, brasileiro vivendo há tantos anos na Alemanha, sendo confrontado o tempo todo com questões de nacionalidade e naturalidade, estes conceitos artificiais. De onde sou? Só sei que sou de onde se diz toró, não chuva. Mas são outros os tempos e o Marquês de Pombal venceu. Ainda se diz toró. Mas é lá também que se chama todo iorgurte de danone, toda lâmina de barbear de gilete, e tenho sentimentos desencontrados quanto a isso.
Dedo de prosa sobre a prosa de Victor Heringer
Escrevi sobre o trabalho de Victor Heringer pela primeira vez após o lançamento de sua coletânea de poemas Automatógrafo (Rio de Janeiro: 7Letras, 2011), e anunciava no artigo (“Victor Heringer”, revista Modo de Usar & Co., 1/1/12) que o autor trabalhava naquele momento em seu primeiro romance, que viria a ser lançado pela mesma editora no ano seguinte sob o título Glória (Rio de Janeiro: 7Letras, 2012). Nascido no Rio de Janeiro em 1988, ele passou a fazer parte do grupo de jovens autores brasileiros cujo trabalho acompanho com muito interesse, todos nascidos no período de transição democrática pós-ditatorial, como os baianos Rodrigo Damasceno (1985) e Ederval Fernandes (1985), o pernambucano Philippe Wollney (1987), o paulistano William Zeytounlian (1988), e os também cariocas Ismar Tirelli Neto (1985), Luca Argel (1988) e Italo Diblasi (1988). No entanto, de todos esses citados, Heringer é o único que se dedica com a mesma intensidade tanto à prosa quanto à poesia, além de a seu trabalho sonoro, em vídeo e desenho. Mas a história dessa bizarra mutação geracional dos 1980 sob José Sarney é assunto para outra hora.
 Sempre acreditei que um crítico deva evitar o discurso das carreiras promissoras ao tratar do trabalho de um autor iniciante. Cede-se à tentação como se tomado pela vontade de comprar uma apólice de seguros no hipódromo, caso o cavalo eleito perca a corrida. No Brasil, isso se manifesta na inflação bibliográfica de certos autores que mantêm apenas sua importância histórica no cânone, impedindo que autores marginais, porém de influência entre os escritores mais jovens, sejam mais amplamente discutidos. Um autor deve ser discutido por aquilo que publicou, nem por uma futura possível obra nem por uma obra que pode ter sido importante no passado mas não mantem a mesma qualidade no presente.
Sempre acreditei que um crítico deva evitar o discurso das carreiras promissoras ao tratar do trabalho de um autor iniciante. Cede-se à tentação como se tomado pela vontade de comprar uma apólice de seguros no hipódromo, caso o cavalo eleito perca a corrida. No Brasil, isso se manifesta na inflação bibliográfica de certos autores que mantêm apenas sua importância histórica no cânone, impedindo que autores marginais, porém de influência entre os escritores mais jovens, sejam mais amplamente discutidos. Um autor deve ser discutido por aquilo que publicou, nem por uma futura possível obra nem por uma obra que pode ter sido importante no passado mas não mantem a mesma qualidade no presente.
Tivesse eu feito a promessa da promessa ao falar de Victor Heringer em 2012, poderia estar me parabenizando agora, e não me refiro apenas ao Prêmio Jabuti que o autor carioca recebeu por seu romance Glória no ano passado. Victor Heringer é um dos autores que leio com maior prazer no cenário brasileiro contemporâneo, e seus textos ganham cada vez mais elegância e estilo. Sua coletânea de estreia trazia belos poemas, sobre os quais me debrucei, como “ode à genética”, “Intervalo comercial entre duas comédias” e “Oração”, e desde então saíram o ótimo Glória, justamente premiado, e mais recentemente o conto-livro Lígia (2014), lançado na coleção Formas breves, dirigida por Carlos Henrique Schroeder. Sua coluna quinzenal Milímetros na revista Pessoa demonstra também, a cada vez, seu talento narrativo, e jamais a deixo de ler.
Isso já vinha prefigurado (deixe-me chamar de promessa uma vez), nos excelentes textos memorialísticos e crônicas que Heringer publicava em sua página pessoal, como “O segredo de Cosme quem sabe é Damião”, “Por uma história universal da perna” e o ótimo “Terrúa: bilhete para Manuel Bandeira”, um dos textos mais bonitos que li sobre e durante os protestos de junho e julho de 2013.
“Manu, ontem eu vi a baleia. Lembra a tua baleia? Aquela tua crônica para o semifinado Jornal do Brasil, “A baleia gigante”. Pois então, ontem a vi. Foi de relance. Eu estava perto do palácio Guanabara, acompanhando um protesto dos moços e moças libertários, quando estourou um coquetel molotóve lá na fileira da tropa de choque e tiro & pedra para tudo quanto foi lado. Corri com a moçada e os jornalistas.” (Victor Heringer, “Terrúa: bilhete para Manuel Bandeira”, in Consideração e aviso, 24/07/2013)
Pesquisador obcecado pela história das ruas do Rio de Janeiro e também de Nova Friburgo, de onde vem sua família de imigrantes alemães, Heringer traz a sua prosa um conhecimento das ruas e seu léxico como se vê em poucos autores. Não se trata aqui de apostas canônicas, especialmente porque não acompanho a prosa contemporânea brasileira com a atenção que exijo de mim, como crítico e editor, ao acompanhar a poesia. Mas Glória foi um dos melhores romances brasileiros que li nos últimos tempos, escrito com elegância e inteligência, assim como creio ser um dos únicos trabalhos literários recentes a tratar de um fenômeno pujante da República: a ascenção dos cultos neopentecostais, na figura de uma das personagens da família Costa e Oliveira retratada no romance, o pastor Abel. Eu o chamaria de Aliosha dos trópicos, para referir-me a outra tríade de irmãos, se a personagem criada por Heringer não me parecesse mais perturbadora e despertasse em mim bem menos simpatia que meu irmão favorito no romance de Dostoiévski.
Além disso, ao contrário de certos autores da autopromocionada Geração 90, a cultura digital não comparece no livro apenas através de truques como a mímica de conversas tolas de janela de bate-papo, mas em uma tentativa inteligente de retratar como as redes sociais vêm transformando a maneira como as pessoas se relacionam. E o livro traz ainda vários quitutes para os que se interessam por certas estratégias da ficção contemporânea, como a metaficção, o livro dentro do livro, o autor real e o autor inventado, mas tudo narrado com verdadeiro prazer pel a linguagem, que é o que por fim me interessa. Victor Heringer tem verdadeiro talento para o picaresco e satírico, ligando-o a outros autores cariocas, como Manuel Antônio de Almeida (1831-1861) e Lima Barreto (1881-1922). Incluiria ainda o contemporâneo exato de Barreto, João do Rio (1881-1921), se a prosa de Victor Heringer não me parecesse bem mais enxuta que a do dândi carioca.
a linguagem, que é o que por fim me interessa. Victor Heringer tem verdadeiro talento para o picaresco e satírico, ligando-o a outros autores cariocas, como Manuel Antônio de Almeida (1831-1861) e Lima Barreto (1881-1922). Incluiria ainda o contemporâneo exato de Barreto, João do Rio (1881-1921), se a prosa de Victor Heringer não me parecesse bem mais enxuta que a do dândi carioca.
Seu último trabalho publicado, o conto-livro Lígia volta a esse terreno que mais é fronteira entre o trágico e o cômico, já que todo susto tem um pouco de riso. Os velhos imigrantes. As taras de Copacabana. As taras escondidas de Copacabana, pelas quais só alguns autores perambulam, como Nelson Rodrigues.
“O Sr. Mendes diz que não sonha desde que perdeu o olho direito. Era o direito que sabia sonhar. O esquerdo não viu tantas coisas terríveis, ele me disse uma vez. Nunca perguntei que coisas seu olho direito tinha visto. O que o esquerdo viu, eu sei: o Rio de Janeiro, a praia de Copacabana, Lígia.
A TV sempre ligada. Estamos sentados na sala, ele na cadeira de rodas, eu no sofá, assistindo novela. Lá fora, Copacabana vai baixando a noite. A cidade é como os velhos, não tem a sorte de morrer jovem. Vai crescendo, inchando, criando becos, caroços cancerígenos, avenidas, vielas, churrascarias. Uma hora, até os moradores mais antigos se perdem nela, como o Sr. Mendes se perde em mim.” [Victor Heringer, Lígia (e-galáxia, 2014)]
Sim, Victor Heringer dá seus sorrisos por nossas taras, escondidas enquando declaramos nossos votos secretos nas redes sociais da República. Foi anunciado há pouco que seu novo livro será outro romance, intitulado O amor dos homens avulsos. Em sua página pessoal, Victor Heringer pede a seus leitores que o informem sobre o nome do primeiro amor de cada um. É para o livro. Respondi há algum tempo, já não me lembro se digitei Erika ou Sara. A quem ainda não leu Glória ou Lígia, espero que este artigo sirva de recomendação entusiasmada. Era minha intenção.
Amantes perfeitos e aids: exposição
Está em cartaz na Fundação Suñol, de Barcelona, a exposição Amantes Perfeitos. Feita em colaboração com a organização ART AIDS, que se dedica a engajar artistas visuais na luta contra a epidemia, a exposição traz trabalhos clássicos de criadores que foram ativos e retrataram a luta contra o descaso do governo, contra a ignorância da sociedade, contra a covardia de muitos, desde a década de 80, vários deles tendo já sucumbido à síndrome.
Entre as peças bastante conhecidas está a releitura pelo coletivo General Idea de um quadro de Robert Indiana, transformando seu LOVE em AIDS, há fotografias de Peter Hujar (1934-1987), Robert Mapplethorpe (1946-1989) e Nan Goldin (n. 1953), assim como a delicada Untitled (Last Light), de Félix González-Torres (1957-1996). Na tarde em que estive na exposição, um visitante havia acabado de acidentalmente pisar em uma das lâmpadas, quebrando-a, o que, em minha opinião, acabou dando um ar de ainda maior fragilidade à peça, que já tematiza ela própria a fragilidade. A última sala traz Blue (1993), o belíssimo último filme de Derek Jarman (1942-1994), lançado apenas quatro meses antes de sua morte, também por complicações da aids. Como se sabe, o filme apresenta durante seus 75 minutos a tela completamente azul, apenas com o monólogo do pintor que, já cego por complicações advindas da síndrome, vendo apenas formas azuis oblíquas, narra sua vida e condição, em um texto que pode ser considerado um dos poemas mais assombrosos sobre o que a minha comunidade, a homossexual, chama de the plague. O catálogo traz o texto completo de Jarman, que mesmo impresso retém sua força.
 Uma descoberta para mim foi o trabalho do espanhol Pepe Espaliú (1955-1993), em especial o vídeo de sua performance Carrying (San Sebastián), de 1992, uma de suas últimas. Trata-se de uma performance, ms também de uma espécie de escultura social, coletiva, na qual Pepe Espaliú, já muito enfermo, descalço, é carregado por um grupo de pessoas que se revezam, pelas ruas de San Sebastián, em um momento no qual muita gente ainda tinha pavor de ter contato direto com pessoas vivendo (e morrendo) com o vírus. É uma performance comovente, poderosa.
Uma descoberta para mim foi o trabalho do espanhol Pepe Espaliú (1955-1993), em especial o vídeo de sua performance Carrying (San Sebastián), de 1992, uma de suas últimas. Trata-se de uma performance, ms também de uma espécie de escultura social, coletiva, na qual Pepe Espaliú, já muito enfermo, descalço, é carregado por um grupo de pessoas que se revezam, pelas ruas de San Sebastián, em um momento no qual muita gente ainda tinha pavor de ter contato direto com pessoas vivendo (e morrendo) com o vírus. É uma performance comovente, poderosa.
Seguindo o conceito da ART AIDS, a exposição traz também peças de quatro artistas contemporâneos, comissionadas para o evento: do americano Robert Gober (n. 1954), da catalã Eulàlia Valldosera (n. 1963), do holandês Willem de Rooij (n. 1969) e da israelense Keren Cytter (n. 1977), esta última, além de artista visual consagrada, também autora de poemas e romances como The Man Who Climbed the Stairs of Life and Found Out They Were Cinema Seats (2005). A exposição vale muito pela reflexão em um momento em que o número de novos casos sobe imensamente, pela oportunidade de ver peças clássicas da arte dos últimos 30 anos e pela força das peças novas, em especial a de Eulàlia Valldosera.
Em vários momentos imaginei peças do brasileiro Leonilson (1957-1993) em partes vazias da fundação, como teriam feito excelente companhia àquelas outras peças tão pungentes. Sempre me espanta que Leonilson não tenha ainda encontrado um amplo público internacional para sua obra, que certamente possui a mesma delicadeza lírica e conceitual de artistas conhecidíssimos, como González-Torres. A epidemia tirou-nos vários artistas no auge de sua criatividade, como o cenógrafo Flávio Império (1935-1985), o pintor Jorge Guinle Filho (1947-1987), o sociólogo, escritor e ativista Herbert Daniel (1946-1992), o violonista Raphael Rabello (1962-1995), o poeta e cantor Renato Russo (19960-1996), ou o prosador Caio Fernando Abreu (1948-1996).
Alguns deles nos deixaram relatos sobre a batalha, como foi o caso de Caio Fernando Abreu, nas suas Cartas para além dos muros, ou Jean-Claude Bernardet, em A doença, uma experiência (1996). Abreu voltaria à crise destrutiva em contos de Os dragões não conhecem o paraíso (1988) e Ovelha negra (1995), e Herbert Daniel foi o primeiro a trazer para a ficção uma personagem vivendo com a infecção, em Alegres e irresponsáveis abacaxis americanos (1987), como escreve o crítico Fernando Oliveira Mendes em seu seu ensaio “A Literatura encontra o vírus da aids” (Revista Itinerários, Araraquara, número 13, 1998). A epidemia faz também sua aparição em Uma história de família (1992), de Silviano Santiago, e Aberração (1993), de Bernardo Carvalho.
Com os novos tratamentos, as novas gerações parecem não perceber o horror que foi aquela época. Como disseram com palavras semelhantes duas mulheres que perderam muitos de seus amigos para a praga, a escritora Fran Lebowitz e a fotógrafa Nan Goldin, morria-se como se numa guerra. E o documentário How To Survive a Plague (2012), de David France, mostra o que foi a luta, numa guerra não apenas contra a doença, mas também contra o governo e a sociedade.
O catálogo da exposição Amantes perfeitos é dedicado a Joep Lange e Jacqueline van Tongeren, dois dos maiores especialistas na doença, que morreram na queda do voo da Malaysia Airlines sobre a Ucrânia. É possível que a organização ART AIDS esteja coberta de razão ao esperar que artistas (e escritores) tratem da praga que, por ignorância muitas vezes, segue matando mundo afora.
Sobre “Transformador”, antologia de Dirceu Villa
Eu poderia começar esse texto praguejando contra o estado dos cadernos de cultura dos grandes jornais brasileiros, pelo silêncio em torno da publicação de um livro como Transformador (São Paulo: Selo Demônio Negro, 2014), que reúne uma seleção considerável de 15 anos do trabalho poético de Dirceu Villa, assim como traduções suas para poetas como Horácio, Ovídio, Verlaine, Joyce e Brossa. Não deixaria de ser algo ao estilo do próprio autor, que lamenta há tempos o descaso por certa literatura não-comercial no jornalismo do país, que parece hoje tão afeito ao sensacionalismo quanto as colunas sociais – que, de resto, são hoje parte dos cadernos de cultura.
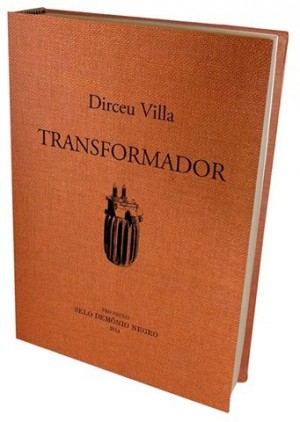 São 300 páginas, com textos de todos os seus livros publicados: MCMXCVIII (1998), Descort (2003) e Icterofagia (2008), assim como de seu próximo livro, couraça, ainda inédito. A edição, muito bonita, ficou mais uma vez a cargo de Vanderley Mendonça e seu Selo Demônio Negro, que já havia lançado em 2011 a tradução completa e anotada de Dirceu Villa para o Lustra de Ezra Pound (1885-1972). Pound é uma referência importante para o trabalho poético e crítico de Villa, sua preocupação com uma revisão atenta do cânone, seu apreço pela tradição poética, e suas máscaras, assumindo linguagens e poéticas múltiplas.
São 300 páginas, com textos de todos os seus livros publicados: MCMXCVIII (1998), Descort (2003) e Icterofagia (2008), assim como de seu próximo livro, couraça, ainda inédito. A edição, muito bonita, ficou mais uma vez a cargo de Vanderley Mendonça e seu Selo Demônio Negro, que já havia lançado em 2011 a tradução completa e anotada de Dirceu Villa para o Lustra de Ezra Pound (1885-1972). Pound é uma referência importante para o trabalho poético e crítico de Villa, sua preocupação com uma revisão atenta do cânone, seu apreço pela tradição poética, e suas máscaras, assumindo linguagens e poéticas múltiplas.
Uma leitura deste livro mostra claramente a variedade de formas que Dirceu Villa assume com talento e conhecimento, da métrica ao verso (dito) livre: há textos curtíssimos, excelentes poemas satíricos, como “façam suas apostas”, um dos meus favoritos dos últimos tempos, textos com uma imagética brutal, como “O cutelo”, e poemas mais longos e narrativos, como “Três histórias douradas”. Há textos que deveriam pegar qualquer leitor de forma direta e imediata, mas trata-se também, em grande parte, de leitura que requer atenção, algo de que nosso tempo parece nos privar cada vez mais.
Dirceu Villa é um dos autores mais sérios de minha geração. Suas contribuições nos últimos anos começaram a ter mais atenção com a publicação de Lustra, que foi devidamente saudada. Este Transformador nos dá a oportunidade de ler em um único volume grande parte de sua contribuição pessoal, a de sua poesia. Em português, o título pode funcionar tanto como adjetivo ou substantivo. Para transformar algumas de nossas ideias, precisa ser lido, conhecido, feito um dispositivo destinado a transmitir energia de um circuito a outro, do autor ao nosso como leitores, induzindo tensões e correntes.
Nota sobre literatura e consciência negra
Milhares de jovens negros assassinados no Brasil a cada ano. Rafael Braga Vieira ainda preso, por porte de desinfetante. Ao escrever este texto, o poeta Ederval Fernandes, de Feira de Santana, me envia a notícia de outro caso de esquartejamento de um jovem negro na cidade, ocorrido ontem (23/11). Mas este é um blog destinado a discutir literatura. E o que pode a literatura contra a barbárie?
No dia 20 de novembro, comemorou-se o Dia da Consciência Negra no Brasil. A data, como se sabe, foi escolhida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro de 1695, quando foi encurralado por Furtado de Mendonça, meses depois da invasão e destruição do Quilombo dos Palmares por Domingos Jorge Velho. Seguindo o costume, Zumbi foi degolado e sua cabeça exibida como troféu de guerra, como mais tarde seria feito com Antônio Conselheiro e Virgulino Ferreira, o Lampião. Da Colônia à República, há certas invariáveis na equação da História do Brasil.
No fim dos anos 1990, quando jornais pelo mundo começaram a publicar suas listas dos grandes autores do século, não foram poucas as polêmicas sobre a ausência nelas de autores não-brancos. No Brasil, já se chegou a dizer que não temos este problema, já que vários dos nossos maiores autores, como Machado de Assis (1839-1908) e Lima Barreto (1881-1922), eram mulatos ou negros.
Quando pensamos na literatura brasileira do Império e da Primeira República, é visível a presença marcante de intelectuais negros, em uma época ainda escravagista ou imediatamente posterior à abolição da escravatura. Machado de Assis, Cruz e Sousa, Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças e Lima Barreto estão entre as figuras essenciais e imprescindíveis da cultura brasileira do século 19 e início do 20.
Pessoalmente, sempre penso em como uma parte considerável da melhor literatura brasileira no século 19 foi produzida por cidadãos à margem: o louco Qorpo-Santo, o filho de escravos Cruz e Sousa, o homossexual Raul Pompeia, o quase anônimo Joaquim José da Silva, que conhecemos como Sapateiro Silva, autor de alguns dos maiores poemas satíricos do país ao lado de Luiz Gama.
No entanto, na história oficial da literatura brasileira, especialmente do Grupo de 22 em diante, esta visibilidade da presença negra na produção literária desaparece. Conhecemos a representação dos brasileiros negros em quadros de Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, em poemas de Jorge de Lima e Mario de Andrade, nos romances de Jorge Amado, mas o que houve com a visibilidade da produção de artistas e escritores negros no período? Seria de se esperar que essa visibilidade aumentasse quanto mais nos afastássemos do período escravagista, mas não é o que houve. Poetas como Solano Trindade (1908-1974), apesar de trabalharem com a tradição cultural afrobrasileira com a mesma qualidade de outros modernistas brancos, não são mencionados com frequência, nem mesmo quando a temática está sendo discutida.
Olorum Ekê
Solano Trindade
Olorum Ekê
Olorum Ekê
Eu sou poeta do povo
Olorum Ekê
A minha bandeira
É de cor de sangue
Olorum Ekê
Olorum Ekê
Da cor da revolução
Olorum Ekê
Meus avós foram escravos
Olorum Ekê
Olorum Ekê
Eu ainda escravo sou
Olorum Ekê
Olorum Ekê
Os meus filhos não serão
Olorum Ekê
Olorum Ekê
E é possível que apenas preconceitos de ordens várias nos impeçam de ver em Angenor de Oliveira, o Cartola, um dos poetas mais elegantes do nosso modernismo, assim como Geraldo Filme, outro grande poeta do samba. Concentrando-me em poesia e literatura, e portanto sem mencionar intelectuais importantes do pós-guerra como Milton Santos e Abdias do Nascimento: como falar da poesia brasileira do mesmo período sem atentar para a inegável densidade poética dos textos de Itamar Assumpção e para a qualidade do trabalho de Adão Ventura?
Natal
Adão Ventura
um natal lerdo
num lençol de embira
mesmo qu’uma fonte
de estimada ira.
um menino lama
num anzol que fira
algum porte e corpo
e alma de safira.
um menino cápsula
de tesoura e crime
— ritual de crisma
sem fé ou parafina.
um menino-corpo
de machado e chão
a arrastar cueiros
de chistes e trovão.
Nos últimos anos, uma das descobertas que me fascinaram, como leitor e escritor, foi o trabalho de Stela do Patrocínio, que passou anos internada na Colônia Juliano Moreira, assim como Arthur Bispo do Rosário, e que chegou a nós graças ao trabalho de gravação de suas falas por Neli Gutmacher e de transcrição por Viviane Mosé, publicado no volume Reino dos bichos e dos animais é o meu nome (Rio de Janeiro: Azougue, 2002). Sei que para alguns é complicado discutir este trabalho como literatura, mas eu, pessoalmente, venho encontrando muito prazer e estímulo nele.
Todos estes autores aqui mencionados, de Cruz e Sousa a Adão Ventura, são escritores que leio por sua qualidade estética em primeiro lugar. Mas por que uma discussão sobre o contexto social e político em que viveram, a barbárie contra a qual escreveram e como isso afetou suas vidas e produção turvaria a visão de sua qualidade estética?
Este debate precisa ser empreendido no Brasil antes de dizermos que não temos este problema porque um de nossos maiores escritores, Machado de Assis, era mulato e recebeu honras em vida. A polêmica em torno da lista de convidados para a Feira do Livro de Frankfurt em 2013 trouxe novamente a questão para um foro mais amplo, e espera-se que o debate tome cada vez mais força.
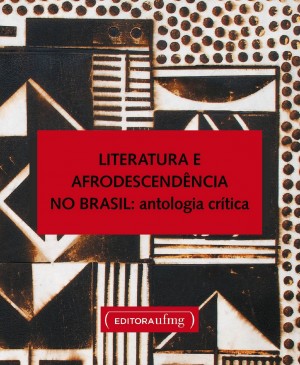 O romancista e poeta Paulo Lins é hoje um dos escritores brasileiros mais conhecidos no exterior. Outros autores negros estão produzindo hoje no país boa literatura, como Sebastião Nunes, que considero um dos maiores poetas brasileiros vivos. Ana Maria Gonçalves publicou um livro que vem sendo saudado como um marco na literatura contemporânea, Um defeito de cor (2006). A poesia e a performance no Brasil têm hoje em Ricardo Aleixo uma referência incontornável. E precisamos todos ler e acompanhar os trabalhos de Edimilson de Almeida Pereira, Miriam Alves, Leo Gonçalves, Marcelo Ariel e Renato Negrão, entre outros. Uma recomendação de leitura que faria, eu próprio tendo muito ainda que aprender e descobrir, é Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica, em quatro volumes, organizada por Eduardo de Assis Duarte, que discute vários dos autores aqui mencionados, entre vários outros.
O romancista e poeta Paulo Lins é hoje um dos escritores brasileiros mais conhecidos no exterior. Outros autores negros estão produzindo hoje no país boa literatura, como Sebastião Nunes, que considero um dos maiores poetas brasileiros vivos. Ana Maria Gonçalves publicou um livro que vem sendo saudado como um marco na literatura contemporânea, Um defeito de cor (2006). A poesia e a performance no Brasil têm hoje em Ricardo Aleixo uma referência incontornável. E precisamos todos ler e acompanhar os trabalhos de Edimilson de Almeida Pereira, Miriam Alves, Leo Gonçalves, Marcelo Ariel e Renato Negrão, entre outros. Uma recomendação de leitura que faria, eu próprio tendo muito ainda que aprender e descobrir, é Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica, em quatro volumes, organizada por Eduardo de Assis Duarte, que discute vários dos autores aqui mencionados, entre vários outros.
E encerro com um fragmento de texto de Ricardo Aleixo:
“Sou o que quer que você pense que um negro é. Você quase nunca pensa a respeito dos negros. Serei para sempre o que você quiser que um negro seja. Sou o seu negro. Nunca serei apenas o seu negro. Sou o meu negro antes de ser seu. Seu negro. Um negro é sempre o negro de alguém. Ou não é um negro, e sim um homem. Apenas um homem. Quando se diz que um homem é um negro o que se quer dizer é que ele é mais negro do que propriamente homem. Mas posso, ainda assim, ser um negro para você. Ser como você imagina que os negros são. Posso despejar sobre sua brancura a negrura que define um negro aos olhos de quem não é negro. O negro é uma invenção do branco. Supondo-se que aos brancos coube o papel de inventar tudo o que existe de bom no mundo, e que sou bom, eu fui inventado pelos brancos. Que me temem mais que aos outros brancos. Que temem e ao mesmo tempo desejam o meu corpo proibido. Que me escalpelariam pelo amor sem futuro que nutrem à minha negrura. Eu não nasci negro. Não sou negro todos os momentos do dia. Sou negro apenas quando querem que eu seja negro. Nos momentos em que não sou só negro sou alguém tão sem rumo quanto o mais sem rumo dos brancos. Eu não sou apenas o que você pensa que eu sou.”








Feedback