Na morte de Manoel de Barros
Jamais havia escrito sobre Manoel de Barros (1916 – 2014), poeta cuiabano que morreu nesta quinta-feira (13/11) no Brasil, até preparar um obituário para a página de cultura da DW Brasil (“Aos 97 anos, morre o poeta Manoel de Barros”, DW, 13/11). É triste, e uma sensação estranha, escrever sobre um poeta pela primeira vez quando ele morre. Pesa na consciência a possível injustiça. Mas Manoel de Barros foi o poeta brasileiro mais popular das últimas três décadas, lançando livros com tiragens surpreendentes, quando se trata de poesia, e tinha uma legião de leitores apaixonados. Parecia-me importante usar o espaço para falar sobre outros bons poetas que não recebiam qualquer atenção, ou estavam completamente esquecidos.
 Ao mesmo tempo, lembro-me de uma conversa que tive com o poeta gaúcho Marcus Fabiano Gonçalves no ano passado no Rio de Janeiro, em que ele alertava para o fato de que nossa geração precisava ler Manoel de Barros com mais atenção, e que alguém precisava debruçar-se sobre o trabalho dele de forma crítica, para tirá-lo da narrativa de manchetes de jornal que o havia enclausurado: “poeta do Pantanal”, “poeta ecológico”, “poeta de fala infantil”. O próprio Marcus Fabiano Gonçalves dedicou a Manoel de Barros o obituário mais bonito que li ontem, com um texto crítico que aponta para as qualidades do trabalho do cuiabano, e tive o prazer de poder publicar o texto na revista que co-edito (“Vareios do dizer: o idioleto manoelês archaico”, Revista Modo de Usar & Co., 13/11). Em seu texto, o poeta gaúcho chama a atenção especialmente para a simplicidade “enganosa” da linguagem de Manoel de Barros, e friso aqui, nas palavras de Marcus Fabiano Gonçalves, o “acordo sempre tenso e muitíssimo negociado entre os registros da tradição erudita, as falas indígenas e as gambiarras de ouro do povo-inventalínguas”.
Ao mesmo tempo, lembro-me de uma conversa que tive com o poeta gaúcho Marcus Fabiano Gonçalves no ano passado no Rio de Janeiro, em que ele alertava para o fato de que nossa geração precisava ler Manoel de Barros com mais atenção, e que alguém precisava debruçar-se sobre o trabalho dele de forma crítica, para tirá-lo da narrativa de manchetes de jornal que o havia enclausurado: “poeta do Pantanal”, “poeta ecológico”, “poeta de fala infantil”. O próprio Marcus Fabiano Gonçalves dedicou a Manoel de Barros o obituário mais bonito que li ontem, com um texto crítico que aponta para as qualidades do trabalho do cuiabano, e tive o prazer de poder publicar o texto na revista que co-edito (“Vareios do dizer: o idioleto manoelês archaico”, Revista Modo de Usar & Co., 13/11). Em seu texto, o poeta gaúcho chama a atenção especialmente para a simplicidade “enganosa” da linguagem de Manoel de Barros, e friso aqui, nas palavras de Marcus Fabiano Gonçalves, o “acordo sempre tenso e muitíssimo negociado entre os registros da tradição erudita, as falas indígenas e as gambiarras de ouro do povo-inventalínguas”.
É também muito difícil falar de um autor com 70 anos de carreira, com dezenas de livros, quando apenas a parte tardia de sua obra é melhor conhecida. Outro poeta do Rio Grande do Sul, Marcelo Noah, chamou a atenção nas redes sociais para o fato de que Manoel de Barros, uma das últimas testemunhas de tantas conturbações históricas e explosões artísticas no Brasil do século 20, publicou seu primeiro livro em 1937, quando “Ary Barroso ainda não havia nem pintado sua Aquarela do Brasil, Jorge Amado lançava seus Capitães de Areia, Noel Rosa estava sendo velado no Caju. Carmen [Miranda] nem cogitava equilibrar ‘Bananas da terra’ sobre o cocuruto e Raízes do Brasil [livro de Sérgio Buarque de Holanda] estava na primeira edição. Drummond chutava pedras pelo caminho, Cacilda Becker era uma menina de 16 anos e Getúlio Vargas estava implantando o Estado Novo em um país que ainda contava 40 milhões de habitantes”.
Como escrevi no obituário da DW, Manoel de Barros surgiu e foi contemporâneo de poetas e escritores como Vinícius de Moraes, Lúcio Cardoso, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes e Henriqueta Lisboa, da segunda geração modernista. Mas com seu primeiro livro [Poemas concebidos sem pecado] tendo uma tiragem de 20 exemplares, e os seguintes sendo lançados fora dos centros de concentração e difusão de informação no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, sua obra permaneceu por décadas à margem, desconhecida, como continua sendo o caso de outros bons poetas, como o paraense Max Martins (1926 – 2009), ou, hoje mesmo, o fluminense Leonardo Fróes (n. 1941), por viver algo isolado na serra de Petrópolis, mesmo que a um pulo do Rio de Janeiro.
E foi a partir do Rio de Janeiro, com artigos de Millôr Fernandes, que o poeta que sempre viveu entre Cuiabá e Campo Grande foi “descoberto” pelo resto do país, tornando-se o poeta mais lido no Brasil a partir dos anos 1990, especialmente com O livro das ignorãças (1993) e Livro sobre nada (1996).
Certos artistas, por características de sua obra e também por sua pessoa, tendem a gerar nos admiradores uma atitude reverente, e quando morrem, acabam recebendo homenagens que beiram a hagiografia. Um exemplo, aqui na Alemanha, é a coreógrafa e dançarina Pina Bausch (1940 – 2009), tratada por vezes como se não tivesse sido uma mulher de carne e osso, mas uma espécie de entidade. Sinto um pouco disso no tratamente que se deu, e agora na hora de sua morte, se dá a Manoel de Barros.
Manoel de Barros foi e é um poeta importante, tanto por questões literárias como extraliterárias. Em minha opinião, ele teve, por exemplo, um papel muito marcante na formação de um público leitor de poesia a partir da década de 1980. É claro que a cena literária, especialmente a de poesia, é habitada por criaturas muito esquisitas, que reclamam da falta de leitores mas, quando um poeta se torna demasiado popular, apressam-se a acusá-lo de fazer concessões ou de “ser fácil”, esse “pecado” literário. É como aqueles adolescentes que só gostam de uma banda até ela entrar nas paradas de sucesso. Como, especialmente nas últimas décadas, a obra de Manoel de Barros possuía o que já chamei acima de “simplicidade enganosa”, que Marcus Fabiano Gonçalves destrinçou bem, a armadilha estava armada.
Eu próprio, é honesto dizer aqui, não tive em Manoel de Barros uma referência pessoal decisiva na minha formação. Eu o li na década de 90, mas não sinto que a leitura tenha deixado marcas, ao menos visíveis, no meu trabalho. E, ao deixar o Brasil em 2002, também deixei de o ler. Mas sempre acreditei que ele teve um papel importante também para arejar a poesia brasileira na década de 90, muito marcada pelos ditames do antilirismo a partir de uma leitura algo equivocada, ou pelo menos “bitolada”, das obras de João Cabral de Melo Neto e Augusto de Campos. Este arejamento também foi fruto da redescoberta de dois outros poetas importantes, Hilda Hilst (1930 – 2004) e Roberto Piva (1937 – 2010), este último nascido no ano em que Manoel de Barros lançava seu primeiro livro, para adicionar à lista de Marcelo Noah.
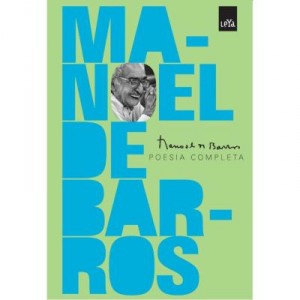 Foi só com o lançamento de sua Poesia Completa em 2010, em uma viagem ao Brasil, que revisitei sua poesia. E o li com outros olhos, mais livres, estando eu mais velho também. É questão de idade e personalidade: quando ainda jovem combativo, eu me sentia mais em sintonia com os trabalhos escancaradamente iconoclastas de Hilst e Piva. Sua sexualidade desbragada, seus uivos diante da cruz. Não podia à época, talvez, perceber a força, mesmo política, do candor de Manoel de Barros.
Foi só com o lançamento de sua Poesia Completa em 2010, em uma viagem ao Brasil, que revisitei sua poesia. E o li com outros olhos, mais livres, estando eu mais velho também. É questão de idade e personalidade: quando ainda jovem combativo, eu me sentia mais em sintonia com os trabalhos escancaradamente iconoclastas de Hilst e Piva. Sua sexualidade desbragada, seus uivos diante da cruz. Não podia à época, talvez, perceber a força, mesmo política, do candor de Manoel de Barros.
Muito preocupado com inovação e com o trabalho a ser feito por minha geração, sentia que o que podia aprender com o cuiabano já havia encontrado em Murilo Mendes e João Guimarães Rosa, mas hoje percebo que isso foi um equívoco. É certo, ainda acredito, que estes dois foram precursores de Manoel de Barros, que eles pertencem a uma estética irmanada. Não é à toa que nos Estados Unidos, onde uma antologia de Manoel de Barros foi lançada em 2010 [Birds for a demolition, tradução de Idra Novey], alguns críticos se referiram à sua poesia como surrealista. Não é absurda a referência, ainda que seja parte do hábito eurocêntrico de buscar antecedentes europeus para um poeta do subúrbio do mundo. Mas hoje nós sabemos que aquilo que alimenta esta poética, seja a do surrealista francês Paul Éluard ou a do brasileiro Murilo Mendes, que usou algumas destas técnicas, pode ser encontrada em poesias de outras partes do mundo, ou mesmo mais antigas na Europa, tal como nos mostraram poetas-críticos como Jerome Rothenberg, um dos formuladores da etnopoesia, compilando antologias que põem, lado a lado, a obra dos poetas experimentais das vanguardas europeias e a de poetas ameríndios, africanos, asiáticos, de culturas tradicionais, demonstrando como nosso conceito de “novo” é, muitas vezes, louco. Ou apenas ignorante.
Manoel de Barros sempre se referiu ao imagético quando falava de seu trabalho. Seria possível dizer que sua poesia é marcada pela fanopeia, para usar a expressão de Ezra Pound para poéticas baseadas na imagem. Manoel de Barros chamou seu “ser letral”, o dos livros, de “fruto de uma natureza que pensa por imagens”, e que “imagens são palavras que nos faltaram”. Manoel de Barros operava menos por metáforas dissonantes que por simples operações de desvio sintático. Como no verso de Murilo Mendes, um de meus favoritos: “O céu cai das pombas”. Mas, em Manoel de Barros, há um trabalho distinto, muito particular, de embaralhar os sentidos, numa linguagem sinestésica, atribuindo ao olfato o que consideramos trabalho da visão, e à visão, o que legamos apenas ao tato, empregando verbos para ações e agentes separados por causa e consequência realistas, como nos versos “Como pegar na voz de um peixe” e “eu escuto a cor dos passarinhos”. Mas é importante dizer que há também um trabalho de pensamento muito sutil em sua poesia, ou, para usar um termo “técnico”, logopeia.
Nós poderíamos falar aqui tanto do conceito de jogo de linguagem de Wittgenstein como das tarefas de casa do Primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade (1927) e dos versos sinestésicos de Raul Bopp em Cobra Norato (1928). E sua atenção para o misterioso poder metafórico da fala popular era distinto do que vemos em Guimarães Rosa, até mesmo por questões geográficas, Rosa sendo um homem do Sertão mineiro, e Barros, do encontro entre o Cerrado e o Pantanal, regiões com formações étnicas, línguísticas e sociais particulares.
A importante obra de Manoel de Barros é vasta e permanece. Haveria muita coisa que eu gostaria ainda de discutir, tendo me concentrado na sua obra dos anos 1990 em diante. Talvez influenciado por minhas leituras recentes de Claude Lévi-Strauss e Eduardo Viveiros de Castro, gostaria muito de pensar mais a respeito, voltar à obra de Manoel de Barros e, no futuro, discutir o que Marcus Fabiano Gonçalves chamou de “deliberada injeção de sentidos antropomórficos na natureza”, a partir das relações entre totemismo e animismo, e do conceito de perspectivismo ameríndio. Talvez possamos até mesmo descobrir implicações políticas novas no trabalho do poeta cuiabano. Também seria interessante falar sobre a relação entre Manoel de Barros e seu amigo Bernardo, que por vezes me lembra a de Rumi e Shams de Tabriz. Mas escrevo no calor da hora. Enquanto escrevo este texto, o poeta ainda está sendo velado por sua família no Brasil.
Tenho amigos que acreditam que perdemos o maior poeta do país. Não consigo pensar mais dessa forma. Iniciamos este milênio contando ainda com a presença de inúmeros poetas importantes, diferentes como são diferentes entre si quaisquer pessoas. Vários já nos deixaram desde então, como Haroldo de Campos, Waly Salomão, Hilda Hilst, Roberto Piva, Décio Pignatari e, agora, Manoel de Barros. Mas há outros, escondidos, ou apenas ainda jovens, e precisamos estar atentos para que não sejam descobertos apenas com 60 anos, como Manoel, ou recebam textos de apreciação apenas quando já mortos. E possamos conviver por um tempo com a pessoa e a obra.
25 anos da Queda do Muro
 No último final de semana, comemorou-se em Berlim o vigésimo-quinto aniversário da Queda do Muro. Milhares de pessoas foram às ruas, caminharam ao longo do muro que já não existe, visitaram pedaços remanescentes e apinharam o Portão de Brandemburgo para a festa. A cidade esteve um pouco caótica. Há dias, estavam em greve os funcionários da empresa ferroviária alemã Deutsche Bahn. A cidade provavelmente estaria ainda mais cheia, se mais turistas houvessem conseguido chegar a ela.
No último final de semana, comemorou-se em Berlim o vigésimo-quinto aniversário da Queda do Muro. Milhares de pessoas foram às ruas, caminharam ao longo do muro que já não existe, visitaram pedaços remanescentes e apinharam o Portão de Brandemburgo para a festa. A cidade esteve um pouco caótica. Há dias, estavam em greve os funcionários da empresa ferroviária alemã Deutsche Bahn. A cidade provavelmente estaria ainda mais cheia, se mais turistas houvessem conseguido chegar a ela.
Quando criança, lembro-me de minha mãe tentando me explicar que havia uma cidade na Europa com um muro no meio, e que parentes e amigos não podiam visitar uns aos outros, nem viajar. Aquilo me parecia incompreensível e horroroso. É claro que era pequeno demais para compreender os muros invisíveis que separavam meu próprio país. A Alemanha era um lugar perigoso, onde houve campos de concentração, guerras enormes e pessoas vivendo dos dois lados de um muro. Lembro também de minha mãe tentando me explicar a Shoah a partir de um filme na televisão, e eu pequeno demais para entender que o meu país também tinha o seu genocídio, ainda em andamento.
Nem sonhava que um dia viveria em Berlim. E lá se vão agora 12 anos, já. Este ano de 2014 parece ser cheio de implicações tanto para o Brasil como para a Alemanha. Comemorações e rememorações. Há 25 anos, caía o muro de Berlim. Há 25 anos, os brasileiros votavam pela primeira vez após décadas de ditadura. Uma ditadura de direita se encerrava no Brasil, uma ditadura de esquerda se encerrava na Alemanha.
As literaturas dos dois países passaram então por um período em que alguns tentavam lidar com este passado recente, outros queriam seguir em frente e abandonar as exigências de engajamento político das últimas décadas. Na Alemanha, surgem escritores como o romancista Rainald Goetz, escrevendo sobre a Berlim hedonista daqueles anos, novamente a capital dos clubes noturnos, como fora dos cabarés na década de 1920. Ou o poeta Durs Grünbein, que logo cairia em um neoclassicismo inócuo, como o que se viu em alguns poetas brasileiros da década de 90. No Brasil, ocorre um estranho divórcio entre a prosa e a poesia, que parecem dar-se as costas, diferente de outros períodos, em que as pesquisas de prosadores e poetas pareceram muito mais próximas.
Tentei celebrar ontem, e é claro que me sinto muito feliz com a Queda do Muro. É provável que nem vivesse em Berlim se isso não tivesse ocorrido, e conheço criaturas gloriosas, amigos adorados, que talvez nem tivessem nascido sem isso, fruto que são das migrações que ocorreram depois da Reunificação da Alemanha. Moro muito perto da ponte na Bornholmer Strasse, o primeiro portão que cedeu e se abriu naquela noite de 9 de novembro de 1989. Mas confesso que não consegui vencer a preguiça do frio sequer para ir e cruzar simbolicamente a ponte. Fiquei em casa, lendo alguns poetas alemães, assistindo a cenas da Queda no computador, e pensando nos anos 1990, aquela década de propaganda política irrefreável, sobre a grande vitória do Capitalismo. Como o capitalismo era bom e melhor, já que a História agora até provava isso com o colapso do Bloco Socialista. Nós vencemos! Mas… nós quem, cara pálida?
Parabéns, Berlim. Estou feliz. Afinal de contas, ick bin een Berlina.
Passagem pela Holanda
Estive esta última semana na Holanda, onde participei de dois eventos literários. Trata-se de um país com uma intensa relação histórica com o Brasil por causa das Invasões Holandesas do século 17, quando os Países Baixos ocuparam, com a Companhia das Índias Ocidentais, cidades como Salvador, Recife e Olinda, permanecendo por décadas no território e deixando fortes marcas na região. Com o pagamento de reparações por Portugal aos Países Baixos previstas na chamada Paz de Haia em 1661, encerra-se a presença oficial holandesa no território. Quem se lembra hoje de Maurício de Nassau e de que Recife já foi Mauritsstad, a capital da Nova Holanda?
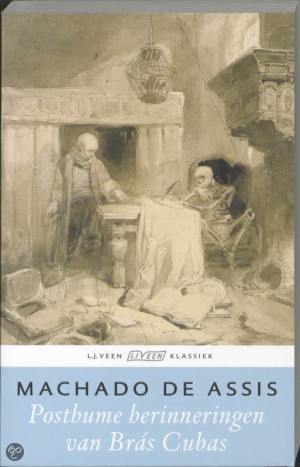 Seria de se esperar que tivéssemos uma relação um pouco mais forte com a cultura da Holanda por esta questão histórica, mas nossa identificação com os primeiros invasores europeus, os portugueses, ainda fala mais alto. Fala, especialmente, através da nossa língua comum. É, portanto, natural que nos identifiquemos com Luís de Camões (1524–1580), e não com seu contemporâneo exato Dirck Volckertszoon Coornhert (1522–1590). Nem tiveram seu impacto os escritores contemporâneos à presença holandesa no Brasil, como o poeta e dramaturgo Pieter Corneliszoon Hooft (1581–1647), a poeta lírica Tesselschade (1594–1649), o poeta satírico Constantijn Huygens (1596–1687) ou aquele que é considerado um dos poetas e dramaturgos mais importantes do século 17, Joost van den Vondel (1587–1679). A relação de caráter colonial da Holanda se dá com mais força com a Indonésia, onde permaneceram por muito mais tempo.
Seria de se esperar que tivéssemos uma relação um pouco mais forte com a cultura da Holanda por esta questão histórica, mas nossa identificação com os primeiros invasores europeus, os portugueses, ainda fala mais alto. Fala, especialmente, através da nossa língua comum. É, portanto, natural que nos identifiquemos com Luís de Camões (1524–1580), e não com seu contemporâneo exato Dirck Volckertszoon Coornhert (1522–1590). Nem tiveram seu impacto os escritores contemporâneos à presença holandesa no Brasil, como o poeta e dramaturgo Pieter Corneliszoon Hooft (1581–1647), a poeta lírica Tesselschade (1594–1649), o poeta satírico Constantijn Huygens (1596–1687) ou aquele que é considerado um dos poetas e dramaturgos mais importantes do século 17, Joost van den Vondel (1587–1679). A relação de caráter colonial da Holanda se dá com mais força com a Indonésia, onde permaneceram por muito mais tempo.
No Brasil, o período geraria a fantasia histórica de Paulo Leminski em seu romance experimental Catatau (1975), no qual imagina a vinda de René Descartes ao Brasil, já que este serviu na Holanda sob Maurício de Nassau, caso tivesse ingressado na Companhia das Índias Ocidentais.
A ignorância, obviamente, é mútua, uma vez mais pela barreira da língua e por outras barreiras de natureza e mentalidade colonialistas. O grande tradutor holandês da literatura brasileira, August Willemsen (1936–2007), fez aportar na Holanda os maiores trabalhos de Machado de Assis, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade e João Guimarães Rosa, mas tampouco logrou fazer deles nomes conhecidíssimos como outros contemporâneos nórdicos. Mas suas traduções de Drummond, por exemplo, são ainda facilmente encontráveis e estão em catálogo.
 O mesmo não se pode dizer, no Brasil, de poetas holandeses modernos, como Martinus Nijhoff (1894–1953) ou J. Slauerhoff (1898–1936). A chamada “Grande Tríade” da literatura holandesa do pós-guerra – Harry Mulisch (1927–2010), Willem Frederik Hermans (1921–1995) e Gerard Reve (1923–2006) – é bem pouco ou nada conhecida no Brasil, com a exceção de Mulisch. O jovem tradutor brasileiro Daniel Dago está trabalhando em traduções de holandeses para o português, como Louis Couperus (1863-1923) e Carry van Bruggen (1881–1932). Uma obra monumental holandesa disponível hoje no Brasil é O Outono da Idade Média (1919), de Johan Huizinga (1872–1945), em uma muito bem cuidada edição da Cosac Naify.
O mesmo não se pode dizer, no Brasil, de poetas holandeses modernos, como Martinus Nijhoff (1894–1953) ou J. Slauerhoff (1898–1936). A chamada “Grande Tríade” da literatura holandesa do pós-guerra – Harry Mulisch (1927–2010), Willem Frederik Hermans (1921–1995) e Gerard Reve (1923–2006) – é bem pouco ou nada conhecida no Brasil, com a exceção de Mulisch. O jovem tradutor brasileiro Daniel Dago está trabalhando em traduções de holandeses para o português, como Louis Couperus (1863-1923) e Carry van Bruggen (1881–1932). Uma obra monumental holandesa disponível hoje no Brasil é O Outono da Idade Média (1919), de Johan Huizinga (1872–1945), em uma muito bem cuidada edição da Cosac Naify.
Com a ajuda de meu amigo Emanuel John, jovem alemão que trabalhou em sua tese em Filosofia na Holanda, traduzi alguns poemas curtos de Gerard Reve, autor por quem desenvolvi especial admiração dentro da literatura holandesa contemporânea.
Poema para o Doutor Trimbos
Gerard Reve
“Vinho barato, masturbação e cinema,”
escreve Céline.
O vinho acabou, não há cinemas aqui.
A existência torna-se tão monocórdica.
(tradução de Ricardo Domeneck & Emanuel John)
§
Pequeno relatório de viagem
Amsterdã: cheguei à Holanda por Amsterdã, onde fiz uma leitura na livraria e editora Perdu, a convite do jovem poeta holandês Frank Keizer, diretor da coleção de poesia contemporânea da editora, que aceitou a recomendação de meu tradutor holandês, o poeta Bart Vonck, e publicará uma antologia de minha poesia em junho de 2015. Frank Keizer é um dos jovens poetas europeus mais antenados que conheço, dedicando atenção não apenas à poesia moderna e europeia, mas trazendo para as editoras em que trabalha autores contemporâneos como os americanos Ron Halpern e Chris Kraus, ou, além de minha poesia no ano que vem, também a do argentino Martín Gambarotta e a da alemã Monika Rinck. O espaço é muito bonito, e tive a oportunidade de conhecer outros jovens poetas holandeses, como Maarten van der Graaff, Hannah van Binsbergen e Samuel Vriezen. Um jovem poeta holandês com quem tenho me correspondido, mas ainda não tive a chance de conhecer, é Martijn den Ouden.
Poema
Martijn den Ouden
na escuridão sinto samambaias sob as solas dos pés
ramas
solo solto
grama
asfalto
grama
grade
grama
asfalto
solo solto
ramas
samambaias
eu jamais – olhos fechados e descalço – cruzara uma estrada
como essa
(tradução minha)
§
Maastricht: minha vinda à Holanda se deu especialmente a convite do poeta holandês Bas Belleman (n. 1978), curador das Maastricht International Poetry Nights, onde li ao lado de Ulf Karl Olof Nilsson (n. 1965), um dos mais importantes poetas contemporâneos da Suécia, de Afrizal Malna (Indonésia, 1957), de Nick Laird (n. 1975), uma das estrelas da poesia contemporânea britânica, e também da interessante poeta francófona belga Anne Penders (n. 1968), além dos importantes poetas holandeses K. Schippers (n. 1936) e Pieter Boskma (n. 1956), entre vários outros.
§
Utrecht: minha última cidade nesta passagem pela Holanda, vim a Utrecht a convite do escritor e tradutor americano Benjamin Moser, o biógrafo de Clarice Lispector, que vive na cidade há vários anos. Aqui, pude ver sua incrível coleção de primeiras edições de romances brasileiros, como a cópia de Grande Sertão: Veredas (1956) que João Guimarães Rosa dedicou a José Lins do Rego, além de cópias das primeiras edições de Os sertões (1902), de Euclides da Cunha, Macunaíma (1928), de Mário de Andrade, e Crônica da Casa Assassinada (1959), de Lúcio Cardoso, entre várias outras preciosidades.
Mas o documento que mais me impressionou e me deixou em petição de miséria foi a última carta conhecida de Clarice Lispector, datada de 20 de novembro de 1977, duas semanas antes de morrer, a uma amiga em São Luís do Maranhão, na qual discute sua visita próxima (que não aconteceria, por sua morte a 9 de dezembro), na qual comenta seus problemas de saúde mas diz poder seguir viagem logo, pois já estava “quase boa”. Quando cheguei a esta frase, tremi. Talvez aquela famosa convalescença e recuperação enganosas logo antes de morrer, aquele último ato desesperado de luta do corpo antes de entregar-se? Os pelos subiram ao ler este “estou já quase boa”, dias antes de morrer.
Lembrem-se: estamos todos já quase bons.
Status: em uma relação complicada com escritores mais velhos
Todo jovem escritor chega a uma tradição e uma cena literária em que autores mais velhos já estabeleceram suas obras e funcionam muitas vezes como catalisadores ou bloqueadores de novos talentos, dependendo de suas inclinações.
Quem leu a correspondência deles sabe o quanto Carlos Drummond de Andrade lucrou por sua amizade com Manuel Bandeira e Mário de Andrade. No âmbito internacional, já se escreveu muito sobre a transformação pela qual passou a obra de W.B. Yeats ao tomar contato com Ezra Pound. Elizabeth Bishop manteve contato com Marianne Moore, que a encorajou, e por sua vez ela mesma veio a encorajar Robert Lowell. Os exemplos são inúmeros. Nem sempre a relação deixa de ter seus percalços, mesmo se amistosa no início, como vemos nas anedotas de Gertrude Stein e Sherwood Anderson sobre Ernest Hemingway, a quem ajudaram no começo e mais tarde preferiram ter dele apenas distância.
No Brasil, há uma legião, por exemplo, de quinquagenários que ainda se veem como enfants terribles. Se não pega muito bem para um escritor que já entrou na casa dos 30, imagine para um cinquentão.
Mas talvez poucas coisas sejam tão antigas quanto a literatura como esta tradição de autores entre os quinquagenários e os octogenários vomitando bile contra os que estão surgindo naquele momento.
Chegou até nós, por exemplo, o desgosto de Cícero para com os jovens poetas que ele viria a satirizar como neoteroi, os “novos poetas”, os novidadeiros, nos últimos anos da Roma ainda República. Entre estes novidadeiros que tanto desgostaram o velho Cícero, estava Catulo, um dos poetas mais clássicos. Bem, clássico hoje, para nós. É claro que Catulo não estava sendo “novidadeiro”, mas rejeitando uma poética prevalente em sua época e escolhendo o seu próprio passado, ao voltar-se para a poesia de Calímaco, que por sua vez havia rejeitado em sua própria época as imitações baças de Homero.
Talvez a melhor coisa para um escritor seja, de qualquer maneira, buscar a companhia e o diálogo com escritores de sua própria geração. O perigo é sempre que isso se engesse e o diálogo se mantenha apenas com os de sua geração, mesmo quando uma ou duas outras já tenham surgido. Meus diálogos mais intensos são em geral com autores, como eu, nascidos na década de 1970. Mas também passei a ter diálogos e seguir com atenção o trabalho de vários autores mais jovens que eu, nascidos na década de 1980, como Reuben da Cunha Rocha, Ismar Tirelli Neto, Victor Heringer e William Zeytounlian. As informações são outras e todos podemos aprender muito uns com os outros, como também sigo com admiração o trabalho de autores mais velhos, como Leonardo Fróes e Lu Menezes.
É direito e dever de um poeta jovem buscar suas próprias referências, mesmo que isso desgoste os cinquentões de cada época quando não se veem escolhidos ou sentem seus caminhos serem rejeitados. Talvez isso desperte certas ansiedades em relação à sobrevivência de suas próprias obras. Mas não adianta querer controlar o que autores mais jovens vão escolher fazer. Pensaríamos que as várias lições do passado, de escritores velhos dos quais hoje rimos por não terem compreendido as transformações literárias de seu tempo, fariam com que nossos famosos senhores tomassem mais cuidado antes de declararem com pompa que não há mais bons autores com menos de 40 anos, que toda a literatura jovem de seu tempo é ruim etc.
Um anedota desta semana: eu estava lendo o texto de um poeta septuagenário sobre o que ele considera um fenômeno atual da poesia contemporânea. Homem culto e excelente poeta, ele menciona em seu texto Baudelaire, Mallarmé, Lautréamont e Rimbaud. Também fala sobre Apollinaire e Pessoa. Recapitulemos: todos os poetas mencionados na primeira lista morreram no século XIX; Apollinaire, ao fim da Primeira Guerra, e Pessoa, em 1935.
Algum poeta do pós-guerra? Das décadas de 70 ou 80? Ou – loucura das loucuras, ao falar sobre o que ele mesmo chamava de um fenômeno atual da poesia contemporânea – algum poeta atual/contemporâneo? Nenhum. É claro que o poeta septuagenário encerrava seu texto condenando o tal fenômeno atual da poesia contemporânea, dizendo que ela se comporta como se nada houvesse acontecido depois de Mallarmé e Pessoa. No texto dele, realmente nada parece ter acontecido depois de Mallarmé e Pessoa.
Eis o exemplo de um momento em que um autor mais velho poderia ter se poupado do ridículo, nem mesmo o de gerações futuras, mas o de hoje mesmo. Não estou insinuando que não haja muita porcaria sendo publicada hoje, como em qualquer época. Mas tratar de poesia contemporânea traz riscos, requer também generosidade e certa humildade. Talvez seja algo difícil demais para quem já se julga no Olimpo. Mas, lembremo-nos: mesmo deuses morrem. Como aqueles, do Olimpo.
Brasileiros, porém universais
Esta é minha última noite no México, onde participei da Feira Internacional do Livro no Zócalo, com muitas editoras mexicanas ocupando a praça central da Cidade do México, a maior do mundo. Como a Feira do Livro de Frankfurt no ano passado e o Salão do Livro de Paris no ano que vem, a literatura brasileira foi a homenageada na feira mexicana deste ano. Passaram pelas tendas de leitura do evento, que homenageavam escritores do país como Octavio Paz e Efraín Huerta, os prosadores brasileiros Assionara Souza, Santiago Nazarian, Lima Trindade, Maria Alzira Brum e os poetas Angélica Freitas e Ferréz, entre outros. Foi lançada uma antologia com poetas da periferia de São Paulo, também saíram livros de alguns dos escritores convidados.
Passamos por um momento de grande interesse no mundo pela literatura nacional. Talvez “grande” seja exagero, mas há décadas não se via um interesse dessa intensidade. Já comentei neste espaço alguns casos específicos, como as traduções da obra de Clarice Lispector nos Estados Unidos e Alemanha, e a chegada da obra de Hilda Hilst à língua inglesa. Esta semana, soube que a Penguin Classics lançará em inglês uma nova tradução do grande clássico anti-épico nacional, Os sertões (1902), de Euclides da Cunha, com tradução de Elizabeth Lowe sob o título Backlands – The Canudos Campaign. A tradução anterior era a de Samuel Putnam, um dos primeiros a discutir e divulgar o escritor brasileiro fora de nossas fronteiras. Aos poucos, Machado de Assis vai recebendo a atenção internacional que merece, ainda que talvez dure ainda algum tempo até que se una no imaginário mundial aos seus contemporâneos, como Henry James e Anton Tchekhov. Mas acredito que é apenas questão de tempo. Muitos hoje sabem que há mais na literatura brasileira que Jorge Amado…ou Paulo Coelho. Algo que percebo também é uma mudança de atitude em relação ao próprio desconhecimento, ao menos entre europeus: há a consciência de que há grande literatura sendo produzida no país, e que se trata de um continente por explorar.
É difícil dizer com precisão quais os fatores que acarretaram esta mudança. Certamente, o maior relevo político-econômico do país, hoje a sétima economia mundial, sua maior participação em questões de política internacional, fizeram com que os holofotes iluminassem também as Letras do país. A bolsa de tradução da Biblioteca Nacional continua tornando possíveis traduções que antes seriam economicamente inviáveis para pequenas editoras. A Feira do Livro de Frankfurt trouxe muita atenção. Com o Salão do Livro de Paris, espera-se que novos frutos sejam colhidos.
Quando me perguntam (e isso já aconteceu algumas vezes): “Se eu fosse ler um único escritor brasileiro, qual eu deveria ler?”, eu geralmente respondo, primeiro, com uma pergunta: “Você perguntaria isso para um russo ou norte-americano?”, para logo em seguida dizer: Machado de Assis, não porque seja brasileiro, mas porque qualquer pessoa deveria lê-lo, como se lê Dostoiévski ou Faulkner não porque um é russo e o outro americano, mas porque são grandes autores. E, ao mesmo tempo, Machado só poderia ser brasileiro. O Brasil tem vários casos de grandes escritores universais mas brasileiros, como João Cabral de Melo Neto, para mencionar um grande poeta ao lado do grande prosador. O mundo, espero, continuará descobrindo estes nomes.







Feedback