Alemães no Brasil, hoje
No Brasil, tende-se a ler os alemães mais noturnos, de uma veia mais mística, como Novalis, Hölderlin e Rilke [“Autores alemães e sua influência no Brasil“, DW Brasil, ‘Contra a Capa’, 10.07.2014]. O grande romancista de língua alemã conhecido no Brasil é Thomas Mann, e talvez A Montanha Mágica (1924) siga sendo para leitores brasileiros o grande romance modernista alemão. Thomas Mann fez parte de um Modernismo Internacional que se entregou a uma escrita alegórica, muito marcada tecnicamente ainda pela prosa do século XIX. Isso desaguaria na escrita do outro autor alemão conhecido no Brasil, Günter Grass – também ele todo alegórico.
Mas existem outros lados e outras alas da escrita alemã. André Vallias fez-nos uma contribuição inestimável ao traduzir Heinrich Heine para o português da forma como o fez. Gosto de pensar em Heine como um dos patronos desta ala da literatura em língua alemã, a mais terrena, com os pés no chão – e menos entregues a alegorias.
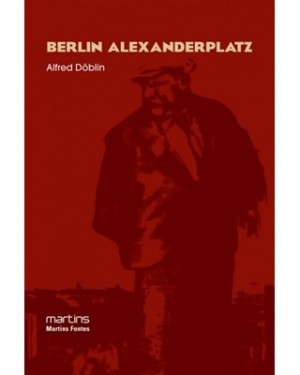 Em 2009, a Martins Fontes lançou no Brasil uma nova tradução do outro grande romance modernista alemão: Berlin Alexanderplatz (1929), de Alfred Döblin. Juntos, o romance de Mann e o de Döblin mostram, com técnicas distintas, o desastre que se avizinhava após a Primeira Guerra Mundial. Berlin Alexanderplatz é, para muitos, um romance mais moderno em sua escrita, e, assim como Mann desaguaria em Grass, creio que Döblin desagua em outros autores, desconhecidos no Brasil, como Wolfgang Koeppen e seu Tauben im Gras (Pombas na grama, 1951), que também usa uma técnica de montagem em sua escrita.
Em 2009, a Martins Fontes lançou no Brasil uma nova tradução do outro grande romance modernista alemão: Berlin Alexanderplatz (1929), de Alfred Döblin. Juntos, o romance de Mann e o de Döblin mostram, com técnicas distintas, o desastre que se avizinhava após a Primeira Guerra Mundial. Berlin Alexanderplatz é, para muitos, um romance mais moderno em sua escrita, e, assim como Mann desaguaria em Grass, creio que Döblin desagua em outros autores, desconhecidos no Brasil, como Wolfgang Koeppen e seu Tauben im Gras (Pombas na grama, 1951), que também usa uma técnica de montagem em sua escrita.
Döblin poderia ser chamado do primeiro autor da „literatura dos escombros“, já no entreguerras, antes desta expressão surgir para designar autores do pós-guerra como os prosadores Alfred Andersch e Heinrich Böll ou o poeta Günter Eich. Deste grupo da “literatura dos escombros”, um dos autores mais respeitados na Alemanha hoje é Arno Schmidt, que ainda aguarda uma recepção maior no Brasil.
Mas se há algo que me alegra é o fato de W. G. Sebald já ter sido amplamente traduzido no Brasil e ter encontrado eco entre autores contemporâneos nossos, como Victor Heringer, que escreveu uma série de comentários sobre o romance Austerlitz (2001). Sei que pareço obcecado com Sebald, mas seu caso é exemplar demais em todos os sentidos, e a recepção de sua obra continua me chocando: ainda razoavelmente obscuro em seu próprio país, talvez seja hoje, justamente, o autor alemão mais reconhecido fora da Alemanha. A Companhia das Letras lançou vários volumes, como Os anéis de Saturno, Austerlitz, Os emigrantes, Vertigem e Guerra aérea e Literatura.
 Este último livro talvez explique a “obscuridade” de Sebald na Alemanha. Pois é possível que não se trate de desconhecimento de sua obra, mas do incômodo que ela traz a uma Alemanha que gostaria de acreditar já ter exorcizado os demônios do passado. Sebald enfia o dedo na ferida. Como é descrito o ensaio na página da Companhia das Letras, o autor trata de um “recalque do trauma nazista, com os sentimentos de culpa e humilhação durante o período de frenética reconstrução material do país que ficara em ruínas depois da guerra. Completa o volume um estudo sobre o escritor alemão Alfred Andersch, tomado por Sebald como caso exemplar do intelectual que teria se preocupado mais em reescrever o seu passado e retocar a sua imagem moral do que descrever o que de fato ocorreu durante o Terceiro Reich.”
Este último livro talvez explique a “obscuridade” de Sebald na Alemanha. Pois é possível que não se trate de desconhecimento de sua obra, mas do incômodo que ela traz a uma Alemanha que gostaria de acreditar já ter exorcizado os demônios do passado. Sebald enfia o dedo na ferida. Como é descrito o ensaio na página da Companhia das Letras, o autor trata de um “recalque do trauma nazista, com os sentimentos de culpa e humilhação durante o período de frenética reconstrução material do país que ficara em ruínas depois da guerra. Completa o volume um estudo sobre o escritor alemão Alfred Andersch, tomado por Sebald como caso exemplar do intelectual que teria se preocupado mais em reescrever o seu passado e retocar a sua imagem moral do que descrever o que de fato ocorreu durante o Terceiro Reich.”
Essas acusações retornam no trabalho, por exemplo, de um jovem poeta como o berlinense Max Czollek, também judeu como Sebald, que escreve hoje a partir de uma caça a demônios que seguem se escondendo sob os tapetes do país.
Quando se pensa no tom distinto das literaturas alemã e austríaca no pós-guerra, é necessário lembrar-se dos destinos diferentes dos dois países após 1945. A Alemanha estava em ruínas, e passava pelo processo de desnazificação, a fórceps, de suas instituições. A Áustria que, segundo autores como Thomas Bernhard, havia confortavelmente se colocado ao lado das “vítimas do nazismo”, apesar de seu passado colaboracionista, atrairia maior ira de seus escritores, como o próprio Bernhard, ou mais jovens, como Peter Handke. Isso tudo é muito importante para compreender um período de convulsões na Alemanha como os anos 1960/1970, com grupos como a Facção do Exército Vermelho em atividade.

“Cena de ‘Deutschland im Herbst’: Fassbinder discute com sua mãe sobre a Facção do Exército Vermelho”
Sobre algumas das consequências do que escreve Sebald, recomendo dois documentários excelentes: o filme coletivo Deutschland im Herbst (Alemanha no outono, 1977), com episódios dirigidos por Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff e Alexander Kluge, entre outros, e também o documentário Black Box BRD (2001), de Andres Veiel, que segue o destino de uma das últimas vítmas de um atentado da Facção do Exército Vemelho, o banqueiro Alfred Herrhausen, e o último membro da RAF a ser morto pela polícia, o jovem Wolfgang Grams. O diretor nos apresenta uma radiografia das fraturas na sociedade alemã em plena década de 80, ainda não curadas, e que talvez tenham apenas se agravado após a Reunificação.
Morreu o editor português André Jorge, amigo de poetas
 A língua perdeu um amigo fiel e apaixonado. Poetas perderam um aliado corajoso. André Jorge morreu esta manhã em Lisboa, o editor e fundador da Livros Cotovia, que trouxe a lume tantos volumes bonitos. Poetas estrangeiros, como Paul Celan, Cesare Pavese, Jaime Gil de Biedma e Joseph Brodsky, foram disseminados por ali. Cuidadas edições de poetas das lusofonias transatlânticas, como de Bénédicte Houart ou Ruy Duarte de Carvalho. Alguns brasileiros tiveram ali sua casa em Portugal, feito Carlito Azevedo e Dora Ribeiro. Minha primeira visita em forma de texto a terras portuguesas foi pela Cotovia, na antologia A poesia andando: treze poetas no Brasil (Lisboa: Cotovia, 2008), com organização de Valeska de Aguirre e Marília Garcia.
A língua perdeu um amigo fiel e apaixonado. Poetas perderam um aliado corajoso. André Jorge morreu esta manhã em Lisboa, o editor e fundador da Livros Cotovia, que trouxe a lume tantos volumes bonitos. Poetas estrangeiros, como Paul Celan, Cesare Pavese, Jaime Gil de Biedma e Joseph Brodsky, foram disseminados por ali. Cuidadas edições de poetas das lusofonias transatlânticas, como de Bénédicte Houart ou Ruy Duarte de Carvalho. Alguns brasileiros tiveram ali sua casa em Portugal, feito Carlito Azevedo e Dora Ribeiro. Minha primeira visita em forma de texto a terras portuguesas foi pela Cotovia, na antologia A poesia andando: treze poetas no Brasil (Lisboa: Cotovia, 2008), com organização de Valeska de Aguirre e Marília Garcia.
Não vou me esquecer de meu único encontro em carne e osso com o editor em seu escritório em Lisboa, em 2011. Era minha primeira visita a Portugal. Fui recebido por ele como se recebe a um amigo, ainda que jamais tivéssemos nos visto, e até então houvéssemos tido apenas uma pequena troca de mensagens. Em meio aos livros em uma sala iluminada na bonita Rua Nova da Trindade, entre o Chiado e o Bairro Alto, conversamos por uma hora e meia sobre escritores dos dois lados do Atlântico, as relações entre nossos países, as dificuldades em editar livros em nossas terras. Fiquei desconcertado com o candor de André Jorge quando ele passou a falar abertamente das dificuldades de manter as rédeas financeiras da editora e sobre a enfermidade que o acometera e contra a qual lutava. A confiança com que ele se dirigia a mim, um estranho havia ainda uma hora, era desarmante. Uma confiança, talvez, da solidariedade entre os corpos vivos, sobre os quais a mão do tempo se abate, forte.
À saída, em sua generosidade, presenteou-me não apenas com vários exemplares da antologia que trazia textos meus, mas disse que corresse os olhos pela estante da livraria da editora no andar térreo e levasse comigo o que mais me apetecesse. Saí de lá pensando: “Acabei de conhecer um cavalheiro de verdade.”
Fundada em 1988, a Livros Cotovia lançou mais de 600 títulos. Entre ensaio, ficção, poesia e teatro, é inestimável sua contribuição para nossas cabeças, que eram mais pobres antes da generosidade de André Jorge. O Brasil lhe deve ainda gratidão pela amizade e lealdade, demonstrada, além de volumes individuais, na coleção “Curso breve de literatura brasileira”, que mantinha nas livrarias de Portugal obras centrais de nossa literatura, em prosa e poesia, como Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, A menina morta de Cornélio Penna, os contos em Laços de família de Clarice Lispector, as coletâneas A educação pela pedra de João Cabral de Melo Neto e Claro enigma de Carlos Drummond de Andrade, O amanuense Belmiro de Cyro dos Anjos, São Bernando de Graciliano Ramos, e Os ratos de Dyonélio Machado, assim como antologias dedicadas ao conto e à poesia modernistas brasileiras. Uma lista exemplar, de conhecedor. R.I.P. André Jorge (1945-2016). Encerro como comecei, já que todos nós encerramos como começamos: a língua perdeu um amigo fiel e apaixonado. Poetas perderam um aliado corajoso.
A escrita do amor fora das normas do patriarcado brasileiro (segunda parte)
Na primeira parte deste artigo, menciono o trabalho dos homens mais conhecidos nesta discussão: Raul Pompeia, Adolfo Caminha, Mário de Andrade, Lúcio Cardoso e Roberto Piva. Suas obras e biografias são marcadas por uma relação tumultuosa com o patriarcado brasileiro de maneiras diversas. O suicídio de Pompeia, em pleno Natal de 1895, sempre terá um caráter simbólico para mim, ainda que não se possa esquecer que Pompeia comete este ato extremo com o propósito de salvaguardar o que chama de sua honra. Há no ato tanto um símbolo de afirmação como de negação. Mário de Andrade esconde sua sexualidade, camufla-a, e as anedotas dos bastidores do Grupo de 22 atestam a necessidade disso: há relatos de Oswald de Andrade usando a sexualidade do amigo-desafeto contra ele, tal qual Olavo Bilac usaria a de Raul Pompeia em suas rusgas na imprensa. Apenas com Lúcio Cardoso e Roberto Piva veríamos uma celebração quase bélica da exuberância de suas personalidades no meio cultural recatado do Brasil, especialmente se comparada com a discrição de seus predecessores, que têm, no entanto, toda a minha compreensão. Vimos que fim levou o irlandês Oscar Wilde na Grã-Bretanha cristã da Rainha Vitória, e o grego Konstantínos Kaváfis, vivendo na Alexandria islâmica, fora ao mesmo tempo tão honesto quanto tímido em seus arroubos homoeróticos pela poesia, publicando seu trabalho apenas em folhetos distribuídos entre os amigos. Décadas mais tarde, sabemos também que fim teve o italiano Pier Paolo Pasolini na democracia cristã de seu país.
Em meio a isso, como foi o surgimento da poesia e prosa femininas no Brasil, de tradição sáfica ou não? Vale lembrar que, em um país como o Brasil, uma mulher que escreva sobre o amor carnal já se encontra fora das normas, ame ela homens ou mulheres. A mulher que insiste que seu lugar de escolha é a cama, não o fogão. A primeira poeta a ter sucesso no país e chocar a sociedade do seu tempo com seu trabalho foi Francisca Júlia. Um erotismo feminino pelo feminino é claro em sonetos como “Dança de centauras”, “Rainha das águas” e “Ondina”. Pouco ou nada sabe-se de sua vida, além de que ela escolheu o silêncio após o casamento e também escolheu o suicídio, como Pompeia, após a morte do marido. Seriam necessárias três décadas para que outras três escritoras tomassem vulto junto a seus companheiros de geração: a romancista Rachel de Queiroz e as poetas Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa, enquanto a poeta e romancista Patrícia Galvão permaneceria soterrada sob a biografia de um homem, Oswald de Andrade, e as anedotas em torno de sua existência como Pagu.
Sobre Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa, eu invocaria aqui um texto de outra mulher que não se pode contornar em uma discussão sobre a escrita das cidadãs brasileiras, lésbicas ou não: a poeta e crítica carioca Ana Cristina Cesar. Em seu artigo “Literatura e mulher: essa palavra de luxo” (1979), ela escreve: “A apreciação erudita da poesia destas duas mulheres se aproxima curiosamente do senso comum sobre o poético e o feminino. Ninguém pode ter dúvidas de que se trata de poesia, e de poesia de mulheres. Não quero ficar panfletária, mas não lhe parece que há uma certa identidade entre esse universo de apreensão do literário e o ideário tradicional ligado à mulher? O conjunto de imagens e tons obviamente poéticos, femininos portanto? Arrisco mais: não haveria por trás desta concepção fluídica de poesia um sintomático calar de temas de mulher, ou de uma possível poesia moderna de mulher, violenta, briguenta, cafona onipotente, sei lá?”
Aqui, Ana Cristina Cesar critica as duas pioneiras famosas por seu tom elevado, suas formas classicizantes, os temas nobres, como se fossem uma manobra de esconder o que há de diferenciador na mulher em relação ao homem: o carnal, o corporal, o sexual. Nesse calar, a estratégia, talvez, justamente de apagar qualquer diferença entre a literatura masculina e a feminina, ou simplesmente uma estratégia social, dada a época em que escreviam, para poderem figurar no panteão literário dominado por homens, sem lembrá-los em demasia de que eram mulheres, quiçá apenas de leve. Este artigo de Ana Cristina Cesar é uma das mostras da inteligência fina da carioca, que não se entrega a um ativismo fácil, e seus questionamentos valem tanto para nossa discussão sobre o masculino e o feminino em literatura, quanto para um discussão bem-vinda sobre universalismo e localismo em relação a nossos modernistas. No artigo, mais adiante, ela viria a mencionar Adélia Prado como uma das escritoras a escaparem desta relação conflituosa com os poetas homens da época, fugindo de uma admiração subserviente como a que Ana Cristina Cesar crê identificar em Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa em relação a Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. O artigo invoca também Clarice Lispector e sua narração como mulher, através de um narrador masculino, em um livro que tem por centro uma mulher, Macabéia: o seu grande A Hora da Estrela (1977), mas Ana Cristina Cesar não se debruça sobre o assunto para além da citação, deixando-o talvez como pista que complique a discussão, pista que despista.
Tudo isso se torna ainda mais complicado, dialético, se pensarmos em uma escritora sobre a qual Ana Cristina Cesar silencia em seu artigo, provavelmente por não conhecer seu trabalho, ainda bastante obscuro à época: Hilda Hilst. Como ver, neste contexto, a clara formação clássica de sua poesia, sem no entanto fugir do carnal, do corporal, do sexual? Vejamos, por exemplo, o primeiro poema da série “Do desejo”:
Porque há desejo em mim, é tudo cintilância.
Antes, o cotidiano era um pensar alturas
Buscando Aquele Outro decantado
Surdo à minha humana ladradura.
Visgo e suor, pois nunca se faziam.
Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo
Tomas-me o corpo. E que descanso me dás
Depois das lidas. Sonhei penhascos
Quando havia o jardim aqui ao lado.
Pensei subidas onde não havia rastros.
Extasiada, fodo contigo
Ao invés de ganir diante do Nada.
Em um poema como este, há ao mesmo tempo uma invocação e uma fuga do sublime. Nobre e chulo, em ascensão e queda, Hilda Hilst era mestra desses fluxos e refluxos, dessas marés. Aqui, universalismo não se torna esconderijo. O próprio trabalho de Ana Cristina Cesar traria estas questões de volta, com suas reescrituras de poemas de Jorge de Lima, por exemplo, ou seus poemas absurdamente carnais. E, no entanto, a sexualidade de Ana Cristina Cesar continua a incomodar e ser silenciada 70 anos depois da morte de Mário de Andrade, aquele que foi assexuado pelo cânone. A carnalidade, sexualidade e até sua obra seriam silenciadas, por exemplo, na abertura da FLIP 2016 que deveria tê-la por homenageada, quando homens no palco passariam a noite falando de si mesmos, algo que não é de se admirar, já que Armando Freitas Filho vem solavancando a própria obra e biografia há décadas com o nome de Ana Cristina Cesar.
Para encerrar no espírito da carioca em seu artigo, o de complicar as coisas, é preciso dizer que em nossas discussões sobre gênero e sexualidade, há uma espécie de ponto cego: a forma como invisibilizamos questões de classe social e, principalmente, questões raciais nesta conversa. Se a relação com o mundo dominado por homens foi complicado para todas estas mulheres que citamos, de Cecília Meireles a Ana Cristina Cesar, é importante lembrar que, como mulheres brancas, sua possibilidade de inserção era menos difícil que a de escritoras negras como Carolina Maria de Jesus ou Stela do Patrocínio. A poeta e crítica norte-americana Audre Lorde, ela mesma abertamente homossexual, seria uma das críticas mais argutas deste silenciamento do racil na discussão do sexual. E é assim, com um poema curto de Stela do Patrocínio, que encerro esta segunda parte.
Nasci louca
Meus pais queriam que eu fosse louca
Os normais tinham inveja de mim
Que era louca
Nota do autor: para maiores informações sobre escritoras brasileiras, leia meu artigo “A textualidade em algumas poetas brasileiras do século XX e XXI” na revista Modo de Usar & Co.:
http://revistamododeusar.blogspot.de/2010/04/poeticas-contemporaneas-textualidade-em.html
A escrita do amor fora das normas do patriarcado brasileiro (primeira parte)
Como escrevi no último texto neste espaço [“Berlim, capital queer”, Contra a capa, DW Brasil, 30.07.2016], participei no mês de julho de um evento no Literarisches Colloquium ao lado de vários autores internacionais identificados como queer. Veja bem, não creio que meu próprio trabalho seja imediatamente enquadrado neste rótulo. Mas ignorar este aspecto seria também impossível na leitura de grande parte da minha lírica, que recorre a uma tradição que remonta aos gregos, passa pelos poetas latinos, e se espalha por diversas culturas, incluindo a árabe e islâmica de poetas como Abū Nuwās. Uma tradição que não foi fundada, como alguns creriam, por Oscar Wilde no fim do século 19. Mas é com seitas monoteístas como o Cristianismo e o Islã que a relação social com a homossexualidade ganhou os contornos que tem hoje.
Ao participar do evento, não pude deixar de voltar a pensar nesta tradição dentro da literatura brasileira. Mas algumas das questões que discutimos ali são justamente as que complicam tal conversa no espaço exíguo de um artigo para a imprensa. O texto é queer se o autor é queer? Se o tema do texto é queer, sem que o autor necessariamente o seja? Há um estilo, de alguma maneira, identificável como queer? Uma relação diferente com o texto?
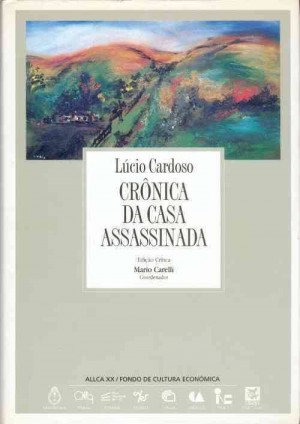 Mencionei Wilde, com seus trabalhos no fim do século 19. É também por esta época que surgem dois trabalhos importantes ligados a esta discussão no Brasil, certamente pioneiros: O Ateneu (1888), de Raul Pompeia, e O Bom Crioulo (1895), de Adolfo Caminha. Este último é considerado, de certa forma, o inaugurador da temática no país. Já a relação do trabalho de Raul Pompeia com a questão é mais oblíqua: passa por sua biografia e a querela que teve, por questões políticas, com Olavo Bilac pela imprensa em 1892, na qual Bilac não receou em fazer insinuações sobre a vida sexual de Pompeia. Imagina-se que Adolfo Caminha já escrevia por esta época seu romance, publicado então em 1895, ano em que Raul Pompeia comete suicídio.
Mencionei Wilde, com seus trabalhos no fim do século 19. É também por esta época que surgem dois trabalhos importantes ligados a esta discussão no Brasil, certamente pioneiros: O Ateneu (1888), de Raul Pompeia, e O Bom Crioulo (1895), de Adolfo Caminha. Este último é considerado, de certa forma, o inaugurador da temática no país. Já a relação do trabalho de Raul Pompeia com a questão é mais oblíqua: passa por sua biografia e a querela que teve, por questões políticas, com Olavo Bilac pela imprensa em 1892, na qual Bilac não receou em fazer insinuações sobre a vida sexual de Pompeia. Imagina-se que Adolfo Caminha já escrevia por esta época seu romance, publicado então em 1895, ano em que Raul Pompeia comete suicídio.
Há dois trabalhos críticos importantes nesta discussão: Devassos no Paraíso (1986), de João Silvério Trevisan, e O Homem que Amava Rapazes e Outros Ensaios (2002), de Denilson Lopes. Trevisan discute a relação social entre heterossexualidade e homossexualidade no Brasil de diversas épocas, enquanto Lopes debruça-se mais especificamente sobre a literatura. No ensaio “Uma estória brasileira”, Denilson Lopes escreve: “No romance O Bom Crioulo de Adolfo Caminha, hoje incensado dentro e fora do Brasil, como uma obra pioneira, a representação da homossexualidade adquire um elemento central na narrativa e não só um dado circunstancial ou estereotipado como vamos ver em tantas outras obras na literatura brasileira pelo século XX adentro. O romance tem como espaço central o navio e como figuras homoidentitárias, todas marcadas pela ambiguidade, o macho gay, o adolescente e a mulher masculinizada.”
Ainda que o romance de Adolfo Caminha mereça seu lugar de pioneiro, por vezes me parece que o grande romance de Raul Pompeia fica à margem pela exposição menos explícita da sexualidade que ele desenha entre as salas d’O Ateneu. Os romances tratam ainda, é claro, de classes sociais bastante distintas do fim do Império e começo da República, esta transição no país das transições fracassadas. Os meninos descritos por Pompeia são a elite da sociedade carioca: aristocrática, imperial. As personagens de Caminha são daquele submundo que ainda hoje encontramos na Lapa e no Centro do Rio de Janeiro. É importante dizer que, para mim, a relação entre poder e sexo tecida por Raul Pompeia é pioneira não apenas na questão da homossexualidade, que trata de forma, como já disse, oblíqua. É pioneira no próprio trato da sexualidade em nossa literatura, e ponto final.
E oblíquo continuaria o tratamente do tema nos próximos 50 anos. Apenas no ano passado, aos 70 anos de sua morte, por exemplo, parecemos ter finalmente encerrado a di scussão sobre a homossexualidade de Mário de Andrade. E, no entanto, é dele um dos retratos mais comoventes da relação entre rapazes, entre a lealdade fraternal e o homoerotismo, reprimido em meio ao ambiente cristão, como vemos em seu maravilhoso conto “Frederico Paciência”, do livro Contos Novos (1947). No entanto, assim como em Raul Pompeia, é oblíqua, de relance o tratamento de Mário de Andrade, que demonstra uma preocupação clara com a sexualidade como um todo em meio à sociedade brasileira da época, dando-nos também um retrato da repressão sexual feminina em um conto magistral como “Atrás da Catedral de Ruão”, do mesmo livro.
scussão sobre a homossexualidade de Mário de Andrade. E, no entanto, é dele um dos retratos mais comoventes da relação entre rapazes, entre a lealdade fraternal e o homoerotismo, reprimido em meio ao ambiente cristão, como vemos em seu maravilhoso conto “Frederico Paciência”, do livro Contos Novos (1947). No entanto, assim como em Raul Pompeia, é oblíqua, de relance o tratamento de Mário de Andrade, que demonstra uma preocupação clara com a sexualidade como um todo em meio à sociedade brasileira da época, dando-nos também um retrato da repressão sexual feminina em um conto magistral como “Atrás da Catedral de Ruão”, do mesmo livro.
Por esta época já havia surgido, em meio às explosões de masculinidade irrefreada da prosa e poesia brasileira pós-1922, a figura tanto luminosa quanto escura, dono justamente de um senso de contraste como era Lúcio Cardoso. Em seus poemas e especialmente naquele romance caudaloso e estranho que é Crônica da Casa Assassinada (1959), o mineiro Lúcio Cardoso nos deu tanto uma lírica amorosa aberta, honesta, singular, quanto aquele retrato impiedoso da tradicional família mineira e brasileira em seu romance. E a década seguinte veria o surgimento talvez do mais forte, direto e vociferante visionário a contra-atacar a hipocrisia de nossa sociedade cristã: o poeta Roberto Piva. Em livros como Paranoia (1963), Piazzas (1964), Abra os olhos e diga ah! (1976) ou Coxas (1979), Piva se assemelha em uma característica a Raul Pompeia e Lúcio Cardoso: o desejo incendiário e a recusa a conciliações fáceis.
São autores diferentes, quase de países diferentes. Como ver juntos um republicano que nasceu e formou-se no Império, como Raul Pompeia, e então um libertário que viveu sob a Ditadura de Vargas, como Lúcio Cardoso, e por fim um visionário como Roberto Piva, que logo veria a si mesmo, ao seu corpo e aos corpos de tantos outros aprisionados ou massacrados sob a hipocrisia violenta e falsamente beata do Regime Militar brasileiro? Como conciliar aquele positivista do século 19 que tanto defendeu Floriano Peixoto, ao católico homossexual sob o Estado Novo, e ambos ao xamânico e pagão da década de 1960 e 1970, vivendo sob homens autoritários como Médici e Geisel?
Há nestes autores, arrisco, uma relação incontornável com o corpo humano como repositório de todas as opressões e repressões, uma recusa a entregar-se a abstrações e minimalismos, ainda que elegantes, se estes exigem uma sublimação de tudo o que em nós sua, sangra, e goza. Seu próprio estilo, ainda que tão distintos, distinguem-se ainda mais da secura da grande prosa principal brasileira, aquela que tanto admiramos, que vai de Machado de Assis a João Cabral de Melo Neto, passando por Graciliano Ramos. Pois não é apenas a temática destes autores que os tornam estranhos no ninho. É como sua escrita engendra-se, caudalosas, quase camp, se não fosse um anacronismo recorrer a este conceito como seria formulado por Susan Sontag apenas na década de 1960.
E, entre eles, como pensar em um romance como Grande Sertão: Veredas (1956), de João Guimarães Rosa, no qual a sexualidade tem sido uma pedra de tropeço para vários críticos? Volto ao assunto no próximo texto, assim como a trabalhos de mulheres e de homossexuais contemporâneos, ainda entre nós.
Alguma escrita berlinense internacional
 Hoje (26/07) ocorre, na tradicional cervejaria Alt Berlin, o lançamento da antologia Your + 1: some Berlin-based international writing (Gully Havoc, 2016), que eu editei e reúne uma parcela da cena literária internacional em Berlim. O volume traz contos, poemas e letras de canções de brasileiros como Adelaide Ivánova e Érica Zíngano, britânicos como Leila Peacock, Annika Henderson e Hanne Lippard, o irlandês John Holten, os americanos Shane Anderson, Christian Hawkey e Jennifer Nelson, o ucraniano Serhiy Zhadan, a israelense Maya Kuperman, o australiano Luke Troynar (vocalista da banda Bad Tropes), o islandês Eiríkur Örn Norðdahl, e vários outros. É uma cena bastante viva e ativa, e percebi como seria impossível fazer um panorama de todas as cenas em um único volume. O segundo, que deverá trazer entre outros o sírio Abud Said, já está sendo preparado aos poucos.
Hoje (26/07) ocorre, na tradicional cervejaria Alt Berlin, o lançamento da antologia Your + 1: some Berlin-based international writing (Gully Havoc, 2016), que eu editei e reúne uma parcela da cena literária internacional em Berlim. O volume traz contos, poemas e letras de canções de brasileiros como Adelaide Ivánova e Érica Zíngano, britânicos como Leila Peacock, Annika Henderson e Hanne Lippard, o irlandês John Holten, os americanos Shane Anderson, Christian Hawkey e Jennifer Nelson, o ucraniano Serhiy Zhadan, a israelense Maya Kuperman, o australiano Luke Troynar (vocalista da banda Bad Tropes), o islandês Eiríkur Örn Norðdahl, e vários outros. É uma cena bastante viva e ativa, e percebi como seria impossível fazer um panorama de todas as cenas em um único volume. O segundo, que deverá trazer entre outros o sírio Abud Said, já está sendo preparado aos poucos.
Berlim tem uma posição sui generis no cenário ocidental, diferente de Paris ou Nova York. Já escrevi a respeito disso aqui [“Alemães e estrangeiros na cena literária berlinense”]. Tudo aqui parece um pouco marginal, fora da moda. Para alguns, é uma cidade atrasada, por não seguir sempre e exatamente o que Londres ou Nova York estão celebrando em termos de música, por exemplo. Eu prefiro pensar que Berlim simplesmente segue o seu caminho. Vai embrenhando-se nas possibilidades da música eletrônica quando Londres parece não se cansar das mesmas notas e solos de guitarra. Todo este tecno cansa, às vezes, é claro. Sou um apaixonado por cancioneiros, e há muito menos disso por aqui do que em outros países. Talvez seja uma dificuldade linguística. O mundo jamais se acostumou de verdade a canções em alemão como o fez com canções em inglês, ou mesmo em francês. Com a exceção de alguns exemplos como o duo Stereo Total no começo do século, as poucas bandas alemãs que têm demonstrado possibilidades de inserção mundial concentram-se em letras em inglês, como os meninos do grupo Sizarr e do duo Lea Porcelain. Um fenômeno alemão e em alemão como Deichkind jamais chegou realmente a ouvidos internacionais.
Esta mesma dificuldade separa as cenas literárias alemã e estrangeira na capital do país, assim como impede que um jovem autor alemão chegue a leitores internacionais facilmente. Qualquer escritor americano é imediatamente legível em qualquer parte do mundo, já que tantos leitores ao redor do globo têm o inglês como segunda língua. Mas, aos poucos, vamos todos nos aproximando. Levando estrangeiros aos alemães, e alemães aos estrangeiros. Hoje à noite, por exemplo, após os estrangeiros apresentarem seus textos em inglês, hebraico, português, sobe ao palco o jovem produtor alemão Nelson Bell, que se apresenta como Crooked Waves, para seu primeiro concerto. Temos muito o que aprender uns com os outros.



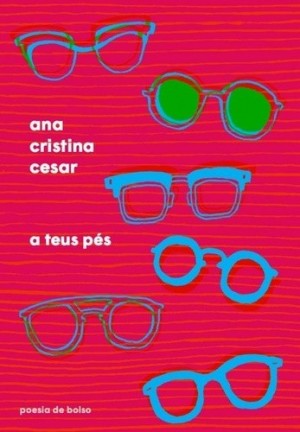





Feedback