Tradutora de Clarice Lispector recebe o Prêmio PEN de Tradução 2016
Foi anunciado nesta terça-feira (01/03) que a tradutora dos contos completos de Clarice Lispector para o inglês, Katrina Dodson, é a ganhadora do Prêmio PEN de Tradução 2016. The Complete Stories foi o volume lançado nos Estados Unidos pela New Directions e, no Reino Unido, pela Penguin, na coleção Modern Classics. A decisão foi unânime, disseram os jurados. Os outros concorrentes incluíam tradutores dos russos Fiódor Dostoiévski e V ladímir Sorókin, do búlgaro Georgi Gospodinov e da italiana Viola Di Grado.
ladímir Sorókin, do búlgaro Georgi Gospodinov e da italiana Viola Di Grado.
O anúncio coroa um ano em que a autora brasileira esteve entre os escritores estrangeiros mais discutidos no âmbito da língua inglesa. O volume de contos recebeu resenhas de Los Angeles a Sydney, foi capa do New York Times, e trouxe Dodson a um time de tradutores que, capitaneado por Benjamin Moser (tradutor de A Hora da Estrela), incluía já Idra Novey (A Paixão segundo GH), Alison Entrekin (Perto do Coração Selvagem) Stefan Tobler (Água Viva) e Johnny Lorenz (Um Sopro de Vida). Talvez já se possa dizer que Clarice Lispector é hoje a escritora brasileira mais conhecida pelo público mundial, em posição que já foi ocupada de forma respeitável por Jorge Amado e, menos respeitável, a meu ver, por Paulo Coelho.
Na categoria para traduções de poesia, evidenciando um período em que a literatura brasileira vem experimentando repercussão nos Estados Unidos como há algum tempo não se via, concorria ainda Hilary Kaplan, tradutora do volume de estreia de Angélica Freitas no Brasil, Rilke shake, tradução lançada no país pela Phoneme Books. O prêmio foi dado a Sawako Nakayasu, tradutora dos poemas reunidos da modernista japonesa Chika Sagawa (1911-1935).
Em língua inglesa, o público recebeu nos últimos anos, por mãos da Penguin, novas traduções para livros de Jorge Amado (como a primeira tradução para o inglês, de Gregory Rabassa, para A Descoberta da América pelos Turcos), de Lima Barreto e Euclides da Cunha.
Nos Estados Unidos, de forma mais discreta, Hilda Hilst vem angariando também seus admiradores internacionais. Esta repercussão se deve, em primeiro lugar, aos esforços de tradutores apaixonados que encamparam batalhas para divulgar os autores brasileiros que respeitam em seus respectivos países, como é o caso também de Paula Abramo no México, Aníbal Cristobo na Espanha, Cristian De Nápoli e Florencia Garramuño na Argentina.
Na Alemanha, alguns tradutores que vêm se dedicando à literatura brasileira incluem Berthold Zilly, Odile Kennel, Maria Hummitzsch, Luis Ruby e Michael Kegler. Acaba de ser lançada pela editora alemã Schöffling & Co. a tradução de Luis Ruby para A Hora da Estrela, com o título Der große Augenblick.
E assim Clarice Lispector vai se tornando livro de cabeceira não apenas de lusófonos. É capaz agora de perturbar também o sono de estrangeiros.
Paula Ludwig: uma austríaca exilada no Brasil
Exílio, substantivo masculino. Ação ou efeito de exilar. Que foi retirado de seu próprio país ou que dele saiu voluntariamente. Local em que habita o exilado. Região desabitada; lugar distante; local solitário. Que se excluiu do convívio em sociedade; solidão. Do latim: exilium.
Na literatura, surge nos trabalhos de tantos poetas e romancistas produzidos longe de seus países. Banidos por imperadores, reis, chanceleres, ditadores. Na literatura alemã, podemos pensar em Heinrich Heine, exilado em Paris. Mas o conceito de Exilliteratur refere-se com mais força aos últimos exílios forçados, durante a ditadura nazista. Escritores como Bertolt Brecht, Hermann Broch, Alfred Döblin, Hilde Domin, Siegfried Kracauer, Nelly Sachs (Nobel de 1966), Heinrich Mann, Klaus Mann, Thomas Mann e Anna Seghers, todos se exilaram. Talvez os trabalhos mais conhecidos neste aspecto sejam os poemas de Bertolt Brecht escritos em Los Angeles. Entre nós, o autor mais conhecido dentre os exilados germânicos é o austríaco Stefan Zweig, por ter vivido em Petrópolis, onde cometeria suicídio em 1942.
Não temos este conceito de forma específica na historiografia literária brasileira, ainda que pudéssemos pensar, nestes termos, em trabalhos como o Poema Sujo (1976), de Ferreira Gullar, escrito em Buenos Aires durante seu exílio da Ditadura Civil-Militar (1964-1985), em todo um cancioneiro produzido no período por Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, e em figuras como Augusto Boal e Glauber Rocha.
O Brasil, como os Estados Unidos e outros países das Américas, beneficiou-se imensamente com as mentes de autores fugindo do horror nazista. A chegada de um homem como Otto Maria Carpeaux foi importantíssima para a abertura crítica de nosso país. Figura genial e fascinante, em pouco tempo o austríaco dominaria a língua portuguesa, conheceria intimamente a literatura brasileira e se tornaria um de nossos melhores críticos literários, com textos essenciais sobre Carlos Drummond de Andrade, João Guimarães Rosa e Cecília Meireles, entre tantos outros. Outras figuras importantes e conhecidas foram o crítico teatral alemão Anatol R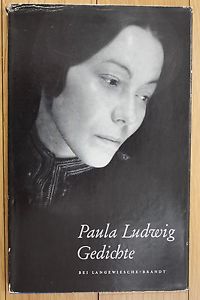 osenfeld, o compositor alemão Hans-Joachim Koellreutter e o tradutor húngaro Paulo Rónai. Suas contribuições para nossa cultura são inestimáveis. Desconhecidos em seus países de origem, são vistos como brasileiros.
osenfeld, o compositor alemão Hans-Joachim Koellreutter e o tradutor húngaro Paulo Rónai. Suas contribuições para nossa cultura são inestimáveis. Desconhecidos em seus países de origem, são vistos como brasileiros.
Neste pequeno artigo, gostaria de somar uma outra figura a esta história, obscura tanto no ambiente germânico como no luso-brasileiro, que descobri há pouco tempo: a poeta e pintora austríaca Paula Ludwig. Nascida em Feldkirch em 1900, foi contemporânea exata de Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa. Mudou-se para a Alemanha por volta de 1920, onde se tornou amiga dos irmãos Klaus e Erika Mann, e passou a circular entre os autores e artistas ligados ao expressionismo. Em Berlim, estabeleceria contato com Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky, Carl Zuckmayer e Joachim Ringelnatz, começaria a publicar em revistas e teria um dos encontros mais marcantes e definidores de sua vida: o início de seu relacionamento com Yvan Goll. O triângulo amoroso entre Paula Ludwig, Yvan Goll e Claire Goll revela seus contornos trágicos na correspondência entre os três, editado por Claire, ainda que se acredite que esta tenha destruído muitas cartas.
Crítica do regime, Paula Ludwig viria para o Brasil em 1940, onde sua irmã já vivia, estabelecendo-se no Rio de Janeiro e São Paulo, onde permaneceria até 1953. Diferentemente de Carpeaux, Rosenfeld e Rónai, no entanto, a autora jamais se adaptaria ao país ou adotaria nossa língua. Mas encontraria entre nós uma paixão e consolo na arte de Antônio Francisco Lisboa: “Tu meu grande consolo nesta terra / Único rastro-irmão que aqui me emperra”, como diz a autora nos dois primeiros versos do poema “Aleijadinho”, aqui em tradução de Douglas Pompeu e Christiane Quandt.
Ao retornar à Áustria, primeiramente não teve sua cidadania reconhecida, ainda que mais tarde viessem reconhecimentos importantes como o Prêmio Georg Trakl em 1962 e o da União dos Escritores Austríacos (Preis des Österreichischen Schriftstellerverbandes) em 1972. Seus livros incluem, em poesia, Die selige Spur (1919), Der himmlische Spiegel (1927) e o importante Dem dunklen Gott. Ein Jahresgedicht der Liebe (1932), gerado e marcado por suas agruras amorosas com Yvan Goll. Em prosa, viriam os livros de memória Buch des Lebens (1936) e Träume. Aufzeichnungen aus den Jahren zwischen 1920-1960 (1962).
Quando seu primeiro livro após o retorno à Europa seria publicado, Paula Ludwig escreveu à editora: “Por favor, evitem notas biográficas. Minha vida foi relativamente excepcional demais para que eu possa resumi-la. Nascida: 5.1.1900; doravante morta centenas de vezes! Fuga de Berlim 1933! Fuga do Tirol 1938! Fuga de Paris 1940! 13 anos no Brasil; 1953, volta ao lar – fatal! -”
Seu livro documentando poeticamente a relação turbulenta com Yvan Goll, Dem dunklen Gott, um belo, belo livro, é o mais fácil de ser encontrado, mas seus poemas foram reunidos, e a memória da autora vem retornando à cultura germânica. Mereceria ser lida também por nós. Ainda que sua passagem pelo Brasil não tenha deixado marcas no país, algo do país parece ter deixado marcas na autora, como o belo poema dedicado a nosso grande arquiteto e escultor demonstra.
100 anos do Cabaret Voltaire e do dadaísmo
Há 100 anos, na noite de 5 de fevereiro de 1916, um grupo de refugiados de guerra dava início à primeira sessão do Cabaret Voltaire, no mesmo prédio do Kneipe (boteco) conhecido como Meierei, em Zurique. À época, a cidade suíça estava repleta de exilados e refugiados. Lênin, por exemplo, vivia na mesma rua do Cabaret Voltaire, a Spiegelgasse. Dentro de alguns meses, o Cabaret Voltaire se desdobrou na revista Dada e num dos movimentos de vanguarda mais influentes do século 20 – grupo que estudaríamos décadas mais tarde em manuais de literatura como dadaísmo.
Iniciado pelo casal alemão Hugo Ball e Emmy Hennings, o Cabaret Voltaire contaria ainda com a participação dos romenos Tristan Tzara e Marcel Janco, do alemão Richard Huelsenbeck e do casal Hans Arp, nascido na Alsácia, e Sophie Taeuber, a única suíça do grupo. A ideia inicial que os movia era rebelar-se contra a mentalidade militarista e nacionalista que lançara o continente europeu na Primeira Guerra Mundial. Mas o casal Ball e Hennings também precisava de dinheiro. Nada melhor, portanto, do que iniciar um cabaré na pacata Zurique, na neutra Suíça.
A Grande Guerra entrava em seu terceiro ano. De cada lado, rei, kaiser e tzar da mesma família – George V, do Reino Unido; Wilhelm II, da Alemanha; e Nícolas II, da Rússia, eram primos. E imbuídos de uma mentalidade imperialista do século 19, lançavam homens jovens e civis em meio a bombas e canhões do século 20. Vários escritores do início do século morreriam naqueles campos de batalha, como os britânicos Wilfred Owen e Isaac Rosenberg ou o alemão August Stramm. Em decorrência da guerra, perderíamos ainda o austríaco Georg Trakl e o francês Guillaume Apollinaire. Em julho de 1916, com o Cabaret Voltaire ainda em atividade, viria a batalha do Somme, na qual dezenas de milhares de soldados morriam a cada dia.
Era este o contexto do Cabaret Voltaire. Não se pode falar dessa vanguarda histórica sem mencionar contra o que se rebelavam. Pois não se tratava simplesmente do novo pelo novo ou de apenas chocar os burgueses. Esses poetas e artistas pacifistas, contra a mentalidade belicista prussiana comandando seu lado da guerra, queriam deter a maquinaria de moer gente. Suas escolhas tinham sim um caráter de choque, quase de agitprop, como se veria depois entre os artistas ligados à Revolução Russa. Mas, ao escolher um cabaré como plataforma de exposição, ao proferir poemas sonoros sem sentido linguístico decodificável, ao fazer seu teatro de marionetes, suas máscaras de papelão, estes homens e mulheres iam contra tudo o que se considerava arte séria naquele momento e tinham um inimigo claro e poderoso à frente, que vinha matando há anos.
O Cabaret Voltaire duraria apenas alguns meses. Logo, despreocupados em garantir que a empreitada fosse rentável, não conseguiram mais pagar o aluguel do boteco. Mas o grupo seguiria editando a revista Dada, escrevendo seus manifestos e exportando o movimento para outras cidades.
Em Berlim, como de praxe, o movimento se tornaria explicitamente político nas mãos e mentes de Raoul Hausmann, Hannah Höch, John Heartfield e Johannes Baader. A eles se uniria George Grosz, já conhecido desde os tempos do expressionismo. Não aceito pelo grupo em Berlim, Kurt Schwitters retornaria a Hannover, onde iniciaria seu próprio movimento, o Merz, nome formado após recortar as letras de Kommerz (comércio) de uma campanha publicitária.
Em Nova York, Marcel Duchamp e Francis Picabia, após passagens por Zurique e Paris, se uniriam a americanos como Beatrice Wood para editar a revista Blind Man. Nos Estados Unidos, os readymades de Duchamp tornaram-se famosos, como o urinol e a cadeira com roda de bicicleta. Ainda que o movimento tenha sido dado por encerrado, artistas como o fenomenal John Heartfield seguiriam fazendo suas colagens contra os nazistas em plena década de 1930, com os assassinos já no poder, correndo grande risco.
A historiografia literária tende a julgar o sucesso de um movimento artístico por datas de início e fim, ou pela fama póstuma de seus autores. É com frequência que se lê que Dada não esteve entre os movimentos mais influentes do século 20, dando-se esta honra ao surrealismo, que nasceu do dadaísmo, ou a movimentos de caráter construtivista, em especial no Brasil, onde a poesia concreta deu atenção especial a tais artistas. Mas o espírito que guiou Dada pode ser facilmente mostrado como um dos mais frutíferos do período.
Quando acabou a Segunda Guerra, fruto que foi da Primeira, e artistas ao redor do continente e do globo retomam os experimentos das primeiras vanguardas, foi ao Cabaret Voltaire e ao Dada que muitos deles retornaram. Na Áustria, um dos mais fiéis a este espírito foi o Grupo de Viena, com H.C. Artmann, Gerhard Rühm, Konrad Bayer e Friedrich Achleitner. Suas performances no Art Club da capital austríaca na década de 1950 são reignições das práticas do Cabaret Voltaire, retornando a poemas sonoros, satíricos e performances contestadoras do estado respeitável das coisas.
Em Paris, Idisore Isou, compatriota romeno de Tristan Tzara, deu início ao Movimento Letrista, do qual logo surge a Internacional Situacionista, grupos com práticas altamente políticas, rebelando-se contra a mentalidade socioeconômica de seus países. As apropriações de comerciais por Guy Debord em seus filmes tem raízes nas práticas de Höch, Hausmann, Heartfield e Schwitters. Em Barcelona, nasce o movimento catalão Dau al Set (“dado no 7”, indicando já no nome seu espírito Dada), com Joan Brossa, Modest Cuixart, Joan Ponç e Antoni Tàpies, entre outros. Assim como os vários independentes, do poeta sonoro Henri Chopin ao inclassificável, também romeno, Ghérasim Luca. Movimentos como a Pop Art, o Fluxus e até o Punk são impensáveis sem as contribuições do Cabaret Voltaire.
E isso se dá também porque o espírito do Dada, antes de ser um destruidor de tradições, foi o de reconectar a tradições então desprestigiadas pela alta cultura. Os poemas sonoros de Hugo Ball, Kurt Schwitters e Raoul Hausmann os ligam a tradições e práticas milenares que jamais abandonaram a humanidade, como o canto gutural dos inuítes, canções ameríndias, os puirt à beul (sons na boca) gaélicos, o joik dos lapões (ou saamis, o único grupo indígena da Escandinávia), e assim por diante, assim como a arte de Sophie Taeuber, Emmy Hennings e Hannah Höch permanecem entre nós na arte visual em colagens e apropriações, e, no teatro, foram altamente influentes para a criação cenográfica. A poesia satírica desses autores tem precursores nos Goliardos, os padres-poetas beberrões da Idade Média, nos poetas ingleses do nonsense, como Lewis Carroll e Edward Lear, no alemão Christian Morgenstern e até mesmo no brasileiro Qorpo Santo.
Ao escrever sobre essas figuras hoje, 100 anos depois de sua primeira explosão em nosso meio, o que os torna ainda vivos e necessários vai além de suas contribuições inestimáveis às práticas artísticas: pois, ao se rebelarem contra a máquina de moer gente dos senhores da guerra, estes homens e mulheres reforçaram nossa crença de que o artista e o poeta devem estar ligados a seu tempo, fazendo-se voz de suas comunidades. E nestes tempos de guerras e refugiados, assim como em 1916, precisamos muito de artistas desse calibre.
Natal e o suicídio de Raul Pompeia
Neste 25 de dezembro, o Brasil estava ocupado, como todo ano, em enfeitar árvores de plástico e gastar energia elétrica com iluminações que fingem ser neve. Em shoppings, homens suavam sob a fantasia de um Papai Noel ártico sob o sol dos trópicos, como um pinguim perdido em Ipanema. Famílias e amigos estavam reunidos, e é natural que qualquer outro aniversário além deste do Cristo passasse despercebido. Pois, naquele dia, completavam-se também 120 anos do suicídio de Raul Pompeia no Rio de Janeiro, com sua mãe presenciando a cena. É difícil não ver a escolha da data como simbólica, um suicídio no Natal.
“Talvez seja amolecimento cerebral, pois que Raul Pompeia masturba-se, e gosta de, altas horas da noite, numa cama fresca, à meia luz de veilleuse mortiça, recordar, amoroso e sensual, todas as beldades que viu durante o seu dia, contando em seguida as tábuas do teto onde elas vaporosamente valsam.” São palavras de Olavo Bilac, em artigo de 1892, no jornal O Combate. Não se trata exatamente de um momento alto no debate intelectual brasileiro.
A polêmica entre os dois escri tores centrava-se na figura do presidente Floriano Peixoto, o “marechal de ferro”, que começava a reprimir de forma violenta as forças opositoras a seu Governo. Uma delas foi a Revolta da Armada, que tivera início já em março de 1892, quando treze generais enviaram uma carta-manifesto a Peixoto, que exercia então o cargo de Presidente da República após a renúncia de Deodoro da Fonseca, na qual exigiam a convocação de novas eleições presidenciais. Pela Constituição de 1891, estavam previstas novas eleições caso o presidente eleito desocupasse o cargo antes da metade do mandato, mas Floriano Peixoto, alegando que a primeira eleição após o Governo Provisório não fora direta, prendeu os generais e os desterrou para a região amazônica, como faria com outros opositores.
tores centrava-se na figura do presidente Floriano Peixoto, o “marechal de ferro”, que começava a reprimir de forma violenta as forças opositoras a seu Governo. Uma delas foi a Revolta da Armada, que tivera início já em março de 1892, quando treze generais enviaram uma carta-manifesto a Peixoto, que exercia então o cargo de Presidente da República após a renúncia de Deodoro da Fonseca, na qual exigiam a convocação de novas eleições presidenciais. Pela Constituição de 1891, estavam previstas novas eleições caso o presidente eleito desocupasse o cargo antes da metade do mandato, mas Floriano Peixoto, alegando que a primeira eleição após o Governo Provisório não fora direta, prendeu os generais e os desterrou para a região amazônica, como faria com outros opositores.
Raul Pompeia, republicano convicto, ligado aos líderes abolicionistas, com vários momentos que nos levam a admirar sua biografia, mostrava-se um dos mais ferrenhos defensores do ferrenho marechal, vendo em Peixoto o epíteto de Consolidador da República que ainda lhe é atribuído. Lembramos que o quase fanatismo dos florianistas seria satirizado por Lima Barreto em Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado como folhetim ao longo de 1911, assim como também saiu em folhetim ao longo de 1888 a obra-prima de Raul Pompeia, O Ateneu, ainda em tempos monárquicos.
Eu tenho uma grande admiração pela geração de intelectuais brasileiros das duas últimas décadas do século 19. Trata-se de um período fulcral para a cultura do país, no qual alguns dos nossos melhores escritores se mostravam críticos mordazes das contradições tanto do Império como da infante República, nascida de um golpe de Estado e sem base popular. Em um ensaio intitulado “Elogio dos modernos em oposição aos modernistas”, escrevi que, comparados “com esta geração das duas últimas décadas do século XIX, a ânsia celebratória do Grupo de 22 me parece por vezes incrivelmente infantil. Seria importante comparar as atitudes críticas perante o País, que chegam às tentativas de criação de mitos fundadores, mesmo que críticos, em Macunaíma e Cobra Norato, vinda dos relatos findadores que são Os Sertões, Esaú e Jacó e O Ateneu. Pois, enquanto o Grupo de 22 por vezes se entregava a celebrar, esta geração anterior atacava muito mais impiedosamente. Contra os mitos de fundação (impulso épico) dos Modernistas, nossos Modernos, em seu impulso antiépico, davam-nos seus relatos de findação, ou, como gosto de chamar os textos de Luiz Gama, Qorpo-Santo, Sapateiro Silva, Machado de Assis, Raul Pompeia, Sousândrade e Cruz e Sousa: não mitos da fundação, mas crônicas do afundanço.”
Raul Pompeia não ocupa em nosso imaginário uma posição particularmente alta, nem pode-se dizer que tenha a mesma importância de um gênio como Machado de Assis. Lido em geral quando somos bastante jovens, ainda na escola ou em período de vestibular, não é um escritor que revisitamos ao longo da vida como o próprio Machado ou Lima Barreto. Seu único livro importante é mesmo O Ateneu, e a qualidade de seu estilo não é unanimidade. Chamado às vezes de “impressionista”, com uma escrita que pode parecer camp (se me permitem o anacronismo) a outros, não está entre nossos “escritores magros”, como diria José Lins do Rego, os da elegância minimalista. Sua escrita é violenta, exuberante, como nos trabalhos de Lúcio Cardoso e Roberto Piva. A escolha de mencionar estes autores não é acidental.
Eu ainda me lembro quando, adolescente, li num manual de História da Literatura Brasileira sobre a suposta homossexualidade de Raul Pompeia. Aquilo imediatamente o marcou como um heroi em meu romantismo juvenil, mesmo que eu hoje saiba que não se pode afirmar com qualquer certeza qual a sexualidade do autor, e que o manual escolar seguira as fofocas da época, caracterizando-o ainda como “hipersensível, um homem com nervos à flor da pele.” Há aí, eu diria, ainda hoje um ataque e condenação, mesmo que velados, uma forma de desrespeito que segue ainda entre nós.
Se há em sua linguagem por vezes algo que denuncia a época, e que poderia ser chamado de “datado” especialmente quando pensamos na atualidade da escrita de Machado de Assis, jamais esqueci a violência de certas passagens memoráveis de O Ateneu, e a presciência do autor em trazer a sexualidade humana para o centro da sua crítica política e cultural, as repressões e violências latentes, mais de uma década antes de Sigmund Freud tomar o mundo de assalto com A Interpretação dos Sonhos (1901). Há algo em Raul Pompeia que sempre me pareceu ligá-lo neste aspecto ao austríaco Arthur Schnitzler, seu contemporâneo exato, ainda que este tenha vivido muito mais e tenha tido tempo para polir sua forma.
A cena do banho, em que um estudante quer se vingar dos outros com cacos de vidro na piscina, naquela ameaça de banho de hormônios e sangue, ou a violência de fim de mundo com que o escritor termina sua alegoria do Império, indo aos ares em chamas, me impressionou muito quando li o romance. Suicidando-se aos 32 anos de idade, com um tiro no peito em pleno natal carioca de 1895, Pompeia entra para o rol de escritores brasileiros que nos deixaram um obra pequena, mas que ainda podem suscitar discussões entre nós. Falar sobre o que teriam feito se tivessem vivido mais é pura conjectura. Pessoalmente, com O Ateneu, Raul Pompeia ainda permanece em meu imaginário, como parte de uma certa linhagem intelectual brasileira, a dos intransigentes e inconformados, violentos em sua negação das hipocrisias do país. Machado de Assis e Clarice Lispector, também violentos, escolheram caminhos muito mais sutis, seria possível argumentar.
Ainda que Décio Pignatari tenha escrito que alguém precisava ser medula e osso na geleia geral brasileira, escritores como Machado, Clarice, Lima Barreto ou Graciliano Ramos, para citar alguns, vinham cumprindo já esta função, à qual se uniram, com certeza, o próprio Décio Pignatari e Augusto de Campos. Mas quando penso no estilo exuberantemente violento de homens e mulheres como o Sousândrade de “O Inferno de Wall Street”, o Euclides da Cunha de Os Sertões, o Lúcio Cardoso de Crônica da Casa Assassinada, a Hilda Hilst de Qadós, ou o Roberto Piva de Piazzas, com, é claro, o incendiário Raul Pompeia de O Ateneu, pergunto-me que papel quiseram cumprir na geleia geral brasileira. Intuo que o de lança-chamas. Sinto-me em casa com eles.
Svetlana Alexievitch deu voz aos sobreviventes de catástrofes do século 20
Acaba de ser anunciado em Estocolmo o Prêmio Nobel de Literatura de 2015: a prosadora e jornalista Svetlana Alexievitch. Nascida na então União Soviética na cidade de Stanislav, hoje Ivano-Frankivsk, na Ucrânia, a escritora e jornalista tem passaporte bielorrusso. Há algum tempo meu amigo Emanuel John, um jovem filósofo alemão, vinha recomendando o trabalho dela para mim, elogiando sua “prosa poética, lacônica, e política, totalmente propícia para nosso tempo”. Ele a considera um dos grandes autores de nosso tempo. Graças a ele, pude ler apenas páginas do livro As Últimas Testemunhas: Crianças na Segunda Guerra Mundial, com relatos de sobreviventes infantis entre os escombros. É leitura perturbadora.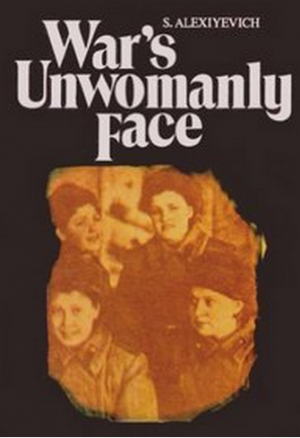
Seu livro mais conhecido talvez seja A Face Nada Feminina da Guerra, de 1985, mais uma vez voltando-se para aqueles que sofrem com os grandes acontecimentos da História, ainda que distantes de palácios e trincheiras. O livro salva as vozes das mulheres em meio à Segunda Guerra Mundial. Não creio jamais ter ouvido falar de uma tradução sua para o português. Mesmo a edição americana de A Face Nada Feminina da Guerra está esgotada e passou a custar uma fortuna imediatamente após o anúncio do prêmio.
Destinado a autores que tiveram não apenas um impacto literário, mas político, segundo as próprias palavras arrependidas de Alfred Nobel, milionário da pólvora, o prêmio catapulta para os holofotes uma escritora que trata a literatura como testemunho, dando vozes para os mortos e para os sobreviventes impotentes.
Premiar um autor do antigo círculo soviético tem seu valor político neste momento. Ainda que a censura seja proibida em Belarus (Bielorrússia), há uma lei que prevê cinco anos de detenção a quem insulte o presidente. Criticar o país no estrangeiro pode levar a dois anos de cadeia.
Enquanto isso, a região segue em verdadeiro pé de guerra. Nascida em uma cidade importante da Ucrânia hoje, com nacionalidade bielorrussa e escrevendo em russo, a autora trará por alguns dias a atenção mundial uma vez mais para uma crise que se desenrola perante nossos olhos, enquanto tragédias ao sul ocupam a política europeia.
Voltarei hoje ao volume As Últimas Testemunhas: Crianças na Segunda Guerra Mundial, em alemão, e aguardarei a reedição anglófona de A Face Nada Feminina da Guerra, com uma esperança tênue de que o Brasil também receba a escrita da autora.








Feedback