Reserve suas vaias para o estádio de futebol, leitor
Ao ser convidado para um festival literário, qualquer escritor espera estar ali para discutir seu trabalho, sua escrita, seus livros em primeiro lugar. Quem negaria isso a um escritor americano ou francês? Qualquer escritor brasileiro em Nova Iorque ou Paris gostaria também de ser tratado primordialmente como escritor, se é nesta função que está em evento qualquer em tais cidades. Pois a Folha de S. Paulo, em manchete bombástica, nos informa que o escritor sírio Abud Said foi recebido com vaias ao esperar do público brasileiro esta cortesia tão corriqueira [“Poeta sírio critica direitos humanos e é vaiado e xingado de ‘babaca’“, Folha de S. Paulo, 03.07.2016].
Eu não estava presente no evento da FLIP para saber exatamente como a situação transcorreu. Em artigo no El País Brasil, a jornalista Camila Moraes nos dá uma narrativa mais equilibrada sobre o que houve [“Abud Said, um ‘outsider’ na Flip, é vaiado e aplaudido pelo público“, El País Brasil, 03.07.2016]. O que posso dizer é que já participei de um evento literário ao lado de Abud Said e conheço sua verve, seu humor, e sua recusa a apresentar-se como algumas pessoas na plateia, talvez, esperavam que ele se apresentasse: sob o signo do coitadismo. Pois no evento na Eslovênia onde estive com o sírio, ele também se recusou a desempenhar um papel que nossas plateias ocidentais com frequência esperam de intelectuais de países em conflito. Ele não estava na Eslovênia ou no Brasil como refugiado, como mera estatística, mas como escritor.
Estou certo que as intenções da mesa eram sinceras, ao tentar discutir a Guerra Civil Síria no Brasil. Estou certo que algumas pessoas tinham também um interesse genuíno. Mas dou todo o meu apoio a Abud Said por escolher falar como Abud Said, o escritor, e não como “o sírio do festival.” Se algumas de suas declarações podem parecer polêmicas ou provocativas, por que sinto que estas características teriam sido louvadas em um escritor americano ou francês? Mas, destes, esperamos aprender algo, com nossa subserviência colonial. De certos “outros”, queremos apenas saber de suas experiência, não de sua inteligência. Said não quis cumprir o papel que se esperava dele. Não quis apenas dar aos brasileiros mais um exemplo do que já foi chamado de war porn, antes que voltassem para suas confortáveis pensões. O que li nestes artigos fez-me ver apenas um ato de coragem de sua parte, e de generosidade.
Aos que se mostrarem abertos e atentos, Abud Said deu ontem ao público brasileiro uma lição. Resta saber se estamos abertos para a aprendizagem.
No cemitério com Sebald
Não muito longe de onde moro em Berlim, no bairro de Prenzlauer Berg, na antiga Berlim Oriental, há um cemitério pequenininho, o Friedhofspark Pappelallee, ou, literalmente, Cemitério-Parque da Pappelallee. A palavra parque é um dos motivos pelos quais eu, por muito tempo, não percebi que se tratava de um cemitério, apesar de ter vivido naquela rua por alguns anos. O cemitério, que já não recebe novos moradores definitivos, é hoje em dia usado como um parque. No verão, vive cheio de mães e crianças, todas muito vivas. Quando finalmente percebi que era um cemitério, aquilo me causou muita estranheza.
No Brasil, quando minha mãe nos levava ao cemitério de Bebedouro para lavar o jazigo da família, naquele ritual de Dia dos Finados que já parece ter caído em desuso em São Paulo (toda tradição e todo ritual morrem primeiro em São Paulo), ao chegar em casa ela nos despia por completo, e lavava tudo, inclusive os sapatos. Nunca me esqueci da primeira vez que perguntei por quê: “não se traz morte para casa”, ela disse. É claro que havia um motivo, digamos, empírico para a coisa. Acreditando que o lugar estava cheio de micróbios, ela achava melhor lavar as crianças. Mas em mim calou fundo o sentido místico da coisa: não se traz morte para casa. Entre a ciência dos micróbios e a superstição do mórbido, antes estar seguro. Cemitérios, por toda a minha vida, ficaram marcados como lugares que, se possível, alguém deve evitar.
Há uma diferença grande entre os cemitérios brasileiros e alemães, é claro. Todos de concreto, nos quais a vida se esgueira como erva-daninha entre rachaduras, os cemitérios brasileiros são mesmo lugares lúgubres. Na Alemanha, são os lugares mais verdes e agradáveis que alguém pode encontrar, às vezes, num raio de quilômetros. Em 2012, após dizer a amigos mais uma vez que era óbvio que não, eu não queria dar uma volta no cemitério, e após terem rido de mim pela óbvia besteira supersticiosa minha, resolvi que me curaria dela na marra: estava prestes a começar a ler um livro novo e decidi que só o leria, nas próximas semanas, no cemitério. Era verão. Eu estava passando alguns meses em Kreuzberg, próximo ao complexo dos quatro cemitérios da Bergmannstrasse. O livro em questão era Os Anéis de Saturno (1995), do alemão W.G. Sebald (1944–2001). Não sei se estava preparado para o quão apropriada era a escolha do acaso destineiro.
O cemitério que passei a visitar para ler o livro era o Friedrichswerderscher Friedhof, próximo à Marheinekeplatz. É um lugar bastante calmo e bonito. Eu nem me embrenhava muito nele. A alguns metros da entrada há um banco, onde me sentava. Havia túmulos às minhas costas e à minha frente. Ali comecei a descida em espiral que é o livro de Sebald, talvez o mais celebrado autor alemão (fora da Alemanha) dos últimos 20 anos. Na Alemanha, a fortuna crítica de Sebald é estranha, como a de Celan (mas isto é assunto para outro texto).
O livro tem como subtítulo Uma peregrinação inglesa. O narrador, sem nome, que se confunde com o autor, narra sua caminhada pelo leste do país, em East Anglia (é deste povo antigo que deriva o nome Inglaterra), em Norfolk e Suffolk. O narrador descreve o que vê em sua caminhada, pausando para o que parecem digressões históricas sobre vários assuntos aparentemente desconexos: do mais famoso tradutor do alemão para o inglês, Michael Hamburger, ao naturalista inglês Thomas Browne (1605 – 1682); da introdução de bichos-da-seda à Europa e fabricação do tecido ao disco dourado que seguiu na Voyager 2 em sua viagem ao Espaço; de uma visita à Chestnut Tree Farm, onde um certo Thomas Abrams vem dedicando anos de sua vida a construir uma réplica em miniatura do Templo de Salomão, aos horrores da colonização belga no Congo.
Se no começo o leitor parece perder-se, esperando quais as ligações entre um naturalista inglês e uma espaçonave, entre bichos-da-seda e uma réplica em miniatura do Templo de Salomão, ele não tarda a ser tomado pela mão por Sebald, que vai fechando os círculos narrativos, demonstrando a ligação entre todas estas coisas, mas não de forma definitiva, para que sigamos em nossa queda em espiral pelos escombros da História. É uma lenta narrativa da decadência. Como se, enquanto o Anjo de Klee olha para trás, descrito por Walter Benjamin como encarando a tempestade da História que vem às costas, Sebald nos levasse por uma peregrinação não apenas pelo leste da Inglaterra, mas pelos escombros que se amontoam aos pés daquele anjo com torcicolo.
Curei-me do horror a cemitérios. Mas fiquei alguns dias mal, sem conseguir sair do cemitério que é a História. Um livro que se quer despretensioso, um misto de diário de caminhada e meditação, Os Anéis de Saturno é um dos livros mais fascinantes que já li. Talvez tenha sido a última vez que senti febre ao ler um livro. Mas, num cemitério ou num parque, sente febre apenas quem está vivo. E os vivos criam fronteiras entre terras e suas histórias para esquecer que os mortos do mundo estão todos de mãos dadas, à nossa espera.
Volta a Berlim em algumas artes
Quando eu morava em São Paulo na virada do milênio, não havia uma exposição, filme ou encontro que eu quisesse perder. Íamos do MAM-SP ao CineSESC, do Instituto Tomie Ohtake à Biblioteca Mário de Andrade, se possível num mesmo dia. Era aquele ritmo estonteante, jovens que queriam ver tudo, saber tudo. A idade e os compromissos com a tela do computador começam a atrapalhar mais tarde. Sempre digo a amigos mais jovens que estão escrevendo o primeiro livro: aproveite esta liberdade maravilhosa.
O ritmo em Berlim é vertiginoso também, ainda que nos últimos tempos eu mal possa acompanhar tudo. Não há uma semana em que não haja algo “imperdível” acontecendo, de concertos de grandes nomes (esta semana foram PJ Harvey e Bruce Springteen) a apresentações de amigos que estão já fazendo suas carreiras na cena local. Mas o que me interessa mais, especialmente nesta página, é poder espalhar alguns nomes que demorariam ainda algum tempo para aparecer na imprensa principal. Antes da internet, viver no Brasil e esperar notícias rápidas do que os contemporâneos e mais jovens estão fazendo em outro país era praticamente impossível. Na literatura, dependia-se de traduções, e seja nela ou na música, nas artes visuais, etc., dependia-se de publicações estrangeiras caras e especializadas. Então seguem aqui alguns nomes que eu recomendo seguir, de gente da minha geração e dos mais jovens, explodindo agora no subterrâneo, como minas.
O poeta norte-americano Frank O’Hara (1926-1966) tem um poema famoso chamado “Why I am not a painter”, que diz, nas primeiras linhas (a tradução é minha): “Eu não sou pintor, sou poeta. / Por quê? Eu acho que preferiria ser / pintor, mas não sou.” Em outro poema ele diz às vezes acreditar que “estava apaixonado por pintura”. Não sei se preferiria ser pintor, mas tenho um prazer grande em estar ao redor deles. Esta semana, visitei o estúdio do jovem pintor alemão Malte Zenses, que vem despontando na cena alemã, com exposições individuais (a última na galeria Kadel Willborn de Düsseldorf) e que acaba de passar pela feira Art Cologne.
Nascido em Solingen em 1987, ele estudou em Offenbach com o escultor alemão Wolfgang Luy, e formou com outros artistas da academia o coletivo Neue Offenbacher Schule (Nova Escola de Offenbach), ao lado de outros artistas que considero excelentes, como David Schiesser e Tom Król. O nome do coletivo joga com vários nomes oficiais, da Frankfurter Schule (de filosofia) à Leipziger Schule e Neue Leipziger Schule em artes visuais. É interessante visitar um artista de outra arte, com seus trabalhos em andamento nas paredes do estúdio. Recomendo ficar de olho nestes nom es.
es.
Outro encontro que tive esta semana foi com o músico e produtor alemão Nelson Bell, que se apresenta como Crooked Waves. Músicos talvez sejam os artistas que mais conheço em Berlim, por ter organizado vários concertos por aqui. De todos os mais jovens que conheço, entre os alemães, Nelson Bell está certamente entre os melhores e mais talentosos. Nascido em 1992 em Regensburg, na Baviera, ele teve uma infância incomum. Devido ao trabalho do pai, cresceu na Namíbia, passando mais tarde pela Irlanda e terminando seus estudos escolares em Seattle, nos Estados Unidos.
Em Berlim há três anos, onde está estudando produção musical eletrônica, ele está prestes a lançar seu EP de estreia, chamado Floating. Uma das faixas já estreou na Rede, intitulada “Little Mess” e com vocais da nipo-americana Lynn Rin Suemitsu, que se apresenta como RIN. Clique aqui para ouvir.
No sábado, consegui ver, no último dia, a exposição do fotógrafo alemão Heinz Peter Knes na galeria berlinense Silberkuppe. Nascido em Gemünden am Main em 1969, Heinz Peter Knes é da mesma geração de outros fotógrafos alemães que se tornaram famosos por seu trabalho em publicações de moda inglesas como Wolfgang Tillmans. Baseado em Berlim, Knes é menos conhecido internacionalmente, mas figura icônica especialmente do mundo queer após uma série sua na revista Butt.
Terminei o fim de semana em uma das melhores séries de leitura da cidade, a da revista artiCHOKE. Com uma performance da nova peça das britânicas Lisa Jeschke e Lucy Beynon, simplesmente excelente, e leituras de Jackqueline Frost e do também excelente poeta norte-americano Rob Halpern, autor de um dos grandes livros do nosso tempo, Music for Porn, entre outros. Alguns dos pontos do turbilhão berlinense. Mais, no próximo.
A Paixão segundo Orlando
Em algumas horas, casais heterossexuais por todo o Brasil, com a sanção da mídia, do governo, dos pais, começariam a festejar outro Dia dos Namorados. Andariam de mãos dadas pelas avenidas e praças do país, visitariam cinemas, seriam vistos aos beijos e abraços do Oiapoque ao Chuí.
Nenhum casal sofreria ataques simplesmente por beijar-se. Era dia de festejar o amor, a paixão – essa palavra que já significou sofrimento. “A Paixão de Cristo”, “A Paixão segundo Mateus”, “A Paixão segundo GH”, esses títulos passam por minha cabeça. Na televisão, os comerciais mostrariam homens e mulheres demonstrando carinho e esta outra paixão nova nossa sem que alguém planejasse boicotes a qualquer uma das marcas.
O dia seria diferente para os homossexuais brasileiros, e todos os que não se enquadram nos moldes do patriarcado monoteísta. Teriam que tomar cuidado, saber bem onde estavam ao se beijarem, abraçarem, demonstrarem carinho em público.
Nosso quinhão de terra preparava-se para receber os primeiros raios de sol neste Dia dos Namorados, enquanto homossexuais eram metralhados num clube noturno nos Estados Unidos, em nosso mesmo continente americano. O horror que não cessa. O horror racista, o horror homofóbico, o horror machista. Quantos homossexuais foram mortos no Brasil este fim de semana? Quantos Orlandos cabem no Brasil?
Orlando. Orlando sobreviverá. Como no romance de Virginia Woolf, Orlando prevalecerá. Todos os Orlandos prevalecerão. Pelas redes sociais, estão dizendo “Rezem por Orlando”. Não. Dancem por Orlando. Cantem por Orlando. Façam sexo por Orlando.
Há que se ter solidariedade e desacato neste momento. Como escreveu nas redes sociais o jornalista Schneider Carpeggiani, do Suplemento Pernambuco, esse ataque tem força simbólica por atingir a comunidade LGBT em seu espaço de proteção e empoderamento: a pista de dança. O presidente dos EUA, Barack Obama, demonstrou compreensão sobre a comunidade ao mencionar isso em seu discurso sobre o ataque.
Penso na paixão de todos os mortos do patriarcado monoteísta. E penso na paixão de Federico García Lorca. Na paixão de Alan Turing. Na paixão de Pier Paolo Pasolini. Essa é uma página de literatura. Minha solidariedade e desacato chegam a vocês em forma de poemas. Contra todos os fanáticos monoteístas do patriarcado mundial.
Eros
fragmento de Safo de Lesbos
[queima-nos]
#
Poema 99
Caio Valério Catulo
Um selinho mais doce que doce ambrosia,
Juvêncio, te roubei quando brincavas.
Mas não impunemente: pois da cruz mais alta
me vejo, há uma hora ou mais, pendido
pedindo-te perdão, e sem que minhas lágrimas
consigam aplacar a tua ira.
Assim que te beijei, teus dedos delicados
te lavaram o lábio com gotículas,
de modo que do meu no teu não resta nada,
pois julgaste ser mijo, não saliva.
Desde então me castigas com um amor negado,
e de tantas maneiras me excrucias,
que vejo, então, mudado o beijo de ambrosia
em amargor pior que o mesmo amargo;
por um selinho amor assim me castigou:
o que faria, ai, ai, se fossem dois?
(tradução de Érico Nogueira)
#
[Com vinho, dizendo que é vinho, enche-me a taça]
Abū Nuwās al-Ḥasan ibn Hānī al-Ḥakamī
Com vinho, dizendo que é vinho, enche-me a taça,
Pois beber furtivamente não há quem me faça.
Pobre e maldito é o tempo em que sóbrio fico,
Mas quando trôpego pelo vinho torno-me rico.
Não escondas por temor o nome do bem-amado;
O prazer verdadeiro nunca deve ser ocultado.
(tradução de Paulo Azevedo Chaves)
#
A origem
Konstantínos Kaváfis
Consumara-se o prazer ilícito.
Ergueram-se ambos do catre humilde.
À pressa se vestiram, sem falar.
Saíram separados, furtivamente;
e, ao caminhar inquietos pela rua,
como que receavam que algo neles traísse
em que espécie de amor há pouco se deitavam.
Mas quanto assim ganhou a vida do poeta!
Amanhã, depois, anos depois, serão
escritos os versos de que é esta a origem.
(tradução de Jorge de Sena)
#
De profundis amamus
Mario Cesariny
Ontem às onze
fumaste
um cigarro
encontrei-te
sentado
ficámos para perder
todos os teus eléctricos
os meus
estavam perdidos
por natureza própria
Andámos
dez quilómetros
a pé
ninguém nos viu passar
excepto
claro
os porteiros
é da natureza das coisas
ser-se visto
pelos porteiros
Olha
como só tu sabes olhar
a rua os costumes
O Público
o vinco das tuas calças
está cheio de frio
é há quatro mil pessoas interessadas
nisso
Não faz mal abracem-me
os teus olhos
de extremo a extremo azuis
vai ser assim durante muito tempo
decorrerão muitos séculos antes de nós
mas não te importes
muito
nós só temos a ver
com o presente
perfeito
corsários de olhos de gato intransponível
maravilhados maravilhosos únicos
nem pretérito nem futuro tem
o estranho verbo nosso
#
A piedade
Roberto Piva
Eu urrava nos poliedros da Justiça meu momento
abatido na extrema paliçada
os professores falavam da vontade de dominar e da
luta pela vida
as senhoras católicas são piedosas
os comunistas são piedosos
os comerciantes são piedosos
só eu não sou piedoso
se eu fosse piedoso meu sexo seria dócil e só se ergueria
aos sábados à noite
eu seria um bom filho meus colegas me chamariam
cu-de-ferro e me fariam perguntas: por que navio
boia? por que prego afunda?
eu deixaria proliferar uma úlcera e admiraria as
estátuas de fortes dentaduras
iria a bailes onde eu não poderia levar meus amigos
pederastas ou barbudos
eu me universalizaria no senso comum e eles diriam
que tenho todas as virtudes
eu não sou piedoso
eu nunca poderei ser piedoso
meus olhos retinem e tingem-se de verde
Os arranha-céus de carniça se decompõem nos pavimentos
os adolescentes nas escolas bufam como cadelas asfixiadas
arcanjos de enxofre bombardeiam o horizonte através
dos meus sonhos
Berlim: cidade de festivais (no momento, o de poesia)
O festival mais conhecido de Berlim é sem dúvida o de cinema, a Berlinale, tradicionalmente em fevereiro. Mal o ano começa e o burburinho sobre cineastas, filmes, atores e atrizes se inicia. Quem vai presidir o festival este ano? Quem vai ser visto em tal restaurante? Se me permitem um aparte logo no início do texto, há algo de irritante aí. Berlim costumava ser um refúgio dessa loucura por celebridades, ricos e famosos. As coisas mudaram. Mas talvez haja nisso um desejo legítimo de estar menos isolada.
Situada no Centro da Europa em termos geográficos, Berlim (assim como Viena) tem um caráter forte de portão entre Leste e Oeste, e por vezes sinto uma neurose em colocar-se o mais a-oeste possível. Enfim, o Festival de Cinema de Berlim abre a série de tentativas genuínas da cidade, eu diria, de informar-se e formar-se com influências externas. Na história do festival, apenas dois filmes brasileiros venceram: Central do Brasil (em 1998), de Walter Salles; e Tropa de elite (em 2008), de José Padilha. Ambos não são exatamente unanimidade crítica no país.
Outro festival internacional importante é o de literatura, que ocorre geralmente em setembro. Os seguintes autores internacionais, entre outros, estiveram em Berlim no ano passado: Horacio Castellanos Moya (El Salvador), Michael Cunningham (EUA), Xiaolu Guo (China), Kazuo Ishiguro (Japão), Drago Jančar (Eslovênia), Javier Marías (Espanha), Laura Restrepo (Colômbia), Salman Rushdie (Índia), Wole Soyinka (Nigéria), Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (Polônia) e Banana Yoshimoto (Japão). Sendo um festival de literatura, sem estrelas de Hollywood, o burburinho é menor, mas a presença de prêmios Nobel causa o seu frisson ao menos nos cadernos culturais.
Na dança, algo forte em Berlim, há o Tanztage e o Tanz im August, ambos importantes. Mas, por questões pessoais, o festival que comanda minha atenção todos os anos acaba sendo o Poesiefestival Berlin, ou Festival de Poesia de Berlim, que está acontecendo neste momento. Este ano, de 3 a 11 de junho, na Akademie der Künste, passaram ou passarão pelos palcos e microfones poetas importantes como Luis Felipe Fabre (México), Caroline Bergvall (França, Noruega), Rasha Omran (Síria), Souleymane Diamanka (Senegal), Charles Simic (EUA), Niyi Osundare (Nigéria), Mamta Sagar (Índia), e outros.
Trata-se de um festival atento às questões políticas do momento, e o foco deste ano tem sido a crise migratória. Foi neste aspecto que o festival acabou por me doar a grande descoberta deste ano: o trabalho do poeta palestino Ghayath Almadhoun, nascido em 1979, num campo de refugiados na Síria, e agora, duplamente refugiado, vivendo na Suécia. Com um trabalho vocal e textual que lembra fortemente o de Mahmoud Darwish (1941–2008), Ghayath Almadhoun nos leva a rever nossas ideias preconcebidas sobre os refugiados da Guerra Civil Síria, como o faz em Berlim o sírio Abud Said, que tem livro lançado no Brasil este mês e que já discuti aqui.
Encerro este texto com minha descoberta, e convido vocês a verem o vídeo The celebration, de Ghayath Almadhoun, com tradução para o inglês, e que traz uma Berlim de não muito tempo atrás em suas imagens.



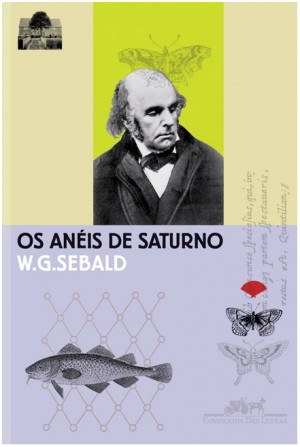


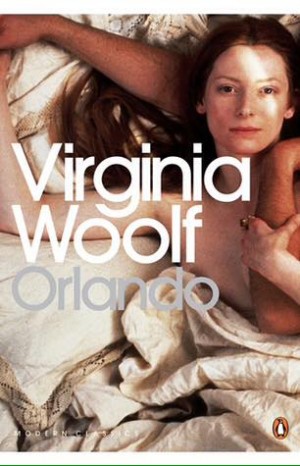




Feedback