Alguma escrita berlinense internacional
 Hoje (26/07) ocorre, na tradicional cervejaria Alt Berlin, o lançamento da antologia Your + 1: some Berlin-based international writing (Gully Havoc, 2016), que eu editei e reúne uma parcela da cena literária internacional em Berlim. O volume traz contos, poemas e letras de canções de brasileiros como Adelaide Ivánova e Érica Zíngano, britânicos como Leila Peacock, Annika Henderson e Hanne Lippard, o irlandês John Holten, os americanos Shane Anderson, Christian Hawkey e Jennifer Nelson, o ucraniano Serhiy Zhadan, a israelense Maya Kuperman, o australiano Luke Troynar (vocalista da banda Bad Tropes), o islandês Eiríkur Örn Norðdahl, e vários outros. É uma cena bastante viva e ativa, e percebi como seria impossível fazer um panorama de todas as cenas em um único volume. O segundo, que deverá trazer entre outros o sírio Abud Said, já está sendo preparado aos poucos.
Hoje (26/07) ocorre, na tradicional cervejaria Alt Berlin, o lançamento da antologia Your + 1: some Berlin-based international writing (Gully Havoc, 2016), que eu editei e reúne uma parcela da cena literária internacional em Berlim. O volume traz contos, poemas e letras de canções de brasileiros como Adelaide Ivánova e Érica Zíngano, britânicos como Leila Peacock, Annika Henderson e Hanne Lippard, o irlandês John Holten, os americanos Shane Anderson, Christian Hawkey e Jennifer Nelson, o ucraniano Serhiy Zhadan, a israelense Maya Kuperman, o australiano Luke Troynar (vocalista da banda Bad Tropes), o islandês Eiríkur Örn Norðdahl, e vários outros. É uma cena bastante viva e ativa, e percebi como seria impossível fazer um panorama de todas as cenas em um único volume. O segundo, que deverá trazer entre outros o sírio Abud Said, já está sendo preparado aos poucos.
Berlim tem uma posição sui generis no cenário ocidental, diferente de Paris ou Nova York. Já escrevi a respeito disso aqui [“Alemães e estrangeiros na cena literária berlinense”]. Tudo aqui parece um pouco marginal, fora da moda. Para alguns, é uma cidade atrasada, por não seguir sempre e exatamente o que Londres ou Nova York estão celebrando em termos de música, por exemplo. Eu prefiro pensar que Berlim simplesmente segue o seu caminho. Vai embrenhando-se nas possibilidades da música eletrônica quando Londres parece não se cansar das mesmas notas e solos de guitarra. Todo este tecno cansa, às vezes, é claro. Sou um apaixonado por cancioneiros, e há muito menos disso por aqui do que em outros países. Talvez seja uma dificuldade linguística. O mundo jamais se acostumou de verdade a canções em alemão como o fez com canções em inglês, ou mesmo em francês. Com a exceção de alguns exemplos como o duo Stereo Total no começo do século, as poucas bandas alemãs que têm demonstrado possibilidades de inserção mundial concentram-se em letras em inglês, como os meninos do grupo Sizarr e do duo Lea Porcelain. Um fenômeno alemão e em alemão como Deichkind jamais chegou realmente a ouvidos internacionais.
Esta mesma dificuldade separa as cenas literárias alemã e estrangeira na capital do país, assim como impede que um jovem autor alemão chegue a leitores internacionais facilmente. Qualquer escritor americano é imediatamente legível em qualquer parte do mundo, já que tantos leitores ao redor do globo têm o inglês como segunda língua. Mas, aos poucos, vamos todos nos aproximando. Levando estrangeiros aos alemães, e alemães aos estrangeiros. Hoje à noite, por exemplo, após os estrangeiros apresentarem seus textos em inglês, hebraico, português, sobe ao palco o jovem produtor alemão Nelson Bell, que se apresenta como Crooked Waves, para seu primeiro concerto. Temos muito o que aprender uns com os outros.
Livros que dão febre na boca
É assim que eu descrevo o efeito que certos livros têm em mim. Uma febre na boca. Uma sensação de aquecimento entre o diafragma e o palato. Um amolecimento dos dentes. Sei que a primeira vez que senti isso foi aos 17 anos, quando terminava o colegial nos Estados Unidos, lendo o romance O Dia Em Que Ele Mesmo Enxugará Minhas Lágrimas (1972), do japonês Kenzaburō Ōe, que havia acabado de ganhar o Prêmio Nobel. Não creio que o livro tenha tradução ainda para o português. Era 1994. O que no livro gerava a sensação? Ainda não sei com certeza. Tenho apenas pistas.
Aos 19, num barco cruzando um certo mar onde dizem que os velhos deuses iam banhar-se (antes de morrerem), senti a mesma febre lendo Go Tell It On The Mountain (1953), de James Baldwin, atormentado pelo jovem deus de Constantino. Ou dois anos mais tarde, num metrô da Zona Leste de São Paulo, fui tomado pela febre em meio aos outros passageiros, um medo de estar ficando líquido, ao ler A Hora da Estrela (1977), de Clarice Lispector, a febre irradiando-se a partir dos pulmões. No ano seguinte, enquanto cursava Filosofia na Universidade de São Paulo, fui possuído por uma das ocasiões mais fortes da febre ao ler Qadós (1973), de Hilda Hilst, enquanto devia estar lendo algum filósofo inglês da epistemologia, ou algum lógico francês.
Com certeza, houve a febre com alguns capítulos de Os Detetives Selvagens (1999), de Roberto Bolaño, e especificamente durante o capítulo 32 de Rayuela (1963), de J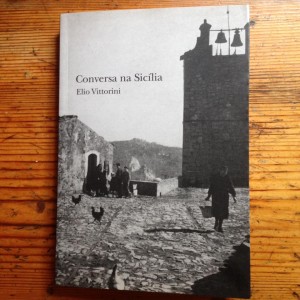 ulio Cortázar, aquela carta de La Maga a seu bebê Rocamadour: “Es así, Rocamadour: En París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a sebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Gregorovius y Wong y yo, Rocamadour, y como Perico y Ronald y Babs, todos hacemos el amor y freímos huevos y fumamos, ah, no puedes saber todo lo que fumamos, todo lo que hacemos el amor, parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando o cantando…”
ulio Cortázar, aquela carta de La Maga a seu bebê Rocamadour: “Es así, Rocamadour: En París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a sebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Gregorovius y Wong y yo, Rocamadour, y como Perico y Ronald y Babs, todos hacemos el amor y freímos huevos y fumamos, ah, no puedes saber todo lo que fumamos, todo lo que hacemos el amor, parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando o cantando…”
E em 2011, pior ano da minha vida, a febre ao ler Gravidade e Graça (1947), de Simon Weil, ou a novela Emma Enters a Sentence of Elizabeth Bishop’s, do volume Cartesian Sonata and Other Novellas (1998), de William H. Gass. A última vez que a senti foi em 2012, lendo Os Anéis de Saturno (1995), de W.G. Sebald. Agora, mais uma vez a sinto lendo a tradução brasileira do romance Conversa na Sicília (1937), de Elio Vittorini. A gente busca entre dezenas de livros justamente estes, que nos causam quase um transtorno de beleza. E nunca sabemos quais farão isso. Será que estes mesmos livros causariam em outros este transtorno de beleza? Vou voltar a isso no próximo texto.
O campo minado da língua alemã
Na semana passada, em conversa ao telefone com a romancista e poeta alemã Odile Kennel, com quem tenho a sorte de contar como tradutora, ela soltou a frase: “A língua alemã é um campo minado.” Estávamos discutindo sua tradução para o alemão de um artigo meu, escrito em português e que sairia em um jornal alemão, no qual fui convidado a falar sobre poesia e política. Tentávamos encontrar uma maneira de contornar as implicações nada salutares, em alemão, para uma palavra tão simples em suas implicações em português: “comunidade”. Se usássemos Gemeinde, caía-se em território da religião. Já Gemeinschaft poderia ecoar conceitos manchados pelo nazismo. Acabamos usando Gemeinwesen, por sugestão de Rainer Moehl, que no entanto tem um caráter mais abstrato do que comunidade em português. Escrever em português tendo que prever possíveis problemas de implicação política em alemão é enlouquecedor.
Pense em dois exemplos: ao discutirmos política em português é comum que palavras como “terra” e “povo” sejam invocadas. Em alemão, estas palavras estão talvez indelevelmente manchadas pela ideologia nazista. Há ainda outras questões, de contexto histórico. Certa vez, conversando com um amigo alemão, ele ficou furioso que eu defendesse um maior “isolacionismo” norte-americano. Não demorou para que eu percebesse que a escolha desta palavra tinha implicações completamente diferentes para ele, alemão, do que tinha para mim, brasileiro. Para um alemão, o isolacionismo havia significado a entrada tardia dos Estados Unidos na Segunda Guerra, e uma maior demora possível na derrota nazista. Portanto, uma ideia de “intervencionismo” americano, para um alemão, evoca majoritariamente aspectos políticos positivos. Significa a derrota de Hitler e traz à mente imagens como a da ponte aérea de alimentos que abasteceu a Berlim Ocidental durante o bloqueio soviético. Para um brasileiro ou latino-americano de onde ditaduras sangrentas haviam sido instaladas com a ajuda dos Estados Unidos, este intervencionismo tem praticamente apenas implicações negativas.
Estas preocupações são claras e constantes para escritores alemães. Há os que trabalham justamente nesta linha fina. Ler W.G. Sebald em alemão é muito diferente de o ler em qualquer outra tradução, por excelente que seja, porque este trabalho dentro da língua, o de implicações, só pode ser compreendido em alemão e por alemães. Em seu livro Jubeljahre, o jovem poeta berlinense Max Czollek voltou a uma ideia de desnazificação da língua em alguns dos poemas, trazendo especificamente algumas destas palavras manchadas, propositalmente, para o corpo do texto. Este é talvez um dos últimos estágios na apredizagem de uma língua: a de perceber estes meandros sutis. Requer um conhecimento amplo não apenas da História do país, mas dos textos e da linguagem que formam esta História. Há 14 anos em Berlim, apenas nos últimos anos estas sutilezas começaram a ficar mais claras para mim. A língua alemã segue sendo, por ora, um campo minado.
Os novos nomes da fotografia documental na Alemanha
 Saiu no início deste mês o terceiro número da revista alemã FOG – documentaries dispersed, tanto impressa como digital, que se dedica à jovem fotografia documental do país. A revista é dirigida pelos jovens fotógrafos Kevin Fuchs, Jakob Ganslmeier, Ulja Jäger, Sebastian Jehl, Roman Kutzowitz e Hannes Wiedemann, que publicam nela seus trabalhos e convidam os novos nomes da cena para cada edição.
Saiu no início deste mês o terceiro número da revista alemã FOG – documentaries dispersed, tanto impressa como digital, que se dedica à jovem fotografia documental do país. A revista é dirigida pelos jovens fotógrafos Kevin Fuchs, Jakob Ganslmeier, Ulja Jäger, Sebastian Jehl, Roman Kutzowitz e Hannes Wiedemann, que publicam nela seus trabalhos e convidam os novos nomes da cena para cada edição.
O terceiro número traz séries de Jakob Ganslmeier, Ivette Löcker, Hannes Wiedemann, Andrej Kolenčík, Yvette Marie Dostatni, Nigel Poor, Robin Hinsch, Ludwig Rauch, e Adelaide Ivánova, a fotógrafa e escritora brasileira radicada na Alemanha. Com um trabalho gráfico muito bonito, a revista é um primor em suas imagens e textos. Todo número traz uma impressão original da foto de capa que, no caso deste terceiro número, é de Adelaide Ivánova, da série dedicada à sua avó nonagenária vivendo no Recife.
A revista inova também em sua forma de financiamento. Foi um dos primeiros projetos artísticos que vi recorrer ao crowd funding com sucesso. Além disso, os editores têm sabido resolver os conflitos entre o trabalho editorial impresso e digital, recorrendo à estratégia de oferecer uma impressão muito bem cuidada, mas sempre acompanhada de um código de acesso ao conteúdo oferecido apenas em forma digital.
Este número traz desde uma série de Jakob Ganslmeier sobre as periferias de cidades da Polônia a uma série impressionante de Ludwig Rauch sobre a juventude neonazista nas periferias da Alemanha.
Jakob Ganslmeier, aos 26 anos, é um fotógrafo de grande talento para o documentário, e já havia chamado a atenção por sua série dedicada a soldados alemães sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático após servirem no Afeganistão.
Robin Hinsch, com sua série sobre a Ucrânia, é outro fotógrafo que já vinha chamando minha atenção. Na página da revista, é possível assistir a um vídeo de Andrej Kolenčík, permitindo que a revista dedique-se ao trabalho documental em vários formatos.
O trabalho de Adelaide Ivánova traz alguma luz às trevas documentadas pelos alemães. Conhecida já de revistas brasileiras e estrangeiras, com um trabalho excelente também como poeta, a recifense retrata o dia-a-dia de sua avó Adelaide, hoje com 94 anos, com uma graça e uma leveza líricas que nos lembram por que se deve lutar contra os cenários retratados pelos companheiros alemães da revista.
Muitos dos fotógrafos ligados a FOG são formados na escola da agência alemã Ostkreuz, talvez a mais importante agência de fotógrafos do país, reunindo profissionais como Marc Beckmann, Sibylle Bergemann, Jörg Brüggemann, Harald Hauswald, Ute Mahler e Werner Mahler, entre outros, de diversas gerações da fotografia alemã contemporânea.
Os editores dizem querer trabalhar na fronteira entre o conteúdo e a estética. É uma maneira interessante de aplicar o velho conflito entre forma e conteúdo. No trabalho fotográfico alemão, esta ânsia documental-artística pode ser vista desde os primórdios da fotografia alemã, com o grande August Sander, passando pelo casal Bernd & Hilla Becher, até chegar aos dias de hoje com nomes como Wolfgang Tillmans, Andreas Gursky e Heinz Peter Knes.
Acompanhar esta nova revista, me parece, nos dará boas dicas sobre quais nomes estarão fazendo a fotografia alemã brilhar na década que segue.
Carta a um contemporâneo do outro lado da trincheira
“Porque eu, meu filho, eu só tenho a fome. E esse modo instável
de pegar uma maçã no escuro, sem que ela caia.”
Clarice Lispector, A Maçã no Escuro (1951)
Meu querido amigo, espero que esta o encontre bem, assim como os seus. Quem dera nos víssemos com a mesma frequência que nossos contemporâneos se lançam a polêmicas. Mas as últimas me trouxeram de novo uma questão à mente, algo com o qual não consigo me acostumar, uma coisa estranha que afeta tanto o campo a que dizem que você pertence, a chamada direita, e aquele a que dizem que pertenço, a tal esquerda. Em primeiro lugar, a forma como cada campo sempre escolhe nivelar o outro por baixo, pelos piores exemplos, para facilitar sua vitória argumentativa, que talvez seja sempre pírrica.
Veja por exemplo estas homenagens que pipocaram na Rede pelos nove anos de morte de Bruno Tolentino, que estou certo as merece como qualquer outro intelectual brasileiro que tenha defendido aquilo em que acreditava to the best of his or her abilities. A maneira como o seu campo acusa algumas de nossas preocupações políticas no campo literário como sendo “extra-literárias”, não tendo nada a ver com poesia de fato e, no entanto, não consegue deixar de apelar sempre a valores morais para celebrar seus heróis. Li vários apelos ao “projeto civilizatório” de Tolentino, com elogios morais a sua pessoa, e asserções sobre sua obra sem muita análise literária. São os valores que o guiaram que parecem contar.
Estou certo que é muito possível que Bruno Tolentino venha ainda a ocupar seu espaço. Obviamente já o ocupa, se tantos o elogiam e o reivindicam como influência. Mas o que parece estar em jogo, como sempre, é uma questão de hegemonia ideológica. É claro que vocês jamais veriam desta forma, já que “ideologia” é a sempre a doença do campo adversário.
Nem Shakespeare nem Balzac impediram o projeto colonizador genocida da Grã-Bretanha e da França. É óbvio que seria uma estultícia esperar isso deles. Mas é o que estes clamores civilizatórios muitas vezes parecem implicar. Ah, se ao menos lêssemos mais Shakespeare e Balzac, seríamos então mais civilizados! Estes gritos “contra a barbárie contemporânea”. A barbárie sempre esteve entre nós, muitas vezes, talvez a maioria, liderada pelos bem-pensantes. Como nas páginas de Jean Améry, quando ele escreve:
“… uma pequena pressão da mão que controla o aparelho é suficiente para transformar a outra – junto com sua cabeça, na qual talvez estejam arquivados Kant e Hegel, e todas as nove sinfonias, e O Mundo como Vontade e Representação – num leitão guinchante no matadouro.”
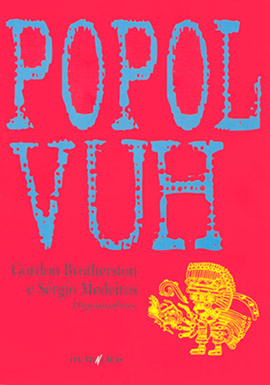 Se nosso projeto, sendo honestos, é “civilizatório” (ainda que Machado de Assis e Clarice Lispector, cada qual a sua maneira, já nos tenham alertado contra tal ilusão), não seria muito mais efetivo tentar, sem abrir mão de Shakespeare e Balzac, também uma abertura ao Outro, a outros projetos de civilização, dos poetas chineses da Dinastia Tang aos griots africanos, das cosmogonias ameríndias aos grandes poemas escondidos de nós em línguas não oficiais? E, se mencionamos os chineses, não nos significará um enriquecimento das possibilidades do minimalismo, conhecer tanto os haikais clássicos dos chineses quanto os landays anônimos das mulheres afegãs, uma tradição viva ainda hoje? Não só A Odisseia, mas também o Popol Vuh? Não apenas os grandes homens brancos, mas também as grandes mulheres brancas e negras? Homossexuais como Kaváfis, Villaurrutia e Pasolini, para quem a sexualidade era central em seus projetos líricos? Reconhecermos que nós mesmos vivemos em uma terra de culturas milenares, que tem muito mais línguas e tradições que apenas a lusófona? O que há de tão bárbaro nesta reivindicação?
Se nosso projeto, sendo honestos, é “civilizatório” (ainda que Machado de Assis e Clarice Lispector, cada qual a sua maneira, já nos tenham alertado contra tal ilusão), não seria muito mais efetivo tentar, sem abrir mão de Shakespeare e Balzac, também uma abertura ao Outro, a outros projetos de civilização, dos poetas chineses da Dinastia Tang aos griots africanos, das cosmogonias ameríndias aos grandes poemas escondidos de nós em línguas não oficiais? E, se mencionamos os chineses, não nos significará um enriquecimento das possibilidades do minimalismo, conhecer tanto os haikais clássicos dos chineses quanto os landays anônimos das mulheres afegãs, uma tradição viva ainda hoje? Não só A Odisseia, mas também o Popol Vuh? Não apenas os grandes homens brancos, mas também as grandes mulheres brancas e negras? Homossexuais como Kaváfis, Villaurrutia e Pasolini, para quem a sexualidade era central em seus projetos líricos? Reconhecermos que nós mesmos vivemos em uma terra de culturas milenares, que tem muito mais línguas e tradições que apenas a lusófona? O que há de tão bárbaro nesta reivindicação?
Por fim, nossa lealdade está com a poesia ou com o cânone? Até quando vão confundir os dois? E que fetiche é este por um Ocidente imaginário, que tem tanto sangue manchando as mãos, escondidas sob as luvas? Um Ocidente que causou tanta destruição em nossa própria terra? Já não deveríamos saber muito bem a que nos levou o projeto civilizatório do Ocidente?
A última coisa que quero nestes dias é me entregar a polemicazinhas de machos-alfa que não conseguem sair da rinha e do ringue, feito os velhinhos Ferreira Gullar e Augusto de Campos, constrangendo-se em público. Mas, ou somos todos um pouco mais honestos sobre a maneira como nossas ideologias e conflituosos projetos civilizatórios guiam nossas leituras e nossa escrita, ou essas discussões todas serão sempre tingidas de desonestidade.
E, pois bem, se minha recusa do projeto civilizatório tal qual vem sendo praticado no Ocidente pelos últimos 600 anos – digamos desde 1348, data da Grande Praga que dizem ter destruído a cultura trovadoresca–, não tenho o menor problema com que chamem o meu projeto e minha ideologia de anti-civilizatória.
Por fim, talvez desconexo disso tudo, mas nem tanto, me despeço de meu grande amigo, querido contemporâneo exato, por quem nutro a admiração que você por sua vez nutre por Bruno Tolentino, recomendando a você e aos seus a leitura de Os Anéis de Saturno, de W.G. Sebald, outro que nos alerta sobre nossas ilusões civilizatórias.
Com o abraço fraterno e leal, sabendo que poderei esconder-me em sua casa quando vier a Guerra Civil, tal qual Federico García Lorca escondeu-se na de Luis Rosales,
teu Ricardo.



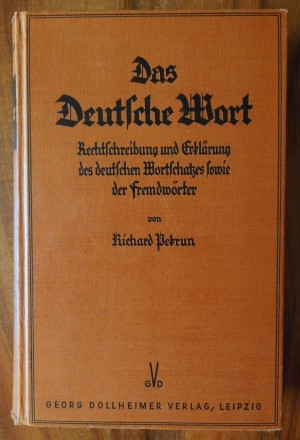




Feedback