Nota sobre “Sala de chuto”, de Rui Caeiro
Em Lisboa, há duas semanas, em uma leitura organizada pelo poeta Miguel Martins como o faz todas as quintas-feiras no excelente Teatro A Barraca, vi Alexandra Lucas Coelho conversando com um senhor que me parecia familiar e perguntei ao lendário Changuito, com quem tagarelava àquela altura: “quem é aquele senhor conversando com Alexandra?”
“Ora, é o Rui Caeiro.” Soube então que o reconheci por uma das raras fotos do autor, fornecida pelo próprio Changuito a mim em 2013, quando preparamos uma pequena amostra dos textos de Rui Caeiro para a revista que edito, Modo de Usar & Co. Caeiro é um destes excelentes escritores da língua portuguesa que evitam as ninharias do mundo literário. Nossa língua flui na escrita destes homens e mulheres, mas nossos centros de comunicação, tão frequentemente surdos e capengas, os escondem mais amiúde do que seria aconselhável para nossa saúde. Conversei com o autor por um tempo, o que foi uma honra e um prazer, dado ser ele o cavalheiro que é. Bom comprovar, a cada vez nova, como a mesquinharia é algo que vai de mão em mão com os medíocres. Os grandes que tive a honra de conhecer, até hoje, foram invariavelmente generosos. Ao fim da conversa, Rui Caeiro apertou em minhas mãos seu último livro, Sala de chuto (Lisboa: Edição do autor, 2015), com desenhos de Mariana Gomes.
 Na manhã seguinte, após um café com o poeta brasileiro radicado em Lisboa Ederval Fernandes, pus-me a ler o livro próximo à Torre de Belém. Com apenas 32 págins, lê-se-o de um jato, mas um jato de raio lúcido, tal a clareza de olhos abertos com que Rui Caeiro encara a experiência que gerou livro, sua passagem por sessões de quimioterapia para o tratamento de um câncer (ou cancro, no português-lusitano do livro). O primeiro estranhamento vem com o título, que só pude pesquisar mais tarde, ao começar este texto. “Salas de chuto” são locais para o consumo assistido ou salas de injeção assistida de drogas, que visam diminuir os riscos de doenças de contágio intravenoso, que começam a ser instaladas em alguns países da Europa, entre eles Portugal. “Chuto” é uma palavra pejorativa para o consumo ou vício em drogas injetáveis. Governos europeus, sabiamente tentando diminuir os riscos de contágio entre dependentes químicos, que sempre vêm a ser um peso para o sistema público de saúde, mas compreendendo que cidadãos fazem de seus corpos o que queiram, chegaram a esta possível solução. Imaginem, agora, o Congresso brasileiro (um dos piores de nossa História em direitos humanos) ouvindo sobre tal ideia.
Na manhã seguinte, após um café com o poeta brasileiro radicado em Lisboa Ederval Fernandes, pus-me a ler o livro próximo à Torre de Belém. Com apenas 32 págins, lê-se-o de um jato, mas um jato de raio lúcido, tal a clareza de olhos abertos com que Rui Caeiro encara a experiência que gerou livro, sua passagem por sessões de quimioterapia para o tratamento de um câncer (ou cancro, no português-lusitano do livro). O primeiro estranhamento vem com o título, que só pude pesquisar mais tarde, ao começar este texto. “Salas de chuto” são locais para o consumo assistido ou salas de injeção assistida de drogas, que visam diminuir os riscos de doenças de contágio intravenoso, que começam a ser instaladas em alguns países da Europa, entre eles Portugal. “Chuto” é uma palavra pejorativa para o consumo ou vício em drogas injetáveis. Governos europeus, sabiamente tentando diminuir os riscos de contágio entre dependentes químicos, que sempre vêm a ser um peso para o sistema público de saúde, mas compreendendo que cidadãos fazem de seus corpos o que queiram, chegaram a esta possível solução. Imaginem, agora, o Congresso brasileiro (um dos piores de nossa História em direitos humanos) ouvindo sobre tal ideia.
Ao descobrir o que eram salas de chuto, sorri com o sarcasmo de Rui Caeiro, ao descrever assim a sala onde recebia seu tratamento quimioterápico. Alguns dos nossos melhores escritores são mestres neste humor autodepreciativo, como Machado de Assis já no título de Dom Casmurro (1899) e Fernando Assis Pacheco em tantos de seus poemas, como em Variações em Sousa (1987). À página 7, Rui Caeiro escreve:
“Antes de entrar na sala convém, como é da praxe das boas maneiras, preparar a forma de saudação. Talvez a dos antigos gladiadores, antes da actuação na arena:
— Avé César, avé todo poderoso, ou
Avé ó czar de todas as Rússias, ou
Avé diretores, responsáveis superiores, enfermeiras, técnicos subalternos,
Aquele que vai morrer saúda-vos!”
(Rui Caeiro, Sala de chuto, p. 7)
O pequeno grande livro tem todo este tom, esta clareza, esta lucidez que sempre é um ato de coragem. Há a passagem em que o autor vê/pensa ver um rato, o momento em que contempla os rostos dos seus colegas-gladiadores, doentes como ele, suas expressões de tristeza, onde “acende-se quiçá uma lembrança, um trejeito, um sorriso de dor.” Mas, o que não há no livro é pena, dó. O tom é o de uma depuração completa à pobreza de nossos corpos, nós, organismos.
“Querias um humanismo para o nosso tempo, não era? Well, you came to the right place. Um humanismo para o nosso tempo. Quem não queria? O humanismo da burocratice, do caga e tosse, do faz de conta. O da indiferença e o da impiedade. Sobretudo este. Here you are. Vieste ao sítio certo.”
(Rui Caeiro, Sala de chuto, p. 27)
Rui Caeiro nasceu em Vila Viçosa, no dia 27 de junho de 1943. Vive em Oeiras. Estreou com o volume Deus, sobre o magno problema da existência de Deus (1988), e ainda publicou, entre outros, Sobre a nossa morte bem muito obrigado (1989), Livro de Afectos (1992) e O Quarto Azul e outros poemas (2011). Traduziu obras de Rainer Maria Rilke, Robert Desnos, Nâzim Hikmet, Ramón Gómez de la Serna e Roger Martin du Gard. Nas palavras de Changuito, Caeiro “usa o silêncio como generosa estratégia. Estudou direito. Tem filhos, netos, amigos. Gosta de ler e de comer. Dorme cedo. Leu tudo. É um sábio.”
Como leitor e admirador de Rui Caeiro, espero que sua luta lúcida na sala de chuto tenha sido completamente vitoriosa, e que tenhamos sempre mais palavras saídas de sua cabeça clara.
“Pois morre-se de muita coisa, de muita coisa
se morre, morre-se por tudo e por nada
morre-se sempre muito
Por exemplo, de frio e desalento
um pouco todos os dias
mas de calor também se morre
e de esperança outro tanto
e é assim: como a esperança nunca morre
morre a gente de ter que esperar
Morre-se enfim de tudo um pouco
De olhar as nuvens no céu a passar
ou os pássaros a voar, não há mais remédio
ó amigos, tem que se morrer
Até de respirar se morre e tanto
tão mais ainda que de cancro
De amar bem e amar mal
de amar e não amar, morre-se
De abrir e fechar, a janela ou os olhos
tão simples afinal, morre-se
Também de concluir o poema
este ou qualquer outro, tanto faz
ou de o deixar em meio, o resultado
é o mesmo: morre-se
Data-se e assina-se – ou nem isso
Sobrevive-se – ou nem tanto
Morre-se – sempre
Muito”
O horror em todas as sociedades: o assassinato do pequeno Mohamed
 Aos que vêm profetizando o apocalipse e a violência que refugiados possam trazer à sociedade alemã, esta semana nós mais uma vez recebemos as notícias da violência e do horror que a própria sociedade alemã, como qualquer outra sociedade ocidental, pode significar para os refugiados que chegam. O menino bósnio Mohamed, de 4 anos, que fora sequestrado do prédio da Agência para Registro de Refugiados (LaGeSo) no bairro berlinense de Moabit, foi encontrado morto no porta-malas de um homem alemão de 32 anos, em uma pequena cidade do estado de Brandemburgo. Não há indícios de motivação xenófoba por parte do acusado, que confessou ter abusado sexualmente do menino, e, para horror geral, confessou também esta manhã (30/10), segundo a imprensa alemã, ser responsável pelo sequestro do menino Elias, de 6 anos, desaparecido há seis meses. Elias também está morto.
Aos que vêm profetizando o apocalipse e a violência que refugiados possam trazer à sociedade alemã, esta semana nós mais uma vez recebemos as notícias da violência e do horror que a própria sociedade alemã, como qualquer outra sociedade ocidental, pode significar para os refugiados que chegam. O menino bósnio Mohamed, de 4 anos, que fora sequestrado do prédio da Agência para Registro de Refugiados (LaGeSo) no bairro berlinense de Moabit, foi encontrado morto no porta-malas de um homem alemão de 32 anos, em uma pequena cidade do estado de Brandemburgo. Não há indícios de motivação xenófoba por parte do acusado, que confessou ter abusado sexualmente do menino, e, para horror geral, confessou também esta manhã (30/10), segundo a imprensa alemã, ser responsável pelo sequestro do menino Elias, de 6 anos, desaparecido há seis meses. Elias também está morto.
Mohamed. Elias. Dois meninos com nomes de profetas. Dois nomes que nos ligam à tradição tríplice abraâmica. Mohamed, profeta do Islã. Elias, profeta da tradição judaica e do Velho Testamento cristão. Dois meninos como outros, que encontraram um fim terrível em meio a nossas sociedades ocidentais doentes, violentas. Não pude deixar de pensar em tudo isso, após ter lido tantos comentários racistas e islamofóbicos nos últimos tempos, mesmo aqui, entre leitores da DW Brasil.
Sobre este homem que matou os meninos, estou certo de que dirão que não se pode generalizar. Não se pode culpar toda uma sociedade pelo crime de um único louco. De qualquer forma, ainda não foi divulgado seu nome, seu histórico, e sua… etnia, o que certamente acabará sendo usado de alguma forma pela imprensa. Como seria justo que um leitor deste texto diga que eu próprio o estou usando.
Talvez, tudo o que eu queira dizer é que o horror está entre nós, seja qual for a sociedade. Pessoalmente, não compreendo como leitores brasileiros reagem a notícias sobre a política externa alemã. Pessoas de um país como o Brasil, também formado pela unificação de diversas tribos, de estados que já pertenceram a outros países, assim como regiões que um dia foram parte da Alemanha hoje estão dentro das fronteiras da Polônia e da República Tcheca.
Quanto ao pavor pela islamização do Ocidente, já escrevi que em outros momentos da História esta islamização teve efeitos verdadeiramente civilizatórios para a cultura europeia, referindo-me especificamente ao al-Andalus, quando a cultura grega, por exemplo, foi devolvida à Europa nas mãos de tradutores árabes e judeus. Deles recebemos tanto em ciência, na matemática, além do seu arcabouço literário que infelizmente ainda não tomamos como nosso.
Devo dizer que sou tão a favor da islamização do Ocidente quanto o sou de sua cristianização. Ao ver o que fanáticos cristãos vêm fazendo no Congresso Nacional, como este nojento projeto de lei, o PL 5069, vejo o que o fanatismo religioso tem causado à esquerda e à direita, a Leste e Oeste.
Impressões e expressões em Portugal
“Fixe.”
O que foi que ela disse? “Vixe”? O que foi que eu fiz de errado? Não, esperem, não é assim que eu pretendia começar este texto. Era assim: “O piloto anunciou que já estávamos sobrevoando Portugal.” Sim, era assim.
O piloto anunciou que já estávamos sobrevoando Portugal. Tirei do bornal sob o assento da frente o livro de Herberto Helder. O corpo o luxo a obra. Uma edição brasileira, seleção de seus poemas, na qual está o longo poema que dá título à antologia, que diz: “Quando / as veias dos mortos fazem um nó furioso / com as minhas veias, / a voz / costura-se com as linhas de sangue / da sua fala.” No avião, tudo era falado em português, então em inglês, por fim, em alemão. As três línguas que uso diariamente. Ou que me usam?
Começa a descida, o piloto pede a todos que afivelem os cintos, ergam a mesa, desliguem os aparelhos eletrônicos. Passo a ler aquele poema-mantra de Helder, “Deito-me, levanto-me, penso que é enorme cantar.” O sol sobre Lisboa, aquela luz que chega a cegar quem vem já do outono em Berlim, onde o céu nublado permanecerá cinza até meados de março. Quando o avião levantou voo na capital alemã, entramos nas nuvens que cobrem a cidade, o avião chacoalha, a tensão do clima, e logo ultrapassa as nuvens e vê-se o azul ainda lá, cobrindo Berlim, escondido. Mas, em Lisboa, o sol, a luz sem esconderijos. A língua que chega: “As casas são fabulosas, quando digo: / casas. São fabulosas / as mulheres, se comovido digo: as mulheres”, e me pergunto se todos percebem a importância do dizer comovido.
Que experiência, esse estranhar e esse reconhecer ao mesmo tempo. Portugal, Brasil. Estar em um país estrangeiro e falar sua língua. Nós, lusófonos, separados pelo mar, por terra, sem jamais fazer fronteira com outro território lusófono. Que bonito estar em um país homolíngue. Inventei a palavra? Não tenho certeza. Homolíngue, de mesma fala. Heterolíngue, de fala diferente.
No aeroporto, pergunto a uma portuguesa onde fica a área para fumantes. Ela não entende, e pergunta como quem corrige: “O sítio para fumadores?” Sim, o sítio para fumadores. Na tabacaria, falam comigo em inglês e digo como quem corrige: “Podem falar português comigo.” Minha editora portuguesa, Helena Vieira da Mariposa Azual, espera para me pegar, com sua filha Beatriz Nunes, cantora do Madredeus desde 2011. É uma alegria estar aqui. Seguimos para Loures, onde vive, e lá como o feijão e o lombinho de porco. Estranho, reconheço.
Seguimos mais tarde para Lisboa, até o Chiado. Passamos por livrarias independentes, deixamos cópias do meu livro Medir com as próprias mãos a febre, que acaba de ser editado aqui. Chiado, com as estátuas de Luís de Camões e Fernando Pessoa marcando ao menos dois dos pontos cardeais. Esses cafés! Esses pastéis de nata! Esses homens lindos nas ruas! É fixe. Fixe? Ora, o que é fixe? É o que vocês chamam de “legal”, de “maneiro”, diz-me Helena. De “mara”, atualizo-a. É fixe. É mara. É giro? E “giro” tem concordância? Sim, diz-se “giro”, “gira”.
Às sete da noite, seguimos para o Bar Irreal, na Rua do Poço dos Negros. Há leitura do poeta António Poppe. Mas chamar de leitura o que fez não faz jus ao que fez. É outra visão da poesia, xamânica, ele fala, fala, entrelaça sem pausa os poemas na fala, repete versos, guia-nos a algo. Ao quê? A algo real.
Lá, conheço pessoalmente a poeta Margarida Vale de Gato. E Catarina Santiago Costa. E Marta Raquel Fonseca. Lá, reencontro Alexandra Lucas Coelho, minha amiga, uma das prosadoras da língua que mais admiro hoje. Ela lerá na apresentação do meu livro. Logo, ela me pega pela mão e diz: “Vem cá, quero te apresentar alguém.” Era Olga, a viúva de Herberto Helder, ali na leitura de António Poppe. Beijo sua mão, sento-me, começamos a conversar sobre Brasil, Portugal e Angola, de onde ela vem. Da admiração de Helder por poetas brasileiros, da resistência, por vezes, de editores portugueses em publicar brasileiros. Falamos das novelas, das canções. De tudo o que nos une.
Ao fim, sigo com Helena Vieira e Leonel Guerreiro, mais a artista Marta Bernardes, a comer açorda e polvo, ambos à alentejana. Marta e eu conversamos longamente sobre o candomblé, sobre a influência do iorubá e o bantu sobre o português brasileiro. Falo sobre o perspectivismo ameríndio. Ficamos admirando a beleza da palavra “azeitona”, e eu falo do meu poema “Tolo de ouro”, que começou por causa do meu amor por azeitona, a coisa e a palavra: “Açoitem-me com azeitonas, moços”.
Um brinde!
— A Brasil e Portugal…
— Não! Não, espere… a ALGUNS brasileiros…
— Tchim, tchim!
— ALGUNS portugueses…
— Tchim, tchim!
— ALGUNS angolanos…
— Tchim, tchim!
— ALGUNS moçambicanos…
— Tchim, tchim!
— ALGUNS cabo-verdianos…
— Tchim, tchim!
Na manhã seguinte, falamos sobre Fernando Pessoa e seu slogan para a Coca-Cola, “Primeiro, estranha-se, depois, entranha-se”, que levou a bebida a ser proibida em Portugal até 1974. Falamos de Salazar. Falamos de Vargas. Ouvimos canções de José Afonso, como seu “Os eunucos”, e tenho calafrios com os versos “E quando os mais são feitos em torresmos / Não matam os tiranos, pedem mais”, e dizemos “É Portugal e é o Brasil, hoje.”
Logo mais, conto com Miguel Martins a apresentar meu livro, e os amigos Alexandra Lucas Coelho, Matilde Campilho e Ederval Fernandes lendo meus poemas no lançamento. Conheço o jovem poeta sonoro português Daniel Monteiro, que encerra a noite com uma performance.
Pronto para encerrar o texto, ouço Helena Vieira (sobrenome auspicioso para as relações Brasil-Portugal) dizer ao telefone, “O Chiado é o mundo”, e murmuro sozinho: “O sertão também.”
A morte de Ustra
Ao chegar ontem a Hamburgo, onde faria uma leitura no ótimo Golem, logo à frente do mercado de peixes da velha cidade portuária da Hansa Teutônica, às margens do Elba, soube da morte do Coronel Brilhante Ustra no Brasil. Estou na cidade a convite de Tomás Cohen (Chile) e Hugh James (Nova Zelândia), escritores do coletivo Found in Translation, que busca unir as cenas literárias alemã e estrangeira no país. Devia preparar-me para a leitura, mas só consegui pensar em Ustra. Seu corpo morto em um hospital de Brasília. Pelas redes sociais, pipocava a indignação por ter morrido sem jamais ter sido punido por suas atividades durante a ditadura civil-militar que se instaurou após o golpe de 1964. Morto, impune. Essas palavras se repetiam na minha cabeça. Seria logo enterrado, provavelmente, com honras militares, e sua família poderia velá-lo, como é seu direito, e saberia onde é o túmulo, para levar flores e enlutar-se de forma legítima. Eu, no entanto, não me segurei, e soltei também o meu “Descanse em pus, Ustra” pelas redes sociais.
Coronel reformado do Exército Brasileiro, Ustra foi chefe do DOI-CODI entre 1970 e 1974, responsável por aquilo que chamamos eufemisticamente (o Brasil é o país dos diminutivos e eufemismos) de “um dos órgãos da repressão política”. O homem era conhecido no submundo das torturas e execuções pelo codinome Dr. Tibiriçá. Em 2008, foi o  primeiro a ser a reconhecido, pela Justiça, como responsável por torturas durante a ditadura. Mas, de acordo com a Lei de Anistia de 1979, feita para cobrir os rastros de sangue da ditadura e proteger seus carrascos e açougueiros, nada pôde ser feito. Seguiu por seus últimos anos ativo nos clubes militares, na defesa da ditadura militar e nas sandices psicóticas de seus terrores particulares, anticomunistas.
primeiro a ser a reconhecido, pela Justiça, como responsável por torturas durante a ditadura. Mas, de acordo com a Lei de Anistia de 1979, feita para cobrir os rastros de sangue da ditadura e proteger seus carrascos e açougueiros, nada pôde ser feito. Seguiu por seus últimos anos ativo nos clubes militares, na defesa da ditadura militar e nas sandices psicóticas de seus terrores particulares, anticomunistas.
Pretendia subir ao palco do Golem e ler alguns poemas de desamor. Afinal, no trem de Berlim a Hamburgo, pensava em como retornava à cidade 10 anos depois daquele romance desastroso que me trouxera a ela pela primeira vez, em 2005. Foi aqui que recebi a notícia do primeiro derrame que vitimou meu pai. Tenho uma relação estranha com esta cidade. Queria que esta fosse uma viagem de alegrias. E era uma alegria má, mórbida, vindo do que há de pior em meu ser, a que eu sentia ao pensar em Ustra morto. Era aquilo algum tipo de punição? Após uma vida farta de desserviços à nação, cercado de seus entes, aos 83 anos? “Cumpriu sua missão”, diria um interiorano, como eu. E que direito eu tinha, nascido em 1977 na casa e das coxas de um homem que apoiou Paulo Maluf toda a sua vida, de sentir qualquer desejo de vingança?
Mudei minha leitura, falando antes sobre a morte de Ustra para minha plateia majoritariamente alemã, explicando a eles quem fora, o que foi a chamada “repressão política”, sobre os desaparecidos. Li então meu poema “Deixem-me recitar o que a História ensina” (dica: NADA), meu poema dedicado a Ísis Dias de Oliveira, uma das desaparecidas, e terminei com meu vídeo-poema “Entrañas de las Soledades”, com composição sonora de Uli Buder, uma paisagem pós-apocalíptica com vocabulário tirado das “Soledades” de Góngora. Ao acordar hoje, sentia um gosto amargo na boca. Aquela alegria má não me levou a qualquer prazer, qualquer local pacífico.
A leitura foi, como disse, num local chamado Golem. Na tradição mística do judaísmo, o “golem” é um ser artificial mítico, trazido à vida através de um processo mágico, usando o nome secreto de Javé. Trata-se do homem brincando de Deus, imitando a criação de Adão. Falei acima sobre as contradições políticas da Lei de Anistia, que permitiram que Brilhante Ustra morresse impune. Nos últimos dias, Vanessa Barbara escreveu em sua coluna para o Estado de S. Paulo [“Coxinhas vs. Petralhas”, O Estado de S. Paulo, 12.10.15] sobre a radicalização do ódio dualista na política e vida pública nacionais, com direitistas e esquerdistas (ou oposição e situação sempre intercambiáveis) em guerra aberta, pedindo as cabeças uns dos outros. Por sua vez, Bernardo Carvalho escreveu sobre um café tomado com um editor de direita (Carvalho, mais sensato que eu fora no passado, não cita nomes para não bater palma pra louco), na qual a conversa logo descambou para insultos, tomado por raiva justificada perante a burrice alheia [“Encontro com um editor de direita”, Blog do IMS, 14.10.15].
O que o golem, a Lei de Anistia, a morte de Ustra e meu poema a Ísis Dias de Oliveira fazem nesse embolado, não para inglês ver, mas para brasileiro fingir que não vê? O editor de direita gritou na cara de Bernardo Carvalho que a presidente fora uma terrorista. Quando publiquei a poema a Ísis Dias de Oliveira, alguém chegou a comentar que ela havia recebido o que se recebe ao pegar em armas, e que também era uma terrorista. A discussão em torno da Lei de Anistia traz problemas éticos e políticos difíceis, coisa para juristas e filósofos do Direito, não para um poeta de alegrias más.
O que sinto é que ainda vivemos sob os impactos da última quebra da democracia e do Estado de Direito, da violência generalizada que a ditadura uma vez mais abriu feito cratera no país, onde a pena de morte não está prevista na Constituição, mas existe, quando direitos previstos na Constituição são desrespeitados, no país formado em meio a genocídio, que se tornara independente, mas com escravos, que tinha uma Assembleia Geral, mas com escravos, que se tornou República, de cidadãos que deveriam ter direitos iguais, mas segue matando negros, índios, homossexuais, onde dissidentes políticos foram desaparecidos, onde para se defender da quebra da democracia, quebra feita com armas, gente pegou também em armas, onde vivemos num ciclo inquebrável de violência uns contra os outros, uma guerra civil de atrito, onde a cada temporada nasce um golem.
A violência generalizada que a ditadura militar instalou no país, de crimes de tantos lados em nome de ideologias, manchou-nos a todos de sangue – ao menos os “sortudos” que não foram mortos, e deveríamos temer e salvar-nos de qualquer possível nova quebra desta democracia, e é medo o que sinto ao ver o país mergulhando nestes discursos dualistas tolos, mas perigosos, como se nada tivéssemos aprendido desde 1964. Ou deveria dizer 1822? Cuidado com o golem. Ustra está morto. Descanse em pus, Dr. Tibiriçá. Que gosto amargo, amargo.
Svetlana Alexievitch deu voz aos sobreviventes de catástrofes do século 20
Acaba de ser anunciado em Estocolmo o Prêmio Nobel de Literatura de 2015: a prosadora e jornalista Svetlana Alexievitch. Nascida na então União Soviética na cidade de Stanislav, hoje Ivano-Frankivsk, na Ucrânia, a escritora e jornalista tem passaporte bielorrusso. Há algum tempo meu amigo Emanuel John, um jovem filósofo alemão, vinha recomendando o trabalho dela para mim, elogiando sua “prosa poética, lacônica, e política, totalmente propícia para nosso tempo”. Ele a considera um dos grandes autores de nosso tempo. Graças a ele, pude ler apenas páginas do livro As Últimas Testemunhas: Crianças na Segunda Guerra Mundial, com relatos de sobreviventes infantis entre os escombros. É leitura perturbadora.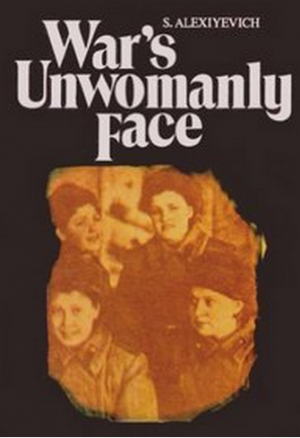
Seu livro mais conhecido talvez seja A Face Nada Feminina da Guerra, de 1985, mais uma vez voltando-se para aqueles que sofrem com os grandes acontecimentos da História, ainda que distantes de palácios e trincheiras. O livro salva as vozes das mulheres em meio à Segunda Guerra Mundial. Não creio jamais ter ouvido falar de uma tradução sua para o português. Mesmo a edição americana de A Face Nada Feminina da Guerra está esgotada e passou a custar uma fortuna imediatamente após o anúncio do prêmio.
Destinado a autores que tiveram não apenas um impacto literário, mas político, segundo as próprias palavras arrependidas de Alfred Nobel, milionário da pólvora, o prêmio catapulta para os holofotes uma escritora que trata a literatura como testemunho, dando vozes para os mortos e para os sobreviventes impotentes.
Premiar um autor do antigo círculo soviético tem seu valor político neste momento. Ainda que a censura seja proibida em Belarus (Bielorrússia), há uma lei que prevê cinco anos de detenção a quem insulte o presidente. Criticar o país no estrangeiro pode levar a dois anos de cadeia.
Enquanto isso, a região segue em verdadeiro pé de guerra. Nascida em uma cidade importante da Ucrânia hoje, com nacionalidade bielorrussa e escrevendo em russo, a autora trará por alguns dias a atenção mundial uma vez mais para uma crise que se desenrola perante nossos olhos, enquanto tragédias ao sul ocupam a política europeia.
Voltarei hoje ao volume As Últimas Testemunhas: Crianças na Segunda Guerra Mundial, em alemão, e aguardarei a reedição anglófona de A Face Nada Feminina da Guerra, com uma esperança tênue de que o Brasil também receba a escrita da autora.








Feedback